|
Trabalho e pesquisa de
Carlos Leite Ribeiro
Concelhos de: Abrantes,
Alcanena, Almeirim,
Alpiarça, Benavente,
Cartaxo, Chamusca,
Constância, Coruche,
Entroncamento, Ferreira
do Zêzere, Golegã,
Mação, Ourém, Rio Maior,
Salvaterra de Magos,
Sardoal, Tomar,
Torres Novas, Vila Nova
da Barquinha.
Distrito, na maioria
formando o núcleo da
província tradicional do
Ribatejo, mas incluindo
também concelhos
pertencentes à Beira Baixa e
à Beira Litoral. Limita a
norte com o Distrito de
Leiria e com o Distrito de
Castelo Branco, a leste com
o Distrito de Portalegre, a
sul com o Distrito de Évora
e com o Distrito de Setúbal
e a oeste com o Distrito de
Lisboa e com o Distrito de
Leiria. Área: 6747 km².
Capital e Sede de distrito:
Santarém.
Apontamento do ano de 1900
(Jornal do Comércio):
“O distrito de Santarém é
formado de uma parte da
antiga província da
Estremadura, tem uma
superfície de 6.619,40 Km2 e
uma população de 283.154
habitantes. Compreende 18
concelhos e 138 freguesias.
Povoações mais importantes:
Santarém, Tomar, Abrantes,
Golegã e Torres Novas. O
distrito é quase plano, com
excepção da parte limítrofe
com o distrito de Leiria,
onde está a Serra dos
Candeeiros (485 metros) e a
Serra de Aire. É banhado
pelo rio Tejo, que atravessa
uma vasta região plana,
chamada Ribatejo, de vastas
lezírias e pastagens, e
pelos seus afluentes: Ocresa,
Zêzere, Almonda; Alviela
(margem direita), Sorraia e
Almançor (margem esquerda),
etc. Pastagens, touros (na
lezíria), vinhas (Salvaterra
de Magos), etc.
Santarém – (Capital e
Concelho do Distrito de
Santarém)
Apontamento do ano de
1900 tirado do Jornal do
Comércio:
“Santarém é capital de
distrito e cabeça de
concelho. Fica situada na
margem direita do rio Tejo e
tem 8.705 habitantes. É
servida pelo Caminho de
Ferro Real. Tem museu
arqueológico na histórica
igreja de Alporão, perto da
Torre das Cabaças. Estão
ligadas a esta cidade
interessantes lendas
populares. Na igreja da
Graça encontram-se os restos
mortais do grande navegador
Pedro Álvares Cabral. O
concelho tem 27 freguesias e
41.95o habitantes.”
Existem várias hipóteses
para a origem do nome
SANTARÉM, como:
“Foi em tempos remotíssimos
uma povoação que se chamou
ESCA-ABIDIS, nome
transformado por corrupção
em Escalábis e Scalábis.
Conta-se que esta primitiva
designação provém de uma
lenda que remonta à guerra
de Tróia e segundo a qual um
filho de lendário herói
grego, Ulisses e da ninfa
Calipso, chamado Abdis ou
Abidis, foi abandonado e
veio para às margens do
Tejo, onde encontrou
alimentação e mais tarde
fundou o povoado, a que
chamou “Esca-Abidis” (esca,
em latim, é alimento; a raiz
abd, em hebraico quer dizer
servo ou servidor). Depois,
durante o domínio romano,
passou a denominar-se
“Praesidium Julium (nome
dado por Caio Júlio César) e
“Scalabicastrum” (Scalábis
Castrum), voltando-se a
chamar-se simplesmente
Scalábis, quando tomada pelo
conde visigodo Sunierico, no
ano de 460.”
“No reino do visigótico do
católico Recesvindo, no
meado do século Vll, a
povoação, de que aqui
tratamos, tomou o nome de
Sanct’Hirennia, latinização
do nome grego, que significa
a paz, correspondente às
formas arcaicas Herena,
Eirea, Eirea, Eyrea e às
modernas Iria e Irene.”
“Sanct’Hirennia, nome dado
pelo Cristianismo,
evolucionou sucessivamente e
transformou-se em Santarém
através de várias formas
intermédias, documentadas em
textos literários antigos,
como sejam, por exemplo,
Sanctaeiren (século X),
Sancta Herena (século Xl,
Sanctaren (século Xll), e
Sanctarem (século XVl), que
precedeu imediatamente a
forma actual, cujo
significado etimológico é,
portanto, simplesmente Santa
Iria.”
“Santarém é o estado actual
do nome cristão Sancta
Hirennia , virgem mártir
cuja lenda é muito
conhecida. Essa lenda foi
belamente contada por
Garrett nas “Viagens na
Minha Terra”. Quem quiser
deleitar como o assunto leia
as formosas páginas da obra
garretiana, onde se relatam
as paixões que causou essa
“donzela nobre, natural da
antiga Nabância e freira no
convento beneditino e de
quem se enamoraram um jovem
e um monge, os quais nada
conseguiram da pureza da
santa, que resistiu a tudo,
“forte na sua virtude”, como
diz Garrett. A forma latina
Herennia vive hoje ainda nos
nomes Irene e Iria, e assim
o nome de Santarém
corresponde a santa Irene ou
Santa Iria, a virtuosa
freira que deu o nome à
terra.”
Qual destas hipóteses está
certa ?... ninguém ainda
sabe.
O imponente perfil
monumental da velha
Praesidium Julium dos
Romanos coroa a abrupta e
verdejante colina
alcantilada sobre o rio
Tejo, que lhe corre
fronteiro, com uma cinta de
muralhas de belo recorte,
pinaculada pelas torrelas
das antigas igrejas e pela
invulgar torre quinhentista
do Cabeceiro.
Não obstante só em 1868 lhe
ter concedido o foro de
cidade, Santarém ocupou
sempre um lugar cimeiro na
vida urbana do Ocidente
Peninsular, desde os tempos
“antediluvianos” até à
macrofalia de Lisboa. Como
uma das primeiras urbes da
Península Ibérica, a sua
história está
indissolluvelmente
articulada com a dos povos
que percorreram o tempo no
espaço ibérico. A sua
situação geostratégica, os
encantos paisagísticos e o
conjunto monumental
justificaram, pois, o refrão
que o militar silesiano
Erick Lassota Steblovo, ao
serviço de Filipe ll (1º de
Espanha), registou no seu
diário: “Vila por vila,
Valladoid en Castilla e Sant’Arein
en Portugal.
Na sua descoberta andaram
peregrinos medievais,
santos, bruxos como Frei
Gil, humanistas da
Renascença como Cataldo
Parísio Siculo, aristocratas
como Cosme de Médicis,
pintores, militares,
engenheiros, os “Garretts”
das “Viagens da Minha
Terra”, Herculano com a sua
corte, Fialho, arqueólogos,
curiosos e investigadores.
Por escavações realizadas no
nosso tempo, avelha lenda do
rei Abidis - narrada por
contadores de histórias do
século XVll – não deixa de
ganhar algum sentido, pois,
os artefactos encontrados
revelam ocupação humana
desde os finais do
Neolítico.
Conquistada pelos Romanos, a
velha cividade dos Tórdulos
chamar-se-á por muitos anos
Scallabis, até ao raiar da
conquista muçulmana, e será
nó viário e sede de um
convento jurídico.
Foi durante o período
muçulmano que caiu em desuso
o topónimo romano e em sua
substituição se impôs o de
Sant’Arein, cuja origem se
prende ao culto de Santa
Iria.
O bairro popular e
ribeirinho da Ribeira de
Santarém, onde o culto se
desenvolveu, veio depois a
determinar o actual topónimo
da cidade, afirmando-se
sobre a zona estratégica e
aristocrática de Alcáçova –
Marvila. Quando o cruzado
britânnico Osberno relatou a
conquista de Lisboa em 1147,
usavam-se ainda,
curiosamente, os dois
topónimos, mas a força do
novo vocábulo impôs-se
rapidamente. O padrão que à
santa as Alta Idade Média
foi levantado no tempo de D.
Dinis, na ribeira dos
Barcos, junto ao rio Tejo, e
posteriormente restaurado e
resguardado por cobertura
metálica (século XVll e
1755), é um importante
elemento da vida quotidiana
dos habitantes. Durante as
periódicas cheias, o padrão
serve de nilómetro
indicativo da altura das
águas e condiciona o
comportamento das
populações.
Bubtraída ao Garbe
(ocidente) do Al-Andaluz
numa empresa arriscada do
nosso primeiro rei D. Afonso
Henriques, e integrada
toscamente no Estado que se
talhava, definem-se-lhe os
apoios sociais e o tipo de
urbe militar, condicionantes
necessários à prossecução da
conquista para o Sul.
O foral de 1179 é a sua
primeira carta de alforria e
o seu primeiro “código” de
posturas.
A expansão urbana, o
desenvolvimento agrícola com
a ocupação de novas áreas de
policultura, o crescimento
da monocultura da vinha e da
oliveira e o surto comercial
determinado pela via
fluvial, definiram o lugar
que Santarém ocupou tanto na
área regional como na vida
do País e na própria
história de Portugal.
A tomada de Santarém aos
mouros:
Muito antes de fundada a
nossa Nacionalidade, foi a
terra que a partir do ano
653 da nossa era se chamou
Santarém, possuída por
diversos povos. Pelo ano de
1147 achava-se em poder dos
mouros (ocupantes do Norte
de África) e era considerada
uma das mais importantes
povoações de toda a
Lusitânia, defendida por
altas e poderosas muralhas.
D. Afonso Henriques
cobiçava-a, e um dia, em
Coimbra, revelou os seus
projectos de conquista a
alguns fidalgos da sua
Corte, que logo contrariaram
quanto puderam a aspiração
do rei, alegando, entre
outras razões, que Santarém
era praça forte de mais para
se deixar vencer por um
pequeno número de soldados.
D. Afonso Henriques pareceu
esquecer-se de tal empresa
mas, porque os mouros de
Santarém não cessavam de
assaltar terras portuguesas,
o rei quis vingar tais
afrontas, e, a pretexto de
celebrar pazes com os
mouros, mandou a Santarém o
fidalgo Mem Ramires,
secretamente encarregado de
escolher o melhor local para
um futuro assalto à
importante terra mourisca.
Mem Ramires desempenhou-se,
como um leal fidalgo, da
missão que lhe havia sido
confiada; e, pouco tempo
depois, contava ao rei tudo
o que vira, e punha tais
facilidades na guerreira
empresa que não teve dúvida
em prometer que seria ele o
primeiro a arvorar sobre os
muros da praça a real
bandeira portuguesa.
Foi então que D. Afonso
Henriques se decidiu à
conquista. Sem dar conta a
ninguém dos seus planos,
partiu de Coimbra com os
seus homens de armas, sem
aparato, a uma
segunda-feira, 3 de Maio de
1147, e, seguindo sempre
pelos caminhos menos
concorridos, chegaram a
quinze quilómetros para o
Norte da terra apetecida.
Foi aí que o primeiro rei de
Portugal, possuído do maior
entusiasmo contou aos que o
acompanhavam o propósito em
que estava de, no dia
seguinte, ir a Santarém.
Alguns fidalgos lembraram
então ao rei a conveniência
de não se expor aos perigos
dos combates, mas, D. Afonso
Henriques, como resposta,
foi-lhes dizendo que a
conquista se faria ou ele
não sairia vivo da batalha.
Dispôs-se tudo para o
assalto: construíram-se doze
escadas de madeira e
combinou-se que por elas
subiriam 120 soldados,
naquela memorável noite de
Sábado, dia 8 de Maio de
1147.
Aproximaram-se os
portugueses das muralhas, no
alto das quais duas
sentinelas mouras se
encontravam vigilantes.
Esconderam-se os portugueses
no meio de uma seara de
trigo, à espera de que
adormecessem as sentinelas,
e, de madrugada, Mem Ramires
trepou ao telhado da casa de
um oleiro, encontrada à
muralha e tentou subir por
uma escada, mas esta caiu
com estrondo e as sentinelas
acordaram.
Mem Ramires não desistiu, e,
ajudado por um soldado,
conseguiu subir. A sentinela
perguntou quem estava ali, e
ele respondeu, em língua
moura, que era dos homens
que andavam rondando ...
Daí a pouco a sentinela era
morta e a sua cabeça atirada
para fora da muralha por Mem
Ramires. A outra sentinela
dava o alarme e, sem demora,
dez soldados cristãos
travavam renhida luta com os
mouros. Entretanto outros
iam subindo, enquanto Mem
Ramires corria, com cinco
companheiros, a despedaçar
as portas, com um maço de
ferro que de fora lhe
atiraram. O rei e as tropas
que ainda não tinha podido
trepar pelas escadas,
entraram, de roldão, na
praça e a carnificina foi
terrível.
Horas depois, Santarém
estava tomada, para não mais
voltar à posse dos mouros,
não obstante a diligência
que, para o conseguir,
empregaram por mais de uma
vez, dispondo de muitas
tropas.
Da secular vila real
subsistem inúmeros vestígios
de um passado esplendoroso,
que escapam, imunes ou
obliterados, de terramotos e
incêndios, vendas ao
desbarato e delapidações.
Díspares embora, os trechos
arquitectónicos que se
vislumbram nas estreitas e
históricas ruas,
estruturalmente intactas, os
pórticos e janelas
brasonados, os solares e
paços que albergaram a
grande nobreza do Reino, os
muros de alvenaria, os
museus e as igrejas formam
um belo conjunto
documentando um
notabilíssimo espólio
artístico, dificilmente
igualável pelo de qualquer
outra cidade portuguesa.
O ciclo arquitectónico dos
séculos Xlll a XV
representado, justifica bem
o título de “capital do
gótico”, dado por Virgílio
Correia à antiga vila,
mansão de veraneio senhorial
após a conquista.
Nos séculos Xlll a XlV, a
sua estrutura estava
praticamente constituída e a
sua área de crescimento
urbano realizada. Do século
XlV a 1856-1968 o ritmo
temporal foi lento. A vila
realenga teve altos e
baixos, mas manteve, para
além das oscilações
populacionais e económicas,
uma área de expansão
limitada a uma densidade
populacional que rondava
pelos 10 mil a 12 mil
habitantes.
Estudos mais ou menos
recentes revelam que
Santarém não só foi uma das
principais sedes da corte,
como, inclusive,
temporariamente, no reinado
de D. Afonso lV, a cabeça do
Reino.
A residência real, que numa
primeira fase esteve na
Alcáçova, numa área que
abrange o prédio urbano dos
herdeiros de Passos Manuel,
a igreja da Alcáçova e parte
do Jardim das Portas do Sol,
veio situar-se no Castelo e
Paço da Alcáçova Nova, à
Porta de Leiria, sobre o
qual se construiu no século
XVll o imponente edifício do
Seminário. Deste paço restam
ainda a torre e cerca do
castelo, algumas frestas,
duas portas góticas e a
abóbada do refeitório dos
Jesuítas.
Também sobre o ponto de
vista religioso, a cidade de
Santarém tem nas suas pedras
o registo dos militares e
história dos conventos.
Grande parte das suas
lendas: Santíssimo Milagre –
S. Fr. Gil - Meninos de
Alfange - Cristo de Monte
Iraz , impregnadas de
religiosidade popular e
romanesca, foram obra da
imaginação medieval e fonte
de peregrinações.
Catorze casas conventuais
foram o resultado de sete
séculos de história, e ainda
hoje se nota, no urbanismo
de Santarém, a força da sua
implantação. Muitos desses
conventos: Santa Clara, São
Francisco, São Domingos, e
Sítio, constituíram uma
coroa de protecção à volta
do núcleo urbano na zona de
Fora da Vila.
O conjunto urbano no espaço,
delimitado à área
medieval-renascentista, é o
que propriamente se chama
centro histórico e que
funciona como museu aberto.
Quanto à forma da sua
disposição no espaço,
importa escrever algumas
linhas para i iniciação do
forasteiro. Para se conhecer
Santarém, é necessário não
se ficar pelo Largo do
Seminário, nem pelo Central,
nem pelas Portas do Sol. Em
Santarém domina a
diversidade e é na diferença
urbana e paisagista que se
descobre a raiz da sua
especialidade e sua
personalidade.
Em dois níveis geográficos
distintos, cinco são os
núcleos que importa
ressaltar na sua estrutura.
A Alcáçova, outrora em monte
separado do planalto de
Alporão-Marvila, foi reduto
defensivo mais importante.
Completamente amuralhado
durante séculos, foi também
um bairro urbano até ao
século XlX. Aí fez D. Afonso
Henriques erguer, em 1154,
provavelmente sobre as
ruínas de uma mesquita, a
Igreja de Santa Maria da
Alcáçova. A certidão de
nascimento lá está ainda
sobre o alpendre da porta
principal. Hoje, uma avenida
ladeada de olaias estabelece
a ligação entre a Alcáçova e
Marvila, conduzindo-nos para
um jardim oitocentista - o
Parque das Portas do Sol, a
qual, comunicava com o
arrebalde do Alfange, é hoje
uma varanda sobre o rio Tejo
e, elemento decorativo de um
jardim que é pólo de
atracção turística.
Marvila era a vila
propriamente dita, rodeada
da sua cerca, com as suas
portas e seus postigos. Da
cerca pouco resta, mas o
tecido urbano foi marcado
pela existência de portas,
pois elas determinaram o
sentido das vias de acesso,
mais rápido, ao recinto
amuralhado.
À medida que a Alcáçova
decaiu como centro de
Santarém, tornou-se
imponente o centro de
Marvila, com a sua matriz, a
Igreja de Nossa Senhora de
Marvila, e sede do poder
municipal, com o pelourinho
(cujos restos se encontram
no Museu de São João de
Alporão) e a curiosa Torre
das Cabaças, ou do relógio.
A expansão urbana que se
processou durante o século
XlX e princípios do XX foi
derrubando as portas e os
muros da cerca e abrindo a
cidade ao planalto.
A zona extramuros de Fora da
Vila, com o seu Rossio, foi
uma primitiva zona de
expansão da vila.
Os primeiros habitantes
foram os frades e as freiras
franciscanos e dominicanos,
os nobres e alguns
feirantes. No século XlX,
edifícios novos vão pautar
esta área.
No século XX, a intrincada
rede rodoviária, o mercado
municipal e a deslocação da
sede da Câmara para o
Palácio do Provedor da
Lezíria (do século XVlll)
explicam que o eixo da
cidade também se tivesse
deslocado. Novas avenidas e
alamedas foram-se
construindo. Mas,
estendendo-se
espreguiçadamente no cimo do
planalto, esgotam-se neste
momento as hipóteses de
crescimento da cidade na
área de Fora da Vila, depois
de um período em que a
extinção das ordens
religiosas permitiu arranjar
alguns terrenos para dar
vazão ao crescimento
demográfico.
Quanto à parte ribeirinha,
que tem o Tejo como
elemento, o monte da
Alcáçova, no seu sopé,
divide-a em duas áreas
distintas: A norte fica a
Ribeira, a sul o Alfange.
Na Ribeira, a toponímia é um
sinal vivo das velhas
funções comerciais e
industriais deste porto
fluvial do Médio Tejo;
Ribeira dos Barcos, Travessa
da Portagem, Porta do Pão,
Rua do Sal, Rua do Mel,
Travessa da Saboaria;
Travessa da Estalagem,
Alcaçarias e Palhaes. O
Caminho de Ferro que chegou
a estas paragens entre 1861
e ano seguinte, veio a
transformar-se num poderoso
concorrente do comércio
fluvial e a deslocar o
centro comercial para a zona
de Marvila. O Alfange foi
outrora um pequeno porto de
pesca fluvial. A abundância
de espécies piscícolas
permitiu alimentar famílias
de pescadores. Hoje, com o
assoreamento e a poluição do
rio Tejo, apenas aparece a
fataça (tainha) e de vez em
quando o sável, logo vendido
no mercado diário.
Para o Alfange desce-se por
uma calçada íngreme num vale
apertado, mas evocador de um
mundo medieval que
desapareceu do outro lado da
cidade. A povoação é pobre e
pequena, mas revela a sua
antiguidade na obside
pré-romântica das ruínas da
Igreja de São João
Evangelista.
Santarém só se compreende se
a pensarmos com o seu
“hinterland” agrícola e o
Tejo como centro de
comunicação, via comercial e
centro piscatório.
Alguns monumentos de
Santarém:
IGREJA DA GRAÇA: Local de
peregrinação de quase todos
os brasileiros que visitam
Portugal, pois, nesta igreja
encontram-se os restos
mortais do grande navegador
português, Pedro Álvares
Cabral. Pertenceu ao
extinto Convento dos Ermitas
Calçados de Santo Agostinho
(Gracianos). O pórtico é
formado por quatro
arquivoltas de arcos
quebrados, de cairéis, sobre
colunas capitelizadas de
motivos vegetalistas, e
termina num majestoso
acogulhado do tipo conopial,
ou de quarena, inscrito na
painel de pedraria bordada,
onde em linhas de arcaturas
trilobadas, se releva o
escudo liso do fundador.
Remata o conjunto, ao alto,
um friso de motivos florais,
interrompido ao centro pelo
gomo terminal do arco de
querena.
O interior, restaurado em
1951, é de três amplas
naves, separada por doze
colunas capitelizadas, donde
irrompem arcos ogivais,
vendo-se num dos capitéis,
seguro por anjos relevados,
o escudo liso dos doadores.
A capela-mor e as absidíolas
são cobertas por uma abóbada
de nervuras firmada, num dos
fechos, pelo escudo do
fundador. A meio do
pavimento da capela-mor,
fica o epitáfio de Pedro
Álvares Cabral.
TORRE DAS CABAÇAS (ou
Torre do Relógio):
Construção quinhentista,
erigida talvez no
aproveitamento de uma antiga
torre afonsina. É um alto
edifício de 22metros de
altura e traça quadrada,
coroada por uma armação de
ferro para a colocação de
oito vasilhas de barro
(cabaças) que lhe deram o
nome. Num dos parapeitos
encontra-se o antigo relógio
de sol, de pedra lavrada,
desprovido de mostrador.
Paço Régio: Conservam-se
alguns troços, como a
cozinha, do tipo
quinhentista, com abobadado
de fechos e chaminé apoiada
em colunata renascença, o
refeitório, o que subsiste
do recinto claustral, de
arcaria em ogiva, e o pátio
dito de Recreio. Neste
último conservam-se duas
janelas de arcaturas, com
colunelos nas ombreiras,
donde, segundo a tradição,
D. Pedro l terá assistido ao
suplício de dois dos
assassinos de D. Inês de
Cartro (noutro trabalho
vamos falar nestes dois
grandes amorosos que
repousam no Mosteiro de
Alcobaça).
PONTE DE ALCORCE:
Construção trecentista de
alvenaria, ostenta um escudo
medieval. Trata-se de um
brasão decorado com as cinco
quinas, semeadas de crivos
(21 besantes) e rodeado por
30 castelos (Raiz do brasão
de Portugal).
MURALHAS: Do velho bastião
amuralhado da secular
Chantirein, ampliado durante
o reinado de D. Fernando,
mais ou menos em 1382,
subsistem poucos troços.
Podem observar-se o recinto
junto às Portas do Sol, com
três torreões merlados, que
se prolonga sobranceiro ao
vale do Alfange, na Ribeira,
ainda ornado de uma guarita
seiscentista que uma errada
tradição considerou
mourisca; os laços de
muralha nas proximidades da
Porta da Traição, no monte
sobranceiro à Fonte das
Figueiras; troços da cerca
da Escola Primária de
Marvila, no Bairro do
Pereiro e fronteira ao
Templo dos Gracianos –
parcos e dispersos vestígios
que dão uma pálida ideia do
que foi o maciço cordão
acastelado que envolvia a
vila. Das portas que se
abriam na cintura de
muralhas: Sant’Lago, Sol,
Alcáçova, Leiria, São
Marços, Alporão e Valada,
apenas restam troços das
duas primeiras. Sob as
Portas do Sol foram
descobertas duas
extremidades de incisivos
inferiores de um possível
mastodonte do período
pliocénio.
OUTROS MONUMENTOS: Igreja de
Maravila - Igreja do
Convento de São Francisco
- Igreja de Santa Clara –
Capela de Nossa Senhora do
Monte – Igreja de Santa Cruz
– Igreja do Hospital de
Jesus Cristo – Igreja de São
Nicolau - Capela de São
Pedro – Igreja de Nossa
Senhora da Piedade –
Seminário Patriarcal –
Igreja de Santa Iria –
Igreja da Misericórdia –
Capela da Ordem Terceira de
São Francisco – Capela do
Cemitério – Capela da Quinta
de Nossa Senhora da saúde –
Convento Dominicano das
Donas – Convento das
Capuchas – Torre da
Trindade; Hospital de Santa
Iria – Chafariz de Palhais.
MEMÓRIA DE SANTA IRIA:
Mergulhada no Tejo, é
resguardada por uma
cobertura metálica, na qual
se insere uma escultura
antiga da santa. Este pilar
de pedraria comemora o local
onde, segundo a tradição,
veio repousar o sarcófago
contendo o corpo martirizado
da Santa Irene, ou Santa
Iria .
Santarém
http://www.cm-santarem.pt
"Santarém é um livro de
pedra em que a mais
interessante e mais poética
parte das nossas crónicas
está escrita". Almeida
Garrett
A fundação da cidade de
Santarém reporta à mitologia
greco-romana e cristã,
reconhecendo-se nos nomes de
Habis e de Irene, as suas
origens míticas. Os
primeiros vestígios
documentados da ocupação
humana remontam ao século
VIII a.C.. A população do
povoado teria colaborado com
os colonizadores romanos,
quando estes aportaram à
cidade em 138 a. C. e a
designaram como Scallabis.
Durante este período
tornou-se no principal
entreposto comercial do
médio Tejo e num dos mais
importantes centros
administrativos da província
Lusitânia.
Nos quatro séculos de
ocupação islâmica que se
seguiram, a urbe viu
renascer o seu papel
estratégico-militar, mas,
também, cultural e
artístico, tendo aqui vivido
alguns dos mais importantes
poetas e trovadores do mundo
árabe. O Rei Afonso VI de
Leão concedeu-lhe o seu
primeiro foral em 1095.
Reconquistada, em 1147, por
D. Afonso Henriques, este
concedeu-lhe novo foral em
1179.
Durante os séculos XIV e XV
o ambiente palaciano que
aqui se vivia emprestou-lhe
uma notoriedade cultural
relevante, nela se
concentrando importantes
trovadores e jograis, alguns
naturais de Santarém. O
Terramoto de 1755 destruiu
grande parte do património
mais notável da Vila, em
particular igrejas e
conventos. No contexto das
Invasões Francesas e da
Guerra Peninsular, mais uma
vez, Santarém assumiu um
papel estratégico-militar
fundamental, mas viu grande
parte do seu património mais
significativo ser destruído
e saqueado pelo vandalismo
dos ocupantes.
À semelhança de outras
cidades amuralhadas, o
Centro Histórico de Santarém
é constituído por uma teia
de ruas estreitas e
sinuosas. Ruas que
apresentam linhas e cores
inesperadas, becos, arcos,
calçadas e escadinhas que se
adaptam ao ondulado do
planalto e da encosta.
Percorrendo a cidade,
pórticos e rosáceas,
arcarias e frestas,
elementos decorativos de
traço ogival, janelas
manuelinas,
cunhais da renascença,
escudetes afonsinos, torres
e cúpulas, revelam-nos um
núcleo urbano em que o civil
e o religioso convivem e se
entrelaçam. Os inúmeros e
valiosos exemplares da arte
gótica conferiram-lhe o
epíteto de “Capital do
Gótico”. Aqui, jamais o
arqueólogo, historiador,
artista ou simples passante,
deixará de se sentir
arrebatado.
Nesta "Acrópole Ribatejana",
a Porta do Sol, com o seu
jardim e miradouro, é
ex-libris. Para Sul ficam o
Tejo e os campos férteis da
Lezíria, marcada por
extensos vinhedos em traços
de geometria aperfeiçoada,
enquanto para Norte, já no
Bairro, são os olivais que
preenchem a paisagem.
Olivais que bordam, na Azóia
de Baixo, a casa bem
preservada onde viveu o
historiador e romancista
Alexandre Herculano, aqui
conhecido como "O
Azeiteiro". Continuando a
subir, até aos limites do
concelho, depara-se-nos o
manto florestal, prenúncio
da paisagem carsa. É o
domínio dos grandes maciços
calcários do Parque Natural
da Serra de Aire e
Candeeiros, dos algares, das
grutas e dos pequenos
recantos que deslumbram quem
por aqui se aventura.
Santarém e Descobridores
http://www.visitportugal.com/NR
Esta cidade de inspiração
gótica foi o descanso de uma
grande figura dos
Descobrimentos, Pedro
Álvares Cabral.
O comandante da armada que
chegou a Terras de Vera
Cruz, que hoje conhecemos
por Brasil, viveu durante
muitos anos em Santarém.
Mesmo ao lado da Igreja da
Graça, onde está o seu
túmulo, visita-se a antiga
residência, hoje
transformada num espaço
cultural luso-brasileiro que
faz justiça à sua memória, a
Casa Brasil.
Santarém integrou as terras
da Ordem de Cristo, que
apoiou financeiramente as
Descobertas. Por isso a
cidade desenvolveu-se muito
na época e enriqueceu os
seus monumentos. Situada num
planalto de onde se
contempla a planície fértil,
onde passa o Tejo, é no
entanto mais conhecida
actualmente pela
agricultura, pela criação de
gado e pela arte
tauromáquica.
Comece a visita da cidade no
miradouro das Portas do Sol.
Vai fazer uma autêntica
viagem pela evolução do
estilo gótico, mais austero
e simples no Convento de
Santa Clara, Manuelino na
Igreja de Santa Maria de
Marvila e Flamejante na
Igreja da Graça. No Torre do
Relógio, do séc. XIV, repare
nas cabaças que estão no
alto. Fique a saber que
quando foi construída a
acharam tão deselegante que
as elegeram como símbolo das
cabeças ocas que a
projectaram. O objectivo
real é ajudar a propagar o
som dos sinos que dava as
horas, claro. Actualmente é
um museu dedicado ao Tempo
que vale a pena visitar.
Abrantes – (Concelho do
Distrito de Santarém)

ABRANTES
Apontamento do ano de 1900
do Jornal do Comércio:
“Vila (hoje cidade) do
concelho e distrito de
Santarém, com 7.200
habitantes. È servida por
caminho de ferro da
Companhia Real. Está situada
na margem direita do rio
Tejo. Belíssimo panorama,
fortificações antigas e
túmulos do século XVl. Entre
1810 e seguinte foi cenário
de batalhas contra Massena,
general dos exércitos de
Napoleão. O concelho tem 14
freguesias com um total de
27.450 habitantes”.
A cidade de Abrantes ocupa
uma elevação que domina o
vale do rio Tejo e se situa
no pontode encontro entre
três regiões naturais
(Ribatejo, Beira Baixa e
Alentejo). Abrantes é uma
localidade de origem muito
antiga e que se desenvolveu
em função de sua importância
estratégica e dos meios de
comunicação que a serviam
(rio Tejo, estradas e,
posteriormente, caminhos de
ferro. A parte antiga
conserva alguns edifícios
dignos de nota, como a
chamada Casa dos Almadas,
que serviu de Paço Real, a
Casa da Câmara e outras de
tipo diferente.
Origem do nome:
“Abrantes foi tomada aos
mouros pelo primeiro rei de
Portugal, D. Afonso
Henriques, na madrugada de 8
de Dezembro de 1148. Sobre a
etimologia da origem do
nome, variam vários autores,
do qual apresentamos um, o
Dr. Januário de Mendonça
(1953)”:
“Uns escritores e estudiosos
dizem que se teria chamado
Hablad-antes, nome que
tiveram a princípio em uma
contenda havida em Cortes
entre os procuradores de
Abrantes e Torres Novas,
sobre a prioridade,
afirmando estes que deveriam
votar primeiro, ao que
El-Rei dissera aos de
Abrantes. Habland-antes,
palavras que os moradores
tomaram para o nome de sua
terra e, assim,
eternizarem-se as suas
regalias, e que com
corrupção do tempo se mudou
em Abrantes.
Outros, e entre eles o Bispo
D. Frei João da Piedade,
natural de Abrantes, nos
seus apontamentos diz o
seguinte: “Abrantes, minha
pátria, a quem os antigos
chamavam TUBUCCI, disputa
primazias de antiguidade com
as terras que mais prosápia
têm de nobreza vetusta, por
ser fundada pelos galos
celtas 590 anos antes do
nascimento de Jesus Cristo.
O seu castelo foi
conquistado aos mouros por
D. Afonso Henriques, na
madrugada de 8 de Dezembro
de 1148. Era alcaide do
Castelo um velho mouro
chamado Abraham Zaid. Este
mouro ers senhor de quase
todas as veigas da Ribeira
de Abrancalha, que
antigamente se chamava de
Nossa Senhora da Luz, em
razão da ermida que ali há e
que traria os seus
fundamentos do tempo dos
godos, que os mouros
consentiram aos Cristãos
para ali fazerem as suas
orações, e que estes, pelo
facto de o mouro ser o
senhor daqueles campos e
para captarem a sua simpatia
e afeição, começaram a
chamar Ribeira de Abraham
Zaid, que, com o decorrer
dos tempos se converteu em
Abrançalha.
Abraham tinha uma filha
gentil, chamada Zahara, e um
filho bastardo chamado
Samuel, havida de uma cristã
cativa em Soure (concelho de
Coimbra), em 1118.
“Nunca Abraham descobriu
este facto a Samuel nem a
Zahara, ignorando aquele que
era seu filho. Samuel amava
extremosamente sua irmã e
ela correspondia-lhe
apaixonadamente, sem que
Abraham conhecesse aquela
afeição. Tomado o castelo
pelos soldados de D. Afonso
Henriques, Samuel ficou
prisioneiro de um cavaleiro
de apelido Machado, que
devia ser parente de Mem
Moniz de Gandarei. E vendo o
cavaleiro que um dos
soldados cristãos levava
Zahara arrebatadamente,
deixou Samuel entregue a
boas vigias e foi
socorre-la, salvando-a, indo
entregá-la à guarda dum
venerável monge de São
Bento, do Mosteiro do Lorvão
(perto de Coimbra), que
vinha acompanhado de El-Rei.
O cavaleiro Machado,
fascinado pela beleza de
Zahara, que tinha as feições
muito parecidas com uma
figura da Virgem Senhora dos
Aflitos, que sua mãe lhe
havia dado à hora da morte,
e que ele com muita devoção
trazia sempre, havendo já
por vezes sonhado que ao
escalar os muros dum
castelo, salvaria uma
donzela com quem casaria,
julgou ver Zahara a virgem
dos seus sonhos. 8Esta
tradição tem passado de pais
a filhos por mais de quatro
séculos e meio, e, entre os
moradores de Abrantes).
Querendo El-Rei remunerar os
serviços de seu filho
bastardo D. Pedro Afonso,
ou, como outros querem, seu
irmãos, deu-lhe o senhorio
do castelo, nomeando-o seu
alcaide-mor, mas ficando o
cavaleiro Machado a exercer
o cargo em nome de D. Pedro,
deixando também El-Rei o
monge de São Bento para o
serviço espiritual dos
fiéis.
D. Afonso Henriques mandou
restituir Zahara a seu pai,
e depois de tomar
providências para segurança
do castelo marchou para
Torres Novas. O cavaleiro
Machado, vendo-se alcaide do
castelo procurou ganhar
honrosamente o coração de
Zahara, mas esta que amava
muito Samuel, receosa de
algum conflito, foi contar
ao pai a paixão do alcaide,
o mesmo fazendo ao monge.
Este, que já estava ao facto
de tudo, assegurou a um e a
outro que o alcaide era um
nobre cavaleiro, incapaz de
esquecer os preceitos da
honra.
O monge empregou os seus
melhores esforços para a
todos conciliar, não
conseguindo abafar os ciúmes
de Samuel, e um dia, quando
o monge, o mouro Abraham e
Zahara convenciam Samuel e
reconciliar-se com Machado,
julgando ela que Samuel
estava certa da sua
fidelidade, perguntou ao pai
se o alcaide viesse
procurá-la, não estando ele
em casa, o deveria receber
ou conservar a porta
fechada, para ele julgar não
estar ninguém em casa.
Abraham que julgou ver nesta
consulta uma ofensa à pessoa
do alcaide Machado,
respondeu :” Nada temo nem
receio da tua virtude,
Zahara, e tenho bastante
confiança na honradez do
alcaide: “abre antes a
porta”.
Samuel ouvindo estas
palavras da boca de Abraham,
perdeu o juízo e, como louco
furioso, começou por toda a
parte a desacreditar o velho
mouro e sua filha, gritando
sempre “Abre-antes ---
Abre-antes”...”. Esta
palavras desfiguradas pelo
vulgo agravaram também a
pessoa do alcaide Machado, e
dali em diante ao castelo de
Tubucci começaram a chamar o
Castelo de Abrantes.
A mãe de Samuel, antes de
cativa, tinha prometida em
casamento ao monge de
Lorvão, que no mundo tinha o
nome de João Gonçalves e era
irmão de Gonçalo Gonçalves,
a quem D. Teresa concedera
em 1125 a vila de Soure
(perto de Coimbra). João
Gonçalves quando perdeu a
noiva abraçou a regra de São
Bento e, sabendo que Samuel
era filho da mulher que
tanto havia amado, tudo
tentou para o salvar,
conseguindo que Abraham e
Zahara se fizessem cristãos
e Samuel entrasse ao serviço
do rei de Portugal, casando
Zahara com Machado. Este
acontecimento
tradicionalmente se acredita
como dando origem ao nome de
Abrantes”. (A lenda de
Abrantes – Dr. José de Melo
Sousa).
Castelo de Abrantes: Do
conjunto, que abrange toda a
área antiga da cidade e
incluía obras complementares
de defesa, conservam-se,
embora profundamente
alterados em relação às suas
características iniciais, o
núcleo de dois fortes e
troços das muralhas. À zona
mais alta e mais facilmente
defensável da cidade
corresponde o núcleo mais
antigo, que deve ter sido
ocupado desde período muito
remoto, embora
indeterminável. O castelo,
onde foram encontrados
materiais pré-históricos e
romanos, sofreu
reconstruções e modificações
profundas ao longo dos
séculos XVll ao XlX, em
consequência de lutas ali
travadas e da necessidade de
adaptação da fortaleza à
evolução das tácticas de
guerra. A Igreja de Santa
Maria e restos de muralha
que correm nas suas
traseiras são hoje os
testemunhos visíveis mais
antigos, visto que a própria
torre de menagem foi
profundamente alterada. A
desocupação militar que
possuía instalações no
castelo permitiu o início de
grandes obras de recuperação
e reintegração, já puseram à
vista elementos do maior
interesse. Entre as
numerosas obras fortificadas
da Praça de Abrantes
contavam-se os Fortes de
Santo André e de São Pedro,
ambos para a defesa do lado
sul e dos acessos ao rio
Tejo, que ainda se
conservam. No interior do
primeiro foi construído um
estabelecimento assistencial
e no segundo uma memória, da
autoria do escultor Lagoa
Henriques e do arquitecto
Castel-Branco, alusiva ao
condestável D. Nuno Álvares
Pereira, que, segundo a
tradição, no local teria
acampado em vésperas da
célebre Batalha de
Aljubarrota (14-8-1385).
Remontando ao período da
romanização, ou até a épocas
anteriores, a antiguidade da
fortaleza de Abrantes é
facilmente entendida, pela
privilegiada situação
geográfica da cidade, que
fica sobranceira ao rio Tejo
e é ponto de convergência e
ligação entre vários
caminhos. A conquista de
Abrantes esteve inserida
numa estratégia de defesa e
povoamento da margem norte
do Tejo, cuja linha
defensiva era mantida por
três principais pilares –
Lisboa, Santarém e Abrantes.
Pensa-se que a povoação terá
sido conquistada em 130
antes de Cristo pelo Cônsul
romano Décio Juno Bruto que
aí instalou a fortificação.
Porém, a história do então
Castelo de Abrantes só
passaria a estar ligada a
Portugal, muitos séculos
volvidos, quando D. Afonso
Henriques o conquistou, em
Dezembro de 1148. Vinte e um
anos mais tarde, o mesmo
monarca conferiu-lhe carta
de foral, estimulando o
repovoamento local. E D.
Afonso lll conferiu à
fortificação grandes
melhoramentos militares, que
só seriam concluídos pelo
seu sucessor (e filho) D.
Dinis. Este rei viria mesmo
a incluir o Castelo de
Abrantes nos dotes do seu
casamento com a princesa de
Aragão, D. Isabel, mais
tarde a Rainha Santa Isabel.
Fruto das suas magníficas
condições, a fortificação de
Abrantes tanto foi pousada
de monarcas e familiares,
como foi palco de grandes
lutas da História de
Portugal. Durante a dinastia
filipina (denominação
espanhola), porém, os tempos
foram de desolação para este
Castelo. Votado ao abandono,
acabou por cair num estado
de degradação. Deixara de
ter tanto interesse
estratégico, dado haverem
diminuído as ameaças de
possíveis invasões oriundas
de leste. Mas o panorama
acabaria por mudar. Em
finais do século XVll, D.
Pedro, confrontado com a
hipótese de novas tentativas
de invasão, remodelou o
Castelo com avultadas obras
de estilo Abaluardo, então
em voga, e adaptou as
muralhas às necessidades da
artilharia, instalando
terraços e canhoeiras. Ao
mesmo tempo, este rei
fomentou a revitalização de
Abrantes e deu-lhe o título
de praça de guerra de 1ª
classe.
A praça voltaria a entrar na
história quando, durante a
terceira invasão das tropas
napoleónicas, o marechal
Massena martirizou a então
vila, enquanto ali se
abrigou à espera de
reforços.
Hoje, ao recordar a história
de Abrantes, lá continua a
fortaleza. Do primitivo
castelo medieval pouco
resta, além da torre de
menagem, já que os panos de
muralha dessa época foram
totalmente removidos no
século XVll. O seu aspecto
actual é o de um polígono
irregular, cujos lanços de
muralhas são limitados por
baluartes de planta
semicircular, onde se rasgam
as conhoeiras, os janelões e
os torreões cilíndricos. Lá
dentro ainda resiste o paço
dos marqueses de Abrantes e
algumas relíquias
arquitectónicas, como a
cadeia de arcos assentes em
maciços pilares e as
abóbadas de tijoleira. Cá
fora, é o grande espectáculo
da lezíria que continua a
surpreender, que abrange um
horizonte de 80 Km.
Importante local de passagem
entre o Ribatejo, a Beira
Baixa e o Alentejo, essa
ligação fez-se a vau, por
uma ponte romana, por barcas
de passagem e pontes de
barcas, e finalmente por
pontes metálicas. Ainda hoje
é visível na margem esquerda
um conjunto monumental de
pilares considerados como
fazendo parte da ponte-cais
romana que terá existido no
local.
A cidade orgulha-se dos seus
pergaminhos históricos.
Fortificada por D. Afonso
lll e D. Dinis, a quem se
deve a torre de menagem, viu
o seu território alargado
pelas doações de diversos
reis. No antigo Paço Real
viveram por largo tempo, D.
João ll e D. Manuel l e aí
nasceram alguns príncipes
reais. Em 1641, a vila foi
agraciada com o título de
“notável” por ter sido a
primeira a proclamar a
independência e a reconhecer
D. João lV como seu rei e
senhor.
Importante foi também o
papel desempenhado durante
as Invasões Francesas, já
que a fortaleza era
considerada a chave de
defesa das Beiras. Invadida
por Junot e pelo seu
exército em Novembro de
1807, foi então ocupada e
saqueada. Das suas riquezas
artísticas, acumuladas ao
longo dos séculos por
dádivas de reis, infantes,
condes e pelos Marqueses de
Abrantes e outros nobre, só
escapou o que alguns
particulares conseguiram
esconder em engenhosos
abrigos. Mas em 12 de
Agosto de 1810 travou-se nas
proximidades da povoação uma
batalha em que os franceses
foram derrotados pelo
exército anglo-luso. Mais
tarde, desde 9 de Outubro
desse ano até 7 de Março de
1811, a vila defendeu-se
corajosamente contra o cerco
das tropas de Massena, que
acabaram por retirar.
A vila, que até final do
século XVlll pouco se
desenvolvera, começou então
a expandir-se e a ganhar
importância económica.
Tivera quatro conventos,
dois de frades (Santo
António e São Domingos) e
dois de freiras (Nossa
Senhora da Graça e da
Esperança), que pouca
influência exerceram no seu
desenvolvimento.
O Marquês de Pombal procurou
reanimar a vila
incrementando a cultura da
seda, como fez em muitas
outras povoações. Das 39.357
amoreiras importadas da
Alemanha, enviou cerca de
3.000 ao Município de
Abrantes, que as distribuiu
pelos proprietários do
concelho. Como sequência,
desenvolveu-se uma
riquíssima produção de seda
que aumentou
consideravelmente o comércio
da povoação, reiniciando uma
fase do crescimento, mais
sensível sobretudo a partir
do início do século XlX.
Renova-se o comércio fluvial
e a função de Abrantes como
entreposto terminal.
Nessa época surgiu na
margem esquerda um pequeno
conjunto de casas. Era um
bom local, já que o rio Tejo
descrevendo uma larga curva,
corre rápido na margem norte
e lento na margem sul. Aí,
em qualquer época do ano,
podiam os barcos encontrar
abrigo. Como o sítio era
plano, o desembarque dos
produtos tornava-se rápido e
fácil. Pelos mesmos motivos,
instalaram-se no local
diversos pescadores. A
construção de estrada
acentuou a importância
estratégica do Rossio ao sul
do Tejo, cuja única
desvantagem era a ausência
de protecção contra as
cheias.
Com a construção do caminho
(estrada de) ferro em 1863,
o comércio grossista voltou
a estar centrado na margem
norte. Novo aglomerado
começou a surgir junto à
Estação de Alferrarede
(velha), que cresceu
rapidamente, pois havia
muito espaço e proliferaram
os armazéns e mais tarde as
indústrias.
O nascimento do Rossio ao
sul do rio Tejo e depois de
Alferrarede, representa duas
fases fundamentais do
desenvolvimento de Abrantes,
que ganhou assim dois pólos
de expansão interligados,
pois quando a cidade começou
a deslocar-se para as vias
de transporte o povoamento
passou a apoiar-se nessas
vias, constituindo o Rossio
a grande plataforma para o
Alentejo e Alfarrede para a
Beira. A cidade alta
manteve-se como centro
administrativo e cultural. O
facto de esta ter estado
rodeada de instalações
militares impediu a sua
expansão pelas vertentes, e
as restrições camarárias em
promover a urbanização na
encosta sul, logo que ela se
tornou possível, explicam em
parte a expansão para a zona
norte, mais húmida e
sombria.
Em 1891, resolveu-se um
grave problema com a
inauguração de água potável
a Abrantes, que, em 1916 se
viu elevada à categoria de
cidade.
Provar os doces regionais,
principalmente a “palha de
Abrantes” um doce feito de
ovos e abóbora gila, é quase
uma obrigação (uma docinha
obrigação).
Das várias edificações
existentes no Castelo só uma
resistiu às modificações,
ampliações e refortificações
sucessivas: a Igreja de
Santa Maria, que em 1921 foi
transformada em Museu
regional e no qual são de
salientar, entre muitos
valores artísticos, os
azulejos hispano-árabes e os
túmulos e estatuária dos
séculos XV e XVl. No
Castelo, o Jardim de São
Pedro, com o coreto, lagos e
cisnes, é o recanto
romântico por excelência, e
não deve perder-se a
magnífica paisagem que se
admira da torre de menagem
(80 Km de lezíria) e do
Miradouro da Porta da
Traição.
Abrantes
http://www.ribatejo.com
Cidade portuguesa do
distrito e diocese de
Santarém, com 9.632
habitantes (dados de 1987).
Sede de concelho e de
comarca. Sobranceira ao Tejo
foi conquistada aos mouros
em 1148; recebeu foral em
1179 e a categoria de cidade
em 16-3-1916. Formado por 15
freguesias, o concelho tem
47.501 habitantes (dados de
1987); zona agrícola, possui
lagares de azeite, indústria
de moagem e metalurgia.
in "Moderna Enciclopédia
Universal", ed. Círculo de
Leitores
Quadro Histórico
O concelho de Abrantes
remonta aos primórdios da
monarquia portuguesa. O seu
foral, datado de 1179, segue
o modelo dos chamados
"concelhos perfeitos", cuja
organização se inicia no
preciso momento em que são
chamados os colonos a
povoá-la. O regime
administrativo, a
organização municipal e a
distribuição geográfica da
população obedecem, nestes
casos, a um modelo, o modelo
das terras despovoadas. Em
1173 esta região e o seu
castelo foram doados à Ordem
de Santiago de Espada.
A sua situação geográfica
parece ter contribuído
bastante para a colonização:
"Zona de permanentes
conflitos, a que a
reconquista veio pôr ‘ponto
final’, a colonização do
monte abrantino foi
facilitada pela situação
geográfica do mesmo monte,
situado a norte do Tejo, que
lhe servia de fronteira
natural e o protegia de
previsíveis incursões
almohadas; Tejo que era
ainda importante fonte de
riqueza (água, pesca, ouro,
navegação, etc.), monte
situado numa zona de
confluência e transição de
regiões, encruzilhada nos
percursos entre o sul e o
norte, a salvo de cheias, de
nevoeiros persistentes,
lavado de bons ares, tudo
isto foram condições que, no
nosso entender, conferiram
ao local as condições
necessárias à atracção de
colonos, colonização que,
aliás, não nos parece ter
sido fácil (...)." (l)
Da história de Abrantes
salientam-se alguns factos
decisivos: "Afonso II
restaurou os meios de defesa
de Abrantes e, segundo a
tradição, mandou edificar a
Igreja de Stª Maria do
Castelo. Em 24 de Abril de
1281, D. Dinis concedeu o
senhorio de Abrantes à
Rainha Isabel (...)
D. Afonso IV sujeitou todo o
termo de Abrantes à Ordem de
Malta e D. Fernando, em
1327, doou o senhorio de
Abrantes a D.Leonor Teles.
Partidários do Mestre de
Avis, os Abrantinos foram
dos primeiros a secundar o
movimento de Lisboa de 1383
destacando-se, entre estes,
Fernando Álvares de Almeida,
progenitor da Casa de
Abrantes.
D. Manuel, que aqui
permaneceu durante muito
tempo, concedeu novo foral
(l5l8) e aqui nasceram os
Infantes D. Fernando e
D.Luís, seus filhos. D.João
III confirmou antigos
privilégios aos Abrantinos.
No séc.XVI, Abrantes e o seu
termo era uma das maiores e
mais populosas terras do
reino: tinha 3.436
habitantes, e dentro dos
seus muros existiam 4
conventos de Ordens
Religiosas e 13 Igrejas e
Capelas.
(...) Em 1581, na sua
deslocarão para Tomar,
Filipe II de Espanha esteve
em Abrantes alguns dias, e
do reinado do seu sucessor
data a reconstrução dos
Paços Municipais de
Abrantes.
Em 1640, reivindicando já o
título de Notável, foi uma
das primeiras terras do
reino a aclamar D.João IV.
Dos séculos XVII e XVIII por
diante, assume papel de
primordial importância do
ponto de vista militar,
sendo por 2 vezes
classificada Praça de Guerra
de 1ª Ordem, tendo em 1807
servido a Junot de ponto de
concentração das suas tropas
para a investida sobre
Lisboa.
Durante o reinado de D. José
foi criada em Abrantes uma
indústria de fiação de sedas
que, ainda próspera em 1800,
se designava por Academia
Tubuciana.
Em 1820 Abrantes apoiou a
Revolução Liberal e festejou
entusiasticamente a
Constituição de 1822. D.
Miguel, porém, encontrou
entre os abrantinos leais
partidários da sua causa,
mas não consta a existência
de qualquer movimento local
aquando da Vilafrancada.
(...) Em Novembro de 1862
foi inaugurado o troço
ferroviário de Santarém a
Abrantes e, em Março de
1868, foi adjudicada a
construção da ponte
rodoviária entre Abrantes e
Rossio ao Sul do Tejo, e
estes dois acontecimentos
estiveram na base do
progressivo desenvolvimento
regional.
Activo centro republicano,
Abrantes foi local de
reuniões preparatórias do 5
de Outubro de 1910, o que de
alguma forma contribuiu para
a sua elevação a cidade em
1916.
Aderiu inequivocamente ao
Movimento do 25 de Abril de
1974 e, no 12 de Maio desse
ano, realizou-se a maior
manifestação de
solidariedade social jamais
aqui ocorrida.(...)." (2)
(1) Campos, Eduardo Manuel
Tavares - "Notas Históricas
sobre a Fundação de
Abrantes", Câmara Municipal
de Abrantes, 1984, pág. 5
(2) C.M. Abrantes - "Notas
sobre História de Abrantes",
Câmara Municipal de Abrantes
in DIAGNÓSTICO
SÓCIO-CULTURAL DO DISTRITO
DE SANTARÉM - ESTUDO 1,
Santarém, 1985, pág. 92-93.
A Lenda de Abrantes
http://www.ribatejo.com/ecos
ABRANTES é uma antiquíssima
cidade. Segundo alguns
autores, terá sido fundada
pelos Túrdulos 990 anos
antes de Cristo, segundo
outros foi fundada por
galo-celtas em 308 a. C. Foi
senhoreada por Romanos,
Visigodos, Árabes e, por
fim, em 8 de Dezembro de
1148, conquistou-a D. Afonso
Henriques. Diz-se que os
Romanos lhe chamavam Tubucci,
os Vísigodos Aurantes e os
Árabes Líbia. Segundo a
lenda, o nome de Abrantes
data, mais ou menos, da
época da conquista da
fortaleza por D. Afonso
Henriques, estando ligado a
acontecimentos imediatamente
posteriores.
Consta que era alcaide do
castelo um velho mouro
chamado Abraham Zaid.
Abraham tinha uma filha a
que chamara Zara e um filho
bastardo, de uma cativa
cristã, a que pusera o nome
de Samuel. Ninguém sabia,
porém, que Samuel era filho
do velho alcaide, nem o
próprio rapaz. Assim, viviam
os doís jovens apaixonados e
o velho sentindo crescer em
si, dia a dia, uma angústia
terrível, antevendo a hora
em que seria obrigado a
revelar o seu segredo.
Um dia, diz a História, os
cristãos foram pôr cerco ao
castelo. A hoste era
comandada pelo aguerrido
Afonso Henriques, que trazia
consigo vários cavaleiros e
monges. Do Mosteiro do
Lorvão trouxera o Rei um
velho e sábio monge
beneditino para o aconselhar
os assuntos espirituais. De
algures, de um local
qualquer do reino, trouxera
um cavaleiro cheio de ideais
e de força guerreira,
chamado Machado.
Ferida a batalha e
conquistado o castelo,
Samuel foi aprisionado por
Machado. Na confusão do
saque da debandada moura, o
cavaleiro, que acabara de
desarmar Samuel, viu um peão
perseguindo Zara com
intuitos evidentes de
violação, e, entregando o
prisioneiro a dois vigias,
correu em auxilio da moura.
Com um forte empurrão
derrubou o soldado, que
estava ébrio, e amparando
Zara foi entregá-la à
custódia do velho
beneditino, até que se
acalmassem os ânimos
exaltados pelo sangue, pelo
saque e pelo vinho.
Quando o cavaleiro Machado
retomou o seu posto, ia como
que alheado. Ficara
fascinado pela beleza da
moura, estranhamente
parecida com uma imagem de
Nossa Senhora dos Aflitos
que sua mãe lhe dera ao
morrer e que ele,
devotamente, trazia sempre
consigo. Por outro lado,
impressionara-o a repentina
recordação de um sonho que
vinha tendo frequentemente e
no qual, ao escalar os muros
de um castelo, se via
salvando uma donzela com que
se casaria. Tudo isto
contribuía para o alheamento
do jovem cavaleiro, que, se
não fossem as suas
obrigações de guerreiro,
decerto se teria quedado em
enternecida contemplação da
bela Zara.
Entretanto, D. Afonso
Henriques, querendo
remunerar os serviços
prestados naquela batalha
pelo seu bastardo D. Pedro
Afonso, deu-lhe o senhorio
do castelo e nomeou-o seu
alcaide-mor. Pedro Afonso,
porém, desejava partir com o
pai para Torres Novas e, por
isso, decidiu delegar a
alcaidaria no cavaleiro
Machado.
O Rei, antes de partir,
mandou que o monge ficasse
no castelo como guardião das
almas, ordenou-lhe que
entregasse a prisioneira a
Abraham e tomou todas as
medidas necessárias à
segurança da vila.
Assim que a hoste se
desvaneceu ao longe, na
poeira, o cavaleiro Machado,
feliz por ficar como alcaide
do castelo, apaixonado por
Zara, preparou-se para
conquistar o seu coração
utilizando os meios
permitidos pelo código de
honra da cavalaria, ou seja,
os modos corteses e suaves.
Mas Zara, que adorava
Samuel, sentia uma espécie
de rejeição cada vez que o
cavaleiro se aproximava de
si. E, para não fazer
qualquer gesto mais brusco
que comprometesse a boa paz
em que viviam, pedia
conselhos ao pai e ao velho
monge. O frade, como
confessor do cavaleiro, bem
sabia o amor que ele tinha
pela donzela, e, como bom
observador, compreendia que
nas evasivas de Abraham
existia qualquer coisa de
estranho. Por isto,
procurava conciliar toda a
gente e assegurava a Zara a
honradez e nobreza de
sentimentos do jovem
alcaide.
Samuel, porém, não conseguia
viver em paz. Os ciúmes
irrompiam nele à mínima
alusão, ao mínimo gesto, sem
que conseguisse
controlar-se. E, na sua
insegurança, tão depressa
acatava as palavras
conciliatórias de Abraham e
do monge, como ficava
possuído pelo demónio da
Loucura, que o obrigava a
cometer insanas.
Zara acreditava que Samuel
estava compenetrado do seu
amor e da sua fidelidade e
pensava, por isso, que as
acções destrambelhadas do
rapaz provinham da mudança
de situação para vencido de
guerra. Assim, certa tarde
em que tentava reconciliá-lo
com o alcaide, perguntou ao
pai como deveria proceder se
o cavaleiro viesse
procurá-la e ele não
estivesse em casa: deveria
manter a porta fechada como
se não estivesse ninguém, ou
recebê-lo-ia?
Abraham, julgando ver nesta
pergunta um novo intuito de
ofensa ao alcaide do
castelo, para evitar mais
problemas, respondeu:
-Nada temo nem receio da tua
virtude, minha filha. E
confio também na honradez do
alcaide. Abre antes a porta!
Samuel, porém, ao ouvir
estas palavras perdeu o
domínio de si e correu para
a rua, gritando como louco:
- Abre antes! Abre antes!
A vizinhança acorreu, uns
aos postigos, outros às
vielas, a saber o que aquilo
era, e Samuel, enlouquecido
de ciúmes, contava a
história à sua maneira,
deixando agravados o
alcaide, Zara, Abraham e o
próprio monge.
Conta a lenda, ainda, que
Samuel acabou por cair de
cansaço e de febre. Uma vez
bom de saúde, Abraham juntou
os e contou-lhes a verdade
sobre o nascimento do rapaz.
Assim ficaram a saber que
eram irmãos e que a mãe de
Samuel fora uma bela cativa
cristã que certo dia chegara
a Tubuccí chorando um noivo
que deixara na sua terra,
chamado João Gonçalves.
Rolaram lágrimas silenciosas
pelas faces envelhecidas do
frade beneditino. Ele fora
esse João Gonçalves que,
vendo a noiva desaparecer,
crendo-a perdida para
sempre, entrara para o
Mosteiro do Lorvão. Pediu o
monge a Abraham dados sobre
essa cativa, para se
certificar de que a mãe de
Samuel fora a sua amada
noiva. E vendo que os dados
coincidiam, tomou o rapaz a
seu cargo, conseguindo pô-lo
ao serviço do Rei de
Portugal.
Machado e Zara acabaram por
casar, depois de os mouros
se terem feito cristãos, e
dentro das muralhas da velha
Tubuccí reinou, finalmente,
a harmonia.
E, segundo reza a lenda, em
memória do febril acesso de
loucura de Samuel, Tubucci
passou a ser chamada
Abrantes.
in Frazão, Fernanda. "Lendas
Portuguesas", vol. IV, pág.
67-73. Ed. Multilar. Lisboa:
1988
Alcanena – (Concelho do
Distrito de Santarém)

Pequena povoação que
pertenceu aos duques de
Aveiro, Alcanena só no
século XlX começou a
desenvolver-se devido à
indústria dos curtumes.
Na região onde está situada
a vila de Alcanena
permaneceram os árabes
durante cerca de 400 anos,
sendo apontados como seus
fundadores (o nome indica –
Alcanena – Cabeça seca ou,
segundo outros, lugares
sombreados.
D. Sancho l atesta a
presença portuguesa no
desenvolvimento e no seu
povoamento.
Alcanena, terra liberal por
excelência, vibrou com a
implantação da República, à
qual está indissoluvelmente
ligada: “Para o País a
República, para Alcanena o
Concelho”. Projecto
cumprido, o concelho foi
constituído a 8 de Maio de
1814, numa área pertencente
aos concelhos de Torres
Novas, Santarém e Porto de
Mós.
Origem do nome:
«Xavier Fernandes em
Topónimos e Gentílicos
(1944)»: “Alcanena diz-se
ser árabe Alcanina, que quer
dizer “cabeça seca ou oca”,
havendo também quem tivesse
emitido a opinião de que o
nome foi dado ao local, por
este ser abundante em
canas”.
Alcanena
http://www.cm-alcanena.pt
A vila de Alcanena é sede de
um concelho criado a 8 de
Maio de 1914, a partir da
desanexação de freguesias de
Torres Novas e Santarém. Por
esta razão, a sua história
funde-se, nas épocas maia
remotas, com a destes
concelhos.
Ainda que inserida noutros
concelhos, Alcanena dá
sinais, desde o século XVIII,
reforçados no século XIX
(1875), de fervoroso desejo
de autonomia. Este movimento
não pára de ser insuflado
pelo dinamismo das
actividades económicas, que
rapidamente é acompanhado
pelo fervor do desejo de
autonomia administrativa,
intimamente relacionada com
a forte implantação na
região dos ideais
republicanos.
A passagem dos exércitos
napoleónicos deixou fortes
marcas em Alcanena, bem como
noutras freguesias próximas.
Nesta vila ficaram também
reflexos das lutas liberais,
de onde saíram voluntários
que combateram em dois
movimentos de revolta contra
o totalitário governo de
Costa Cabral. A “Maria da
Fonte” contou também com o
apoio das gentes de Alcanena
que se colocaram à
disposição da Junta
Governativa, em Santarém.
Como não poderia deixar de
ser, dados os pergaminhos da
terra defensora da liberdade
e como atesta o slogan “Para
o País a República, Para
Alcanena o Concelho”,
Alcanena festejou a
implantação da República, a
5 de Outubro de 1910, como
ainda hoje se atesta pela
festas de 5 de Outubro que
Alcanena organiza.
A freguesia de Alcanena
compreende a vila, sede do
concelho, e os seguintes
lugares: Gouxaria, Raposeira,
S. Pedro e Peral. A vila é,
sem dúvida, um pólo
centralizador nos domínios
económico, administrativo e
sócio – cultural, se bem que
a autarquia tenha
empreendido acções de
descentralização cultural,
apoiando colectividades e
fomentando o associativismo.
A vila de Alcanena é servida
por modernas e funcionais
infra estruturas de saúde,
cultura, desporto e lazer.
Em termos económicos, o
concelho de Alcanena é
marcado pela indústria,
predominando os curtumes, de
grande tradição local e
significado nacional.
O lugar de Gouxaria é rico
em belos recantos rurais.
No lugar de Raposeira
encontramos a Gruta da
Marmota, uma das três
necrópoles neolíticas do
concelho que atestam a
ocupação pré-histórica da
região.
Associativismo /
Colectividades
O associativismo da
freguesia é vasto: ARPICA –
Associação de Reformados,
Pensionistas e Idosos do
Concelho de Alcanena; Núcleo
de Sportinguistas do
Concelho de Alcanena;
Agrupamento do Corpo
Nacional de Escutas –
Agrupamento 867 Alcanena,
Atlético Clube Alcanenense;
Casa do Povo; Juventude,
Amizade e Convívio;
Sociedade Columbófila de
Alcanena; Centro Desportivo
e Cultural Os Marítimos do
Alviela (Raposeira); Amigos
da Vida Selvagem; Associação
Desenvolvimento
Sócio-Educativo e Cultural
ABC; Pedrinhas Motor Club (Gouxaria);
Núcleo de Cicloturismo de
Alcanena; Rancho Folclórico
da Gouxaria; APIC –
Associação Portuguesa de
Industriais de Curtumes;
JUBILARE – Associação
Cultural e Social de
Alcanena e Associação dos
Dadores de Sangue de
Alcanena.
Alcanena
http://www.ribatejo.com/ecos
Povoação portuguesa do
distrito e diocese de
Santarém, com 3.505
habitantes (dados de 1987).
Sede de concelho e de
comarca, fica a SO da serra
de Aire e a 3Km dos chamados
"Olhos de Água", as
nascentes do rio Alviela. O
concelho, constituído por 10
freguesias, conta com 13.989
habitantes (dados de 1987).
Possui próspera indústria de
curtumes. Minde, povoação
pertencente ao concelho, é
centro de indústria têxtil e
a sua população usa um falar
especial, o minderico.
Fica na sua área a lagoa de
Minde que mede 4Km de
comprimento e 2Km de
largura.
in "Moderna Enciclopédia
Universal", ed. Círculo de
Leitores
Quadro HistóricoRetomando à
época de dominação árabe, a
região onde hoje se encontra
o concelho de Alcanena
caracterizava-se pela
debilidade dos solos em
termos agrícolas (aptos
somente para as culturas de
sequeiro, cevada, trigo e
oliveira). Situada no imenso
maciço calcário estremanho,
entalada entre as serras dos
Candeeiros e de Aire, e os
planaltos de Stº António e
de S. Mamede, os povos desta
região dedicavam-se
sobretudo à pastorícia, ao
comércio e à criação de
bichos de seda, entre outras
actividades.
Sobre a origem do nome
Alcanena existem diversas
versões, tendo todas,no
entanto, como base o artigo
árabe "Al". As duas versões
mais prováveis são "Cabaga
Seca", do termo árabe
"Alcalina" e "Lugar
Sombreado", do termo árabe "Al-Kinan".
Pertencendo até ao ínício do
séc. XX ao concelho de
Torres Novas, a sua história
dilui-se na deste concelho,
pelo menos até à altura em
que, por via da implantação
progressiva e dinâmica das
indústrias de curtumes (e
mais tarde de malhas), esta
região se começa a destacar,
não só no distrito mas
também em todo o país.Eram
os finals do séc. XVIII:
"Sendo a indústria de
curtumes uma das mais velhas
actividades conhecidas do
homem, cedo se radicou no
concelho de Alcanena, com
métodos muito próprios,em
que a técnica vinha em
sucessão de pais para
filhos, com a utilização de
materiais curtientes
tradicionais da região. Os
próprios utensílios eram
característicos e mesmo
exclusivos.
A data mais antiga ou talvez
a única que se revela em
edifício fabril é a de 1792.
0 referido edifício ostenta
um brasão representando as
armas nacionais, acompanhado
de uma inscrição que diz ser
uma fábrica de sola com
previlégio Real do governo
Pombalino(...)"(1).
O progressivo
desenvolvimento da indústria
de solas, pelarias para
calçado, maquinaria e
vestuário, atraiu à região
um grande número de
industriais, tendo-se feito,
progressivamente, uma
reconversão industrial,
baseada na modernização das
técnicas de fabrico e das
máquinas industriais. Esta
modernização tem vindo a
acabar com a maior parte dos
pequenos produtores da
região de Alcanena,
colocando-a na vanguarda da
produgão do género a nível
nacional.
A par deste desenvolvimento
das indústrias de curtumes e
de malhas, assistiu-se
ultimamente à implantação de
diversas unidades de fabrico
e montagem de máquinas (e
ainda reparação) do apoio
àquelas.
A indústria têxtil
(especialmente implantada na
região da freguesia de
Minde) fez parte intrínseca
da história do concelho de
Alcanena, a par da de
curtumes. Desde os tempos
mais remotos, a produção de
mantas, alforges, tapetes e
carpetes veio tornando
popular esta região. A maior
parte das feiras em todo o
país eram percorridas por
vendedores de mantas de
Minde. Célebre ficou o
"calão míndrico",
vocabulário utilizado por
estes vendedores ambulantes
a fim de não serem
entendidos senão entre si.
A partir de meados do
presente século iniciou-se a
fabricação de maIhas
exteriores, facto que trouxe
a esta região novos focos de
desenvolvimento. Segundo
reza a história, esta
indústria foi trazida para
Portugal por cidadãos
polacos instalados em Lisboa
por altura da 2a grande
guerra. Entretanto, começara
a ser difícil a aquisição de
matéria prima - lãs - para
os trabalhos tradicionais,
problema que estaria
ultrapassado para as malhas.
Por volta de 1942, nasceu a
primeira fábrica de malhas,
a "Sociedade Industrial de
Malhas Mindense".
O concelho de Alcanena é de
fundação recente. Foi criado
em 1914 com a desanexação de
algumas freguesias de Torres
Novas e Santarém, tendo tido
para os alcanenenses o mesmo
valor e significado que
quatro anos antes a
implantação da República.
(1) TORE, Bandeira de –
Jornal Ilustrado "A Hora",
1970
in DIAGNÓSTICO
SÓCIO-CULTURAL DO DISTRITO
DE SANTARÉM - ESTUDO 1,
Santarém, 1985, pág.
126-127.
Almeirim – (Concelho do
Distrito de Santarém)

A ocupação da região é muito
antiga. Por ali passava a
via romana de Lisboa a
Mérida, conforme o atestam
os marcos miliários
encontrados, e identificados
um concheiro epipaleolítico
no vale da Fonte da Moça e
uma villa romana na
Azeitada, freguesia de
Benfica do Ribatejo, além de
espólios, anteriormente
recolhidos.
Fundada em 1411, por D. João
l, aqui por duas vezes foram
convocadas cortes, as
primeiras por D. João lll,
para o juramento do Príncipe
D. João, pai de D.
Sebastião, e as segundas
pelo cardeal-rei D.
Henrique, para resolver o
problema da sucessão. Também
em Almeirim se realizaram
casamentos reais: o de
Carlos V com a Infanta D.
Isabel e o de de Filipe ll
com a Infanta D. Maria.
Difícil será descortinar na
actual Almeirim, traços da
antiga vila realenga dos
séculos XV e XVl, estância
de Inverno da Corte Real
Portuguesa. Com efeito, todo
o primitivo conjunto
monumental da vila de
Almeirim se perdeu na poeira
dos tempos.
A vila foi local preferido
pelos reis da dinastia de
Avis, que ali estacionaram
durante largos períodos,
particularmente devido à sua
abundância de caça, antes de
o palácio ser preterido pelo
seu congénere de Salvaterra
de Magos. Mas a estada dos
reis também está ligada a
uma vida cortesã que deixou
reflexos na história. Também
e Almeirim representaram-se
diversos autos e comédias do
chamado pai do teatro
português, Gil Vicente.
Ainda no século XVlll,
atraída pela sua fama,
afluía à vila muita gente,
viajando de bergantins pelo
rio Tejo acima.
O paço foi conservado pelos
Filipes, e ainda se lhe
refere, em termos elogiosos,
a “Memória Paroquial de
1758”. O golpe de
misericórdia ser-lhe-ia dado
pelo regente D. João, que o
extinguiu em 1792. Não
obstante, o edifício não foi
logo demolido,
conservando-se até ao
século XlX.
Origem do nome:
«Xavier Fernandes em
Topónimos e Gentílicos
(1947)»: “O nome é de
proveniência árabe,
parecendo que assenta em
Al-Meirim nome de algum
mouro importante, porventura
o fundador ou conquistador
da antiga povoação, pois
Almeirim portuguesa
(referimo-nos à do distrito
de Santarém), data dos
princípios do século XV,
reinado de D. João l, que se
afirma ter sido o seu
fundador ou, pelo menos, o
seu restaurador”.
Almeirim
http://www.almeirimnet.com
Existem vestígios da
presença humana que remontam
à pré-história. Da Idade dos
Metais há também
testemunhos. A presença
romana fez-se notar nestas
paragens, «por aqui passava
a via militar romana,
partindo de Lisboa para
Mérida, capital da
Lusitânia», datando-se do
séc. I a ocupação de
terrenos.
Vista Parcial do Jardim da
República
É sobretudo a partir do
século XV que Almeirim
cresce. Em 1411 D. João I
mandou ali construir um
palácio. Foi em torno dele
que o povoado se
desenvolveu. Desse
importante palácio - no qual
habitaram os reis da segunda
dinastia - nada resta. As
suas ruínas acabaram por ser
suprimidas no século XIX.
Segundo fontes manuscritas,
eram famosas as coutadas de
caça, tão do agrado da
nobreza. A corte era
itinerante. Almeirim foi
muitas vezes contemplada com
a sua presença, tendo sido
eleita estância de inverno,
local de lazer e repouso. Aí
se representaram peças de
teatro - Gil Vicente - se
casaram princesas, se dava
despacho real, se reuniram
cortes. Foi em Almeirim que
nasceu o filho de D. João
III, Infante D. Afonso.
Almeirim foi berço de outras
figuras notáveis, e palco de
outros acontecimentos
importantes.
Em plena época da expansão e
dos descobrimentos
marítimos, Almeirim foi
muitas vezes local de
passagem e fixação. O
Infante D. Henrique, esse
precursor infatigável da
expansão ultramarina, mandou
fazer inúmeros documentos,
nesta terra de Almeirim.
Com a invenção da imprensa e
com o advento do
Renascimento e Humanismo a
notícia corria «célere» pela
Europa. As tipografias
tornaram-se indispensáveis.
Foi nas oficinas do Paço que
se começou a imprimir o
Cancioneiro Geral de Garcia
de Resende. De entre outras.
Cortes de Almeirim: As
Cortes reuniram-se duas
vezes na vila de Almeirim. A
primeira a 30 de Março de
1544, tendo sido jurado
príncipe herdeiro D. João,
filho de D. João III e pai
de D. Sebastião. A segunda,
a 11 de Janeiro de 1580,
tendo sido convocadas pelo
Cardeal-Rei D. Henrique, com
o objectivo de discutir e
resolver o problema da
sucessão. A morte de D.
Henrique precipitou os
ânimos. O problema
resolveu-se depois.
Durante os sessenta anos
seguintes, Portugal viveu
sob o domínio Filipino, em
regime dualista.
Almeirim (entrevista de). Em
1483 por altura da Quaresma,
dirigiram-se a Almeirim, D.
João II, os Duques de Viseu
e os Duques de Bragança com
o objectivo de visitarem a
Rainha D. Leonor que se
encontrava gravemente
doente. Foi nesta vila que o
Duque de Bragança teve uma
entrevista com o Rei D. João
II que lhe prometeu o perdão
de conjuras passadas. Havia
porém uma condição: D.
Fernando de Bragança teria
que servir o Rei com
lealdade e humildade. O
perdão do Rei não resultou.
Passados poucos meses o
Duque de Bragança foi preso
e julgado. O Duque de Viseu
morre apunhalado pelo Rei.
A entrevista de Almeirim,
resultou em coisa ruim. Para
os Duques, claro.
M.C.
Almeirim
http://www.ribatejo.com/ecos
Quem das ameias das Portas
do Sol em Santarém, deixar
estender o olhar pelo fértil
vale do Tejo, vislumbrará um
quadro magnífico de beleza
inconfundível.
Em baixo, deslizando, vai o
Tejo a caminho de Lisboa;
alongando-se em direcção ao
sul, vê-se a extensa e
expressiva lezíria, por
entre mouchões e vinhedos e,
mais longe ainda, a mancha
cinzenta da serra de
Almeirim, a subir pelas
terras luminosas da
charneca, início da planície
alentejana.
Aqui se situa Almeirim,
nesta zona de diferenças
geográficas, terra fundada
em 1411 por D. João I e onde
reis e senhores vinham
passar momentos de
entretenimento e tratar de
negócios do Reino,
dizendo-se que "ali punha
Cupido a sua aula e el-rei o
seu despacho".
Hoje, Almeirim nada tem que
ateste esse passado
faustoso, embora no seu
Palácio Real, cujos restos
foram demolidos em 1890, se
tenham realizado as
importantes cortes de 11 de
Janeiro de 1580, nas quais
se debateu o grave problema
de sucessão ao trono, por
morte de D. Sebastião em
terras africanas de
Alcácer-Quibir.
As suas belezas naturais, o
seu tipismo, divulgado por
diversos agrupamentos
folclóricos, a sua excelente
e apreciada culinária, o
melão e o vinho que gozam de
justa fama e outros produtos
de real qualidade, fazem de
Almeirim uma terra que
oferece ao visitante uma
sensação de bem estar, onde
o seu progresso se orienta
no melhor dos sentidos,
através de estruturas que
por toda a parte se podem
apreciar.
in "Folheto Turístico",
Região de Turismo do
Ribatejo
Quadro Histórico
Almeirim, segundo os
historiadores, baseados no
aparecimento de fragmentos
cerâmicos do séc. I, remonta
à dominação Romana. Estudos
mais recentes colocam porém
esta zona na época
epipaleolítica, pelo achado
de concheiros em Benfica do
Ribatejo. O seu nome indica
que foi mais tarde habitado
pelos mouros.
Almeirim foi fundada em 1411
por D. João I.
No séc. XIV era esta região
considerada a "Sintra de
Inverno" e frequentada pelos
reis da II dinastia, por ser
um lugar de grandes coutadas
de caça, pela proximidade do
Tejo, de Santarém e de
Lisboa.
Foi esta região escolhida
para a realização de grande
número de cortes. É aqui que
Gil Vicente representa às
cortes de D. Manuel e de D.
João III grande número das
suas farsas e comédias, de
que é exemplo o "Auto da Fé"
(1510). Depois do
desaparecimento de D.
Sebastião, é em Almeirim que
se reúnem as cortes para
decidir do futuro do reino.
Entre outras pessoas
notáveis, nasceram em
Almeirim: D. Afonso, filho
de D. João III; D. Fernando,
Filho de D. Duarte; D.
Duarte, filho de D. Isabel
e, provavelmente, o cardeal
D. Henrique.
in DIAGNÓSTICO
SÓCIO-CULTURAL DO DISTRITO
DE SANTARÉM - ESTUDO 1,
Santarém, 1985, pág. 156.
Almeirim: A Lenda da Sopa da
Pedra.
http://www.cm-almeirim.pt/almeirim
Tal como quase todos os
costumes, tradições e também
gastronomia regional, a Sopa
da Pedra tem uma lenda
associada....
Um frade andava no
peditório. Chegou à porta de
um lavrador, não lhe
quiseram aí dar esmola. O
frade estava a cair com
fome, e disse:
- Vou ver se faço um
caldinho de pedra!
E pegou numa pedra do chão,
sacudiu-lhe a terra e pôs-se
a olhar para ela, para ver
se era boa para fazer um
caldo. A gente da casa
pôs-se a rir do frade e
daquela lembrança.
Perguntou o frade :
- Então nunca comeram caldo
de pedra? Só lhes digo que é
uma coisa boa.
Responderam-lhe :
- Sempre queremos ver isso!
Foi o que o frade quis
ouvir. Depois de ter lavado
a pedra, pediu :
- Se me emprestassem aí um
pucarinho.
Deram-lhe uma panela de
barro. Ele encheu-a de água
e deitou-lhe a pedra dentro.
- Agora, se me deixassem
estar a panelinha aí ao pé
das brasas.
Deixaram. Assim que a panela
começou a chiar, tornou ele
:
- Com um bocadinho de unto,
é que o caldo ficava um
primor!
Foram-lhe buscar um pedaço
de unto. Ferveu, ferveu, e a
gente da casa pasmada pelo
que via. Dizia o frade,
provando o caldo :
- Está um bocadinho insosso.
Bem precisava de uma
pedrinha de sal.
Também lhe deram o sal.
Temperou, provou e afirmou :
- Agora é que, com uns
olhinhos de couve o caldo
ficava que até os anjos o
comeriam!
A dona da casa foi à horta e
trouxe-lhe duas couves
tenras.
O frade limpou-as e ripou-as
com os dedos, deitando as
folhas na panela.
Quando os olhos já estavam
aferventados, disse o frade
:
- Ai, um naquinho de
chouriço é que lhe dava uma
graça.
Trouxeram-lhe um pedaço de
chouriço. Ele botou-o à
panela e, enquanto se cozia,
tirou do alforje pão e
arranjou-se para comer com
vagar. O caldo cheirava que
era uma regalo. Comeu e
lambeu o beiço. Depois de
despejada a panela, ficou a
pedra no fundo. A gente da
casa, que estava com os
olhos nele, perguntou:
- Ó senhor frade, então a
pedra?
Respondeu o frade :
- A pedra lavo-a e levo-a
comigo para outra vez.
Alpiarça – (Concelho do
Distrito de Santarém)

É uma povoação muito antiga;
no seu extremo passava uma
via militar romana, que,
dizia-se ligava Lisboa e
Mérida, tendo sido
encontrados na região marcos
miliários dessa gigantesca
construção. Em 1527, a
aldeia da Ponte de Alpiarça
contava 36 moradores. Mas a
presença humana na
localidade é antiquíssima: a
descoberta das Estações do
Castelo de Alpiarça, do
cabeço da Bruxinha, da
Necrópole do Tranchoal dos
Patudos, da Necrópole do
Meijão e do Cabeço da Bruxa,
na Quinta da Goucha
(monumento nacional), provam
a permanência do homem, pelo
menos, desde as épocas
neolíticas até à romana.
Origem do nome:
«Dr. José Pedro Machado, em
Influência Arábica no
Vocabulário Português –
1957»: “Não me parece
impossível, porém, que se
trate de evolução de
Alpalatia, isto é, de al –
artigo definido arábico,
ligado ao latim palatia, pl.
De palatium.
Encontro dificuldades
semânticas em justificar
esta hipótese, porque não
conheço suficientemente a
história da região para
verificar até que ponto se
pode admitir, em tempos
muito antigos, a aplicação
por lá da dita palavra
latina.
Já o mesmo não digo do
aspecto fonético da questão,
pois de Alpalatia poderiam
vir sucessivamente as formas
alpaacia, alpiça e
finalmente, Alpiarça.
Observo que àquela palavra
alpiaça se pode ligar o nome
do rio Alpiaçoilo, como em
alguns lugares é conhecido o
Ulme ou rio Alpiarça, que
nasce a leste de Aranhas de
Cima e, depois de banhar
diversas povoações (entre as
quais Alpiarça), vai
desaguar na margem esquerda
do Tejo pouco a baixo de
Benfica.
Por ora, a mais antiga que
possuo desta povoação está
no texto de Gil Vicente
escrito em 1527: “andas
terras de soldam / e alfay
ate e alfanete / alfareme e
alcaprema / Alpiarça e
alfazema … (Nau de Amores,
no Copilaçam, fl. 149 vs.a”.
Alpiaça
http://www.cult.pt/cult/regiao
Situada na margem esquerda
do rio Tejo, na planície
ribatejana, a vila de
Alpiarça é sede de um
concelho, com uma única
freguesia, com cerca de
8.000 habitantes e 94 Km2 de
superfície.
Habitada pelo homem desde
tempos remotos, foram aqui
recolhidos importantes
achados arqueológicos do
paleolítico inferior. As
estações arqueológicas
conhecidas são: Alto do
Castelo, Cabeço da Bruxinha,
Necrópole do Tanchoal,
Necrópole do Meijão e Cabeço
da Bruxa. Estas estações são
consideradas Património
Arqueológico Nacional. Foram
encontrados vários marcos
milenários dedicados a
Trajano, indicativos da
passagem na área geográfica
do concelho da via militar
romana que ia de Lisboa a
Mérida.
Essencialmente agrícola,
Alpiarça é uma região
vinhateira por excelência.
São especialidades regionais
o pão-de-ló, os quadradinhos
de Alpiarça, os esses de
amêndoa, os queijinhos do
céu, carneiro guisado e miga
fervida. Famosos são também
os seus vinhos licorosos,
aguardentes e passas de uva
moscatel.
Para saber mais visite o
site da Câmara Municipal de
Alpiarça.
Casa dos Patudos
http://pt.wikipedia.org/wiki
A Casa dos Patudos fica
situada em Alpiarça,
Distrito de Santarém.
A casa foi construída em
1905, e o autor do projecto
foi o arquitecto Raul Lino,
por encomenda de José
Relvas.
José Relvas legou a quinta
dos Patudos e praticamente
todos os seus demais bens ao
município de Alpiarça por
testamento de 1929. Entre
várias vontades que são
referidas nesse Testamento
uma delas é que a Casa dos
Patudos fosse conservada
como museu que é referido
pelos especialistas como o
mais importante museu
autárquico do país e é
procurada por muitos
milhares de visitantes.
Nesta casa podemos encontrar
obras de arquitectura,
pintura, escultura e artes
decorativas e sumptuárias
(Azulejaria, porcelana,
mobiliário, têxteis e
outras) de autores
nacionais, mas também da
Europa com abordagem de
"mestres de referência" de
Espanha, França, Itália,
Inglaterra, Alemanha,
Bélgica, Holanda e também
dos ricos núcleos de obras
da Índia, Pérsia, China e
Japão. O vasto leque
cronológico estende-se desde
os finais da Idade Média até
aos inícios do Século XX.
Oferecendo ao visitante um
percurso único e de grande
interesse pelos grandes
momentos da História da
Arte.
Benavente – (Concelho do
Distrito de Santarém)

Esta povoação foi fundada em
1119 por colonos
estrangeiros, em obediência
ao plano de D. Sancho l de
povoar as terras
conquistadas aos mouros.
Supõe-se, porém, que já
existiria no tempo dos
romanos, pois recebeu foral
de D. Paio, mestre da Ordem
Militar de Évora, em 1200,
confirmado em Santarém em
1218, por D. Afonso ll.. Em
1516, D. Manuel l
concedeu-lhe novo foral.
O sismo de 23 de Abril de
1909 abalou profundamente
toda a área, abrindo fendas
nas aluviões dos rios Tejo,
Sorraia e Almançor,
provocando grandes ruínas na
vila.
Origem do nome:
«De, As Cidades e Villas da
Monarchia Portuguesa que têm
Brasões d´Armas – 1860»:
“Não são concordes os nossos
antiquários sobre o lugar em
que estava assentada a
cidade chamada Aritium
Pretorium, por onde passava
em direcção a Mérida uma das
três vias militares, com que
os romanos cortaram a
Lusitânia. Contudo boas
autoridades sustentam a
opinião que a vila de
Benavente ocupa o sítio da
antiga Aritium Pretorium.
A fundação da vila actual
não é mais conhecida. Apenas
se sabe, que já existia no
reinado de el-rei D. Sancho
l, pois foi ali que este
monarca confirmou a ordem de
militar de Avis no ano de
1200. E neste mesmo ano lhe
deu foral o bispo de Évora
D. Paio.
Acerca da etimologia do seu
nome escrevem alguns
autores, que o modo por que
a fortuna favoreceu os
cristãos na ocasião de a
tomarem aos mouros, que a
defendiam obstinadamente,
fez com que os novos
senhores denominassem aquela
façanha – Beneeventus,
feliz sucesso; e que daqui
viera o nome à terra”.
«Xavier Fernandes em
Topónimos e Gentílicos
(1944)»: “O nome entrou já
formado na nossa língua, o
que parece explicar-se com o
facto de ter sido fundada a
povoação por um núcleo de
estrangeiros, no fim do
século Xll. Os espanhóis
têm, na província de Zamora,
a antiga vila Benaventum e,
no tempo dos antigos
romanos, já havia a cidade
de Benaventum, na região de
Sâmnio (Itália)”.
Benavente
http://www.cm-benavente.pt
Em 1199, a fixação de
colonos estrangeiros na
margem sul do Tejo, conduziu
ao surgimento da povoação de
Benavente. Situada nos
limites do Castelo de
Coruche, subordinado à Ordem
de Calatrava, foi...
Em 1199, a fixação de
colonos estrangeiros na
margem sul do Tejo, conduziu
ao surgimento da povoação de
Benavente. Situada nos
limites do Castelo de
Coruche, subordinado à Ordem
de Calatrava, foi
constituída sob a égide e
senhorio desta Ordem
Militar. Neste facto, se tem
também associado o nome da
povoação, sabido que à mesma
Ordem pertencia também o
Castelo de Benavente, no
Reino de Leão. Benavente,
situada entre Santarém e
Lisboa, é delimitada pelo
rio Sorraia, um dos
principais afluentes do Tejo
e foi o segundo concelho
instituído ao sul deste rio.
Tem foral antigo, dado por
D. Paio, ou Pelágio, mestre
da Ordem Militar de Évora,
em 25 de Março de 1200 e
confirmado em Santarém em
1218 por D. Sancho I. D.
Manuel concede-lhe foral
novo em 16 de Janeiro de
1516. Além disso recebeu
privilégios de vários
monarcas, especialmente de
D. Dinis e D. Fernando.
Benavente, permite definir
um centro histórico
consolidado, uma vez que
toda a área se encontra bem
delimitada pelo rio Sorraia,
a nascente e pela designada
lezíria dos cavalos, na face
poente. O seu centro
histórico assume uma forma
triangular, localizando-se
no vértice o Cruzeiro do
Calvário e no centro, o
local onde se erguia a
antiga Igreja Matriz,
destruída pelo terramoto de
1909.
A vila de Benavente tem
vindo a desenvolver-se no
sentido sul, estendendo-se
pelos terrenos que outrora
área se encontra bem
delimitada pelo rio eram
designados como vinhas e
olivais. Benavente é sede de
concelho e de comarca;
pertence ao distrito
administrativo de Santarém,
ao círculo judicial de Vila
Franca de Xira e à Relação
de Lisboa. Em termos
religiosos pertence ao
arcebispado de Évora.
Actualmente o concelho de
Benavente compreende quatro
freguesias: Barrosa,
Benavente, Samora Correia e
Santo Estêvão.
A população do concelho,
segundo os censos de 1991, é
de 18 335 habitantes. A área
do concelho é de 521,46 Km2.
Benavente
http://www.jf-benavente.pt/htmls
Benavente é sede do concelho
homónimo, no distrito de
Santarém e o seu orago é
Nossa Senhora da Graça.
Localizada num pequeno
esporão sobranceiro ao rio
Sorraia, um dos principais
afluentes do Tejo, Benavente
surge integrada no processo
de Reconquista, como um
território importante para a
consolidação das terras do
baixo Tejo. A política de
povoamento promovida pelo
Rei D. Sancho I procura
aliás incentivar a vinda e
posterior fixação de colonos
francos nesta região. E,
consequentemente, em 25 de
Março de 1200, Pelágio,
Mestre da Ordem Militar de
Évora, mais tarde designada
de Avis, concede Carta de
Foral aos "povoadores de
Benavente, tanto presente
como futuros", tendo sido
confirmada pelo rei D.
Sancho I. A situação
geográfica privilegiada,
facilitando as comunicações
entre Lisboa, Santarém e
Évora, tornaram Benavente o
segundo concelho instituído
na margem esquerda do Tejo.
O local onde foi fundada a
freguesia, apresentava um
amplo espaço para o
crescimento da população,
numa zona facilmente
defensável pelo que a Carta
de Foral veio concorrer,
inevitavelmente, para a
fixação de população nesta
vila e para o seu
desenvolvimento de ordem
social, político e
económico.
Ainda no território de
Benavente, encontramos
referenciados momentos da
ocupação humana anteriores,
nomeadamente durante o
período romano. Com efeito,
na área da freguesia,
localiza-se um complexo
laboral romano datado do
século II d.C., constituído
por um conjunto de fornos
para a produção de ânforas,
na Garrocheira.
No plano eclesiástico, deve
assinalar-se a instituição
da paróquia de Santa Maria
de Benavente, ao que tudo
indica nos princípios do
século XIII.
O património cultural e
edificado de Benavente,
profundamente marcado pelo
sismo de 23 de Abril de
1909, que arrasou algumas
das construções mais
imponentes, apresenta um
conjunto de elementos dos
quais importa destacar: o
edificio dos Paços do
Concelho, a Igreja da
Misericórdia, o Cruzeiro do
Calvário, com miradouro de
onde se avista a lezíria, o
Museu Municipal, o
Pelourinho Manuelino e as
ruínas do Convento de
Jericó, ou Jenicó, de frades
arrábicos, fundado pelo
Infante D. Luís.
Situada no fértil vale do
Sorraia, o solo da campina
benaventense é de formação e
natureza aluvial, resultante
de lentas e sucessivas
sedimentações por meio das
cheias do rio Sorraia, do
rio Tejo e do rio Almansor;
assim, Benavente possui
óptimas condições para a
prática da agricultura e
pecuária, praticando-se uma
grande variedade de culturas
agrícolas que se mostram
extraordinariamente
produtivas; é o caso do
milho, do arroz, do trigo e
da oliveira.
Nas campinas, que constituem
admiráveis paisagens,
pratica-se a criação de
gado. São do mesmo modo
actividades preponderantes
da economia local: a
indústria alimentar e
metalúrgica.
As Lendas de Benavente
http://www.jf-benavente.pt/htmls
Lenda das Bicas, Camarinhais
LocalizaçãoAs nascentes das
Bicas, são nos Camarinhais,
Benavente
DescriçãoUma rainha moura
que não conseguia ter
filhos, passou um dia por
Benavente e bebeu água das
Bicas - as Bicas eram
nascentes de água. Passado
algum tempo engravidou e
desde então a água das Bicas
passou a ser considerada
como muito boa para as
mulheres estéreis.
Origem/InformaçãoPopular
Lenda da Cobra
Localização
DescriçãoUma senhora andava
a amamentar o seu bebé mas
este cada vez mirrava mais.
Certa noite de luar,
enquanto dava mama ao filho,
viu que quem mamava no seu
peito não era o seu bebé mas
sim uma cobra. E esta para
que a criança não chorasse
punha-lhe na boca a ponta do
rabo.
Origem/InformaçãoPopular
Lenda de São Baco
LocalizaçãoConvento de
Jenicó, Benavente
DescriçãoDepois dos frades
terem deixado o Convento de
Jenicó, em 1834, o povo de
Benavente quis trazer a
imagem de São Baco para a
Igreja Matriz. Deslocou-se
um carro de bois para trazer
a imagem, mas os animais não
conseguiam andar. Só quando
desistiram de trazer o São
Baco é que os animais
conseguiram andar
normalmente. Ainda outra
lenda sobre o São Baco -
Todas as pessoas que se
rirem em frente da imagem
acontece-lhes logo a seguir
uma desgraça.
Origem/Informação
Lenda da N.ª Sr.ª da Paz
Localização Benavente
Descrição Com as invasões
francesas as pessoas fugiram
e levaram os santos da sua
devoção. Um dia, um pastor
encontrou uma imagem muito
pequena que apareceu num
olival e foi colocá-la na
capela de São Bento, onde
era dada aos tratos de uma
ermitoa. N.ª S.ª tinha nas
mãos um raminho de oliveira,
de manhã a ermitoa dizia: -
Ai minha santinha! Que
andaste toda a noite na rua
pois tens o manto todo
orvalhado. Diz a lenda que
N.ª S.ª se sentia bem no
campo e ía para lá de noite
e trazia sempre um raminho
de oliveira.
Cartaxo - (Concelho do
Distrito de Santarém)

Uma via romana, que partia
de Olissipo (Lisboa) para
Scallabis (Santarém)
atravessava este território
ou muito perto. Antes dos
romanos, outras civilizações
se fixaram na região,
nomeadamente nos castros de
Vila Nova de São Pedro e na
região de Muge. Os vestígios
materiais até hoje
detectados, datam da Idade
Média, embora na Lapa exista
a Gruta da Lapa que poderá
ser anterior.
Teve o primeiro foral
concedido por D. Dinis em
1312. D. João ll confirmou-o
em 1487 e D. Manuel l
renovou-o em 1496. O Cartaxo
obtém honras de vila em
1656, sendo elevada a
concelho em 1815 por alvará
régio de D. João Vl.
Junot, vindo de Abrantes,
estacionou no Cartaxo. Aqui
teve quartel-general Sir
Arthur Welleley, de 18 de
Novembro de 1810 a 5 de
Março de 1811; e os seus
arredores foram cenário das
lutas liberais, tendo aqui
estacionado também o
marechal Saldanha, em casa
do comendador Dâmaso Xavier
dos Santos.
Na freguesia de Vila Chã de
Ourique situa-se o
encantador Palácio dos
Chavões, que até 1864
pertenceu aos condes de
Unhão e seus descendentes,
alguns dos quais nascidos em
Salvador (Bahia – Brasil).
Origem do nome:
«Xavier Fernandes em
Topónimos e Gentílicos
(1944)»:” O falecido
escritor General Vitoriano
José César, que era natural
do Cartaxo, explicou assim a
origem deste nome: “Não foi
fortificado, pois os
romanos, em geral,
construíam as suas
fortificações em pontos
elevados; o próprio nome
desse acampamento, Castra
chana, mostra que o lugar
não era acastelado. Foi,
contudo, aqui que se
originou a povoação de
Cartachana, ou ainda
Cartachão, e que transformou
em Cartaxo. Só ultimamente é
que foi adoptada a grafia
Cartaxo, que é, um erro”
Cartaxo
http://www.ribatejo.com/ecos
Povoação do distrito e
diocese de Santarém, com
8.265 habitantes (dados de
1987), sede de concelho e de
comarca. Está situada a 6Km
a ONO da margem direita do
rio Tejo, na estrada de
Santarém a Lisboa. Recebeu
forais em 1312, 1487 e 1496
concedidos, respectivamente,
por D. Dinis, D. João II e
D. Manuel I. Da sua
antiguidade conserva apenas
um cruzeiro do século XVI,
junto à igreja paroquial.
Constituído por sete
freguesias, o concelho tem
22.256 habitantes (dados de
1987). É um dos grandes
centros vinícolas do país.
Produz, também, cereais e
azeite e cria gado bovino.
in "Moderna Enciclopédia
Universal", ed. Círculo de
Leitores
Quadro Histórico
"Em princípios do séc. XIII
a região denominada
Estremadura mantinha ainda
em grande parte um deserto
coroado nas suas alturas
pelas cidades de castelos em
volta dos quais abrigava uma
população escassa que a
pouco e pouco ia
empreendendo o desbravamento
dos largos matagais iniciado
pelas principais ordens
monásticas, cujos conventos
eram os únicos e raros
edifícios que avultavam
entre as brenhas. (...)" (1)
É nesta época, durante o
reinado de D. Sancho II, que
o chanceler Pêro Pacheco
recebe os terrenos do
"Reguengo do Cartaxo", com a
condição, entre outras, de
ali construir uma
Albergaria. O seu primeiro
foral foi-lhe dado por D.
Dinis, em Leiria, em 21 de
Março de 1312 e confirmado
mais tarde por D. João II
(1487) e D. Manuel I (1496).
Este lugar foi elevado à
categoria de vila em 1815,
pelo príncipe regente.
"(...) O desenvolvimento
desta vila deve-se sobretudo
à vitivinicultura e à fama
dos seus vinhos, quer em
Portugal quer no
estrangeiro. Pelo foral
concedido pelo Rei Lavrador
já se perdoavam determinadas
contribuições a todos
aqueles que plantassem
vinhas. A Rainha Santa
Isabel quando se dirigia ao
Mosteiro de Almoster em
peregrinação passava sempre
por aqui. Segundo reza a
tradição, foi esta raínha
que principiou a chamar
Cartaxo ao sítio onde se
formou este luger, em
consequência de ali existir
grande número de aves com o
mesmo nome.
As primeiras obras
hidráulicas e agrícolas
realizaram-se durante o
reinado de D. Afonso III por
Frei Martinho, monge de
Alcobaça, que iniciou o
resgate do paúl do Ulmor, no
terreno de Leiria, obra esta
coroada de êxito e que fez
com que até 1304 se viessem
a enxugar os extensos paúis
que constituem hoje os
campos de Salvaterra de
Magos, Muge e Valada" (2)
Das 7 freguesias que compõem
o concelho, Lapa e Vila Chã
de Ourique, são as de
criação mais recente, a
primeira por desanexação da
Ereira em 1921 e a segunda
por desanexação do Cartaxo,
em 1927. Pontével foi em
tempos a freguesia mais
importante da região, em
termos económicos. Porém, e
devido à situação geográfica
(estrada ligando Lisboa a
Santarém e ao norte do
país), o Cartaxo superou-a. Pontével é de origem muito
antiga, reportando-se ao
reinado de D. Afonso
Henriques enquanto comenda
da ordem de S. João. De
Valada, povoação ribeirinha,
afirma-se ser de origem
romana. "(...) Mas é, sem
dúvida durante o domínio
árabe que aparecem os
primeiros documentos
relativos aos seus terrenos
úberes e ricos".(3) Vale da
Pinta e Vila Chã são
povoações ligadas (pelo
menos segundo a lenda e a
história) às conquistas e
incursões cristãs do
primeiro Rei de Portugal,
contra os mouros. Uma das
versões da Batalha de
Ourique situa-a nas "Chãs
D'oric", ou "Casal do Ouro".
(1) in "Cartaxo, um concelho
em desenvolvimento" Junho,
1982. Pag. 1, 2 e 3.
(2) Idem
(3) Idem
in DIAGNÓSTICO
SÓCIO-CULTURAL DO DISTRITO
DE SANTARÉM - ESTUDO 1,
Santarém, 1985, pág. 210.
Lenda do Cartaxo:
http://www.cm-cartaxo.pt/cartaxo
Conta-nos a História, em
particular, através de uma
tradição oral, evidentemente
muito corrompida, exagerada
e subvertida pelo passar dos
tempos, das épocas e das
gentes que nos idos de
duzentos, em terras do que
hoje se situa a Cidade do
Cartaxo, algo de mágico
aconteceu, assim...era uma
vez, uma rainha, pura, bela
e santa, que, em busca de
paz de espirito e contacto
com o Ser Divino, por aqui
passou, pelas terras do "barrio"...onde,
terá repousado e saciado a
sua sede, num local onde
encontrou sombra e uma
fonte...
Estando em repouso,
deparou-se com um bonito
chilreio que ecoava pelos
ares em seu redor, tendo
observado melhor terá
reparado que para além de
cantarem de forma linda,
estas criaturas voadoras
eram também em si lindos,
formosos e galantes. O seu
voo era inspirador de vida e
doçura, sendo sempre
acompanhados pela harmonia e
melodiosidade do seu canto,
como se de um enamoramento
se tratasse ou então...de
uma corte a tão distinta,
ilustre e formosa donzela...
A rainha, tendo avistado uns
camponeses que se dirigiam
para ali...provavelmente em
busca da frescura das águas
correntes que ali existiam
ou das sombras vivas que
refrescavam o local, indagou
junto deles...:
" Senhores,
senhores...perdoai-me!...mas
que canto lindo e formoso é
este que ecoa pelos ares
fora...que enamoramento é
este que soa doce em meu
ouvir...que criaturas são
estas, que espalham beleza e
cor em cada movimento de
bico, em cada abanar de
asa...dizei-me
senhores...sabeis quem canta
esta canção de graça!?..."
Terá então sido olhada por
aquele grupo de homens da
labuta das terras do campo,
onde alguns daqueles
camponeses, lhe responderam
com igual gentileza e
graciosidade... "São
Cartaxos Senhora... estes
pássaros... as criaturas
como lhe chamou, chamam-se
cartaxos... são lindos
cartaxos... ou cartaxinhos...
e são de facto formosos..."
A rainha, possuidora de
enorme sensibilidade e
formosura, agradeceu, tendo
ainda procurado resposta à
sua curiosidade, tentando
saber junto daquele grupo de
camponeses, o nome daquele
local
:"Senhores...dizei-me...qual
é a graça deste lugar...em
que me sinto tão
envolvida...em que me
consolo tão bem com esta
sombra...com esta água
fresca, límpida e
cristalina, em que sou
presenteada com este cantar
tão belo...".
Uma vez mais alguns daqueles
camponeses falaram, usando
de graciosidade e leveza até
pouco comuns a gente
daqueles ofícios:
"...aqui é o Lugar da
Fonte...Senhora"... A
rainha....usando então da
sua graciosidade,
sensibilidade e sobretudo do
seu poder afirmou junto de
todos quantos pudessem
escutar :" ...Pela Graça de
Deus, pelo poder que me foi
atribuído, então...que este
Lugar da Fonte se passe a
chamar de agora em diante
Lugar de Cartaxo, e que seja
assim para toda a
eternidade....e que todas as
gentes saibam... e assim se
faça de acordo com as leis
dos homens sob a presença de
meu marido o muy nobre
el-rey Dom Dinis e de acordo
com as regras de Deus Nosso
Senhor Todo-o-Poderoso, que
ordena sobre o Céu e sobre a
Terra..." .
Tendo dito isto, partiu, não
sem antes dizer:... Que a
todos que interessar mandem
dizer que fui eu... a muy
nobre senhora, rainha Donna
Isabel, quem deu estas
ordens... in dei nominne!"...
e lá foi, prosseguindo o seu
caminho em direcção ao Lugar
de Almoster demandando na
sua peregrinação o mosteiro
aí existente... o Mosteiro
de Almoster. A Rainha de que
aqui se fala não é outra se
não a Rainha Donna Isabel,
também conhecida como Rainha
Santa, a protectora dos
pobres e desafortunados.
A história e o estudo da
evolução dos homens
ensina-nos a desconfiar
deste tipo de tradição oral,
todavia é também um dos
ensinamentos da ciência
histórica, dever aceitar
todos os contributos
existentes que contribuam
para a resolução de dúvidas
e de problemas que possam
existir.
Há poucos estudos ainda
feitos sobre esta suposta
passagem da Rainha Donna
Isabel, também conhecida
como Rainha Santa Isabel,
indo em peregrinação na
direcção ao seu lugar de
repouso espiritual, no
Mosteiro de Almoster,
todavia este contributo
perpetuado pela via
oralizante, sendo ligado a
outros testemunhos que fazem
referência à presença desta
monarca no Mosteiro de
Almoster por idos de
duzentos, ainda no dealbar
da monarquia e da História
de Portugal, encontro algum
fundo de veracidade, que
certamente o estudo dos
homens e o passar dos tempos
hão-de acabar por desvendar.
Artigo de 1937:
O Cartaxo já existia antes
da fundação da nacionalidade
portuguesa. Foi uma das
muitas povoações vítimas das
lutas entre muçulmanos e os
cristãos hispano-godos,
principalmente por estar
próximo de Santarém, pois a
posse desta praça foi por
largo tempo disputada por
cristãos e mouros. Quando em
1093 Afonso VI, rei de Leão
e Castela, veio atacar e
tomar Santarém, não só
arruinou as muralhas desta
antiga cidade, como arrasou
grande número de povoações
circunvizinhas. Em 1111
voltaram os mouros a atacar
Santarém, de que se
apoderaram.
Em 1139, sendo vali de
Santarém Esmar, D. Afonso
Henriques para se vingar da
ofensa feita por aquele vali
a Leiria, cujo castelo
acometera aprisionando a
guarnição, veio devastar os
arredores de Santarém e
travou combate nas Chães de
Ourique com as forças de
Esmar, que tendo sido
derrotado, viu-se obrigado a
acolher-se precipitadamente
àquela praça abandonando até
a sua barraca de Campanha,
onde foram encontrados
vários objectos de valor. D.
Afonso contentou-se com as
devastações feitas e com os
despojos obtidos; nem as
suas forças depois da
batalha lhe permitiam ir pôr
cerco a Santarém.
O Cartaxo, que dos mouros
aprendera a melhor cultivar
as videiras e as oliveiras,
foi uma das vítimas desta
luta. Não admira, pois, que
se encontrasse arruinado no
tempo de D. Sancho II,
chamando-se-lhe um "fogo
morto". Este rei, porém
julgando indispensável
repovoar o lugar do Cartaxo
(sic) e o seu próximo
vizinho, o Cartaxinho (hoje
Ribeira do Cartaxo)
concedeu, para isso, esta
sua terra reguengueira a
Pedro Pacheco, descendente
de Fernão Jeremias - O
Pacheco - , cavaleiro de
Saboya, que viera para a
Península com o Conde D.
Henrique. Devia porém Pedro
Pacheco obrigar-se a
construir neste lugar uma
Albergaria para albergar os
pobres, e, marcando então
aquele rei, os limites
daquele lugar do Cartaxo.
Como o dito Pacheco, nem os
seus descendentes, tivessem
construído a referida
Albergaria, enviaram os
pobradores daquele lugar a
el-rei D. Diniz uma cópia da
carta dada por D. Sancho,
carta esta que existe no
Livro 3º da Chancelaria de
el-rei D.Diniz, a fls.82, e
solicitando do mesmo rei que
lhes desse uma nova carta de
pobramento (povoamento).
Satisfez el-rei D. Diniz o
pedido, dando uma nova carta
e conformando-se com os
limites que tinham sido
marcados por el-rei seu tio.
Esta Carta de foral, datada
de Leiria a 21 de Março de
1312, foi dada por D. Diniz
a um certo número de Homens
Bons para no lugar do
Cartaxo (sic) fazerem uma
pobra (povoação) e
cultivarem o terreno,
impondo-lhes como condição
darem a el-rei em cada ano
um oitavo do pão, vinho e
linho, estando o pão na eira
o vinho no lagar e o linho
no tendal; e só dos terrenos
incultos é que cultivassem,
só passados três anos, ou
cinco sendo das vinhas
exigido o pagamento do foro.
Deviam os pobradores que
viessem construir boas
causas e bons currais. As
malfeitorias contra os
pobradores seriam punidas
com 6.000 soldos, além da
reparação em dobro pelo
prejuízo causado. Daqui se
vê quais eram os produtos
mais importantes que se
exigiam: pão, vinho e linho.
Na carta de foral foram
outorgados o fôro "pera todo
o sempre" a Joham Cavalleiro,
a Lourenço Paes, a Vasco
Giraldes, a Vicente Gil, a
Miguel Domingues do Ardel (Arrudel),
a Gil Fernandes, a Affonso
Fernandes, a Lourenço
Mendes, a Joham Afonso, a
Domingos Vicente, a Joham
Paes, a Vicente Paes, a
Joham Parceiro de Val da
Pinta, a Payo Gpnçalves, a
Payo Vicente do Ardel, a
Affonso Pires, e a todos os
seus sucessores. São pois 20
Homens Bons a quem se fez
aquela mercê. Como nesta
carta não se fizesse
referência aos limites do
Lugar, os seus habitantes
solicitavam que novamente se
declarasse essa marcação, o
que foi concedido pela carta
dada em Lisboa aos 23 de
Maio de 1313. Todas aquelas
cartas foram depois
confirmadas por D. João I
(27 de Junho de 1387) e por
el-rei D. Manuel (3 de
Novembro de 1496).
Para assegurar a permanência
dos repovoadores do Cartaxo
e chamar mais, el-rei D.
Fernando I dirigiu aos
Alvazis de Santarém e a
todas as outras justiças uma
carta pela qual fez mercê a
todos os moradores do
Cartaxo de serem escusados
de irem servir nas
fronteiras em tempo de
guerra. Esta concessão foi
obtida por intermédio de
João Gonçalves (falcoeiro-mor
de el-rei) e foi expedida de
Santarém aos 5 de Maio de
1370 sendo depois confirmada
por el-rei D.João I (25 de
Julho de 1387) e por D.
Manuel (3 de Novembro). -
Concedera D.João I a
Lourenço Pires, seu
caçador-mór, a mercê de
todos os direitos e oitavos
do lugar do cartaxo, e este
nobre vassalo fizera todos
os esforços para aumentar a
população do Lugar chamando
aí novos moradores que
fizeram importantes
benfeitorias; mas como as
Justiças de Santarém
tivessem obrigado alguns
desses moradores a irem
assoldar-se para aquela
vila, desfalcando assim o
número de braços para o
cultivo das terras, Lourenço
Pires fez sentir a el-rei
que havia nisso grandes
prejuízos, pois muitos dos
habitantes queriam abandonar
o Lugar. El-rei, tomando em
conta esta exposição, mandou
que os povoadores do Cartaxo
não pudessem ser obrigados a
ir assoldadar-se para
Santarém.
Esta carta foi dada em Évora
a 30 de Dezembro de 1417.
Foi depois confirmada por
el-rei D. Manuel aos 4 de
Novembro de 1496. Muitas
vezes eram os habitantes do
Cartaxo violentados a dar
pousada, ou a fornecer
roupas e camas aos diversos
fidalgos e outras pessoas do
seu serviço no que muito
eram prejudicados. Ainda as
justiças de Santarém e
vários fidalgos obrigavam os
habitantes do Cartaxo a
fornecer-lhes solípedes, no
que eram muito agravados; e
em vista de uma exposição
que foi dirigida a el-rei
D.Duarte, este pela sua
cartadada em Muja a 2 de
Abril de 1483, determinou
que a tal não pudessem ser
obrigados os habitantes do
Cartaxo, e confirmou-lhes
todas as liberdades e mercês
concedidas e confirmadas
pelos reis anteriores.
Apesar de todos estes
previlégios, parece que não
eram atacadas as resoluções
régias por isso que no tempo
de D.Afonso V, voltam os
povoadores do "Quartaixo" (sic)
a queixar-se que os
Ricos-Homens, cavaleiros,
Donas, Escudeiros e outras
gentes, lhes tiravam
vilentamente o pão, o vinho,
a cevada, as carnes, a
lenha, as galinhas e outras
cousas, pagando-lhes por
menos de metade do seu
valor, D.Afonso V determina
então que tudo o que os
povos pudessem vender, fosse
pelo seu justo valor. Carta
esta datada em Santarém a 10
de Fevereiro de 1436, e
confirmada depois por D.João
II e por D.Manuel. Também o
rei D.Afonso V já tinha
atendido às reclamações dos
Cartaxenses contra as
violências e extorsões
feitas por Gonçalo Galvão,
juiz da vila de Santarém,
mandando que este juiz
restituisse tudo o que
extorquira (carta dada em
Almeirim a 6 de Janeiro de
1458); e ainda D.Afonso se
vira obrigado a expedir uma
carta, dada em Évora a 14 de
Novembro de 1440,
confirmando todos os
previlégios e mercês dados e
outorgados pelos reis seus
sucessores.
Esta carta a mandou el-rei
pelos Doutores Ruy Gomes e
Pero Lobato, este último já
com propriedades no Cartaxo.
A el-rei D.João III deveu o
povo do Lugar do Cartaxo (sic)
licença para poder fazer
bôdo em cada ano nos dias de
Corpo de Deus, de São João,
de São Sebastião, de Santa
Ana e pelo Espírito Santo,
devendo-se tirar de todas as
esmolas 1/4 para os
ornamentos dos altares e
fábricas das respectivas
igrejas. Esta carta foi
expedida de Almeirim a 17 de
Maio de 1534. Durante o
domínio dos Filipes recebeu
também o Cartaxo algumas
mercês. Assim, Filipe I
concedeu que houvesse no
Cartaxo açougue separado de
Santarém, vendendo-se carnes
pelos preços por que se
vendiam naquela vila (Carta
de 20 de Novembro de 1592).
Filipe II mandou publicar um
alvará em que se mandava
proceder à arrematação em
cada ano do verde e da
almotaçaria, sendo 1/3 para
el-rei e 2/3 para obras
públicas do dito lugar,
ficando por isso a Câmara de
Santarém desobrigada de as
pagar (alvará feito em
Lisboa por Pedro de Seixas a
2 de Maio de 1603).
Terminado o governo dos reis
intrusos e tendo sido
proclamado Rei D.João IV,
mandou este publicar um
alvará, concedendo que se
fizesse uma feira no 3º
domingo de Agosto de cada
ano no sítio do Santo
Cristo. Esta feira foi
depois transferida (14 de
Outubro de 1835) para o
Largo do antigo Convento de
S.Francisco. Realizou-se
enfim uma grande aspiração
dos Cartaxenses: a elevação
do Lugar a vila. Esta mercê
foi dada por D.João VI pelo
alvará de 10 de Dezembro de
1815, expedido do Rio de
Janeiro, onde estava a
Corte.
Desta vez foram baldados
todos os esforços da vizinha
vila para evitar uma tal
resolução. Para esta
história deve ter
contribuído a influência dos
Lobatos que estavam na
Corte, pois desde 1802, em
que fôra solicitada aquela
mercê pelos habitantes do
Cartaxo, não tivera
deferimento. Parece-nos,
porém, que tal mercê fora já
concedida pelo rei D.João IV.
De facto, este rei no seu
testamento de 2 de Novembro
de 1656 declara que D.Maria
Josefa de Stª Teresa era sua
filha que tivera, fora do
matrimónio, de uma senhora
de sangue limpo, e a ela faz
mercê da Comenda maior de
S.Tiago e das vilas de
Torres Vedras e Colares, e
dos lugares de Azinhaga e
Cartaxo, que faz vilas, com
jurisdição à parte, sujeitas
à Lei Mental. Esta doação
foi confirmada por el-rei
D.Afonso VI (18 de Novembro
do mesmo ano) e por el-rei
D.PedroII. Aquela Infanta
professou no Convento de Stª
Tereza de Jesus, de Carnide,
e faleceu a 7 de Fevereiro
de 1693. Portanto, desde
1656 que o Cartaxo tinha
honras de Vila.
In: Boletim Oficial das
Festas do 1º de Maio do
Cartaxo, Ano de 1937. Artigo
do General Victoriano José
César.
Chamusca – (Concelho do
Distrito de Santarém)

Segundo alguns
historiadores, recebeu foral
em 1561, durante a
menoridade de D. Sebastião,
durante a regência de D.
Catarina.. Filipe lll
elevou-a a vila e doou-a a
Rui Gomes da Silva, príncipe
de Eboli. Pertenceu à Casa
dos Silvas de meados do
século XV até à Restauração.
A partir de 1643, passou a
integrar o património da
Casa das Rainhas, tendo-se
mantido nessa situação até
1833.
Origem do nome:
«Xavier Fernandes em
Topónimos e Gentílicos
(1944)»: “Conta uma lenda
que Chamusca provém da
expressão chão busca,
proferida por um rei e
dirigida a um cavaleiro, a
quem o soberano queria
recompensar os serviços,
indicando-lhe assim que lhe
daria o terreno escolhido,
que foi local que hoje é uma
vila e sede de concelho do
distrito de Santarém. Diz a
lenda que esse cavaleiro foi
Rui Gomes da Silva, o
príncipe de Eboli, e que no
rei foi Filipe l (ll de
Espanha) e ainda que o
suposto facto se teria dado
em 1590. Mas o povoado de
nula importância, já existia
em reinados anteriores,
tendo havido até quem
afirmasse que D. Sebastião
lhe concedeu foral. Como
certo apenas se pode dizer
que foi no tempo de Filipe l
que a Chamusca recebeu
honras de vila. Também por
outro lado e ao contrário do
que se aventou, não é de
crer que Chamusca, topónimo,
seja o mesmo vocábulo, nome
comum feminino, chamusca,
acto ou efeito de chamuscar,
até porque não há facto
histórico conhecido que
fundamente essa suposição”
Chamusca
http://www.cm-chamusca.pt/chamusca
Corria o ano de 1449, sob
regência de D. Afonso V, as
terras de Chamusca e Ulme
são doadas a D. Ruy Gomes da
Silva, que por essa ocasião
aqui fixa a sua residência.
A Chamusca, era inicialmente
integrada no termo de
Santarém, sendo mais tarde
elevada a vila e sede de
concelho, juntamente com
Ulme, por alvará de 1561,
na regência de D. Catarina.
É testemunho de pertença à
famosa "Casa dos Silvas", o
leão rompante de púrpura e
armado de azul, do seu
brasão de família, de meados
do século XV até à
Restauração. Património que
ainda hoje perdura, sendo
parte integrante no Brasão
de Armas da Vila da Chamusca
(aprovado em Maio de 1934
pelo Governo de então).
A partir de 1643, após o
reinado dos Filipes, passou
a integrar o património da
Casa das Rainhas, tendo-se
mantido nesta situação até à
época liberal (1833).
Por aqui passaram algumas
das mais importantes figuras
da história de Portugal,
nomeadamente as hostes de D.
Afonso Henriques, D. Sancho
I e o Rei D. Manuel, entre
outros. Dos grandes feitos
do povo chamusquense,
destaque-se a sua atitude no
tempo das "Invasões
Francesas" quando, para
defender a sua terra, os
pescadores queimaram muitos
dos seus barcos (cerca de 75
embarcações) para evitar a
passagem da tropas Francesas
que estavam aquarteladas na
outra margem do rio.
São famosos os seus vinhos
produzidos nas terras da
Rainha e muito apreciados na
Corte. Quando o Marquês de
Pombal mandou arrancar as
Vinhas do Ribatejo, as da
Chamusca foram por isso
poupadas. A Chamusca teve
barcas de passagem em
diversos portos ao longo do
rio Tejo, dos quais ainda
subsiste a que liga o
Arripiado a Tancos.
Todavia a principal ligação
entre as duas margens é
assegurada pela Ponte da
Chamusca desde 4 de Novembro
de 1909, sendo esta,
construída por iniciativa do
grande benemérito da Vila de
Chamusca, o Dr. João Joaquim
Isidro dos Reis (1849-1924),
no início do Século XX.
Intimamente ligada à
história de Portugal por
numerosas efemérides, a Vila
da Chamusca é do ponto de
vista urbanístico uma
povoação interessante. Terra
branca, preserva alguns
edifícios e pormenores
apreciáveis e um traçado
urbano aliciante que merece
uma visita a pé. As vistas
sobre a lezíria que se
alcançam das colinas da
Senhora do Pranto e do
Senhor do Bonfim, são das
mais vastas e deslumbrantes
de Portugal.
Sendo um Concelho imenso, a
Chamusca integra realidades
e paisagens muito
diversificadas, desde as
ricas terras da Borda d'água,
das mais férteis da Europa,
até à Charneca na transição
para o Alentejo,
predominantemente ocupada
por floresta. Profundamente
ligada ao trabalho da terra
e à criação de gado, a
Chamusca tem na "Semana da
Ascensão" e na festa brava,
duas das mais significativas
e mais belas expressões da
sua identidade rural.
Lenda da Chamusca
http://www.eb1-carregueira-chamusca.rcts.pt
Olá eu, sou a Ana Raquel
Morgado Gouveia e sou aluna
da Carregueira e vou te
contar uma história que a
minha mãe me contou e que
estudámos na escola.
O Príncipe feliz
Conta a lenda que numa
coluna muito alta estava a
estátua do príncipe feliz.
Era feita de ouro fino, os
seus olhos era duas grandes
safiras e tinha um grande
rubi na sua espada. Numa
noite de Inverno, chegou à
cidade uma andorinha que se
abrigou nos pés da estátua
do príncipe feliz. Nessa
noite, quando a andorinha
poisou nos pés do príncipe e
se preparava para dormir,
caiu-lhe uma gota de água. A
andorinha achou estranho,
pois não havia nenhuma nuvem
e o céu estava cheio de
estrelas. Entretanto, caíram
mais gotas, primeiro uma,
depois duas, a seguir três…
A andorinha, olhou
para cima e viu que a
estátua do príncipe feliz
estava a chorar.
A andorinha
perguntou:
- Porque choras?
O príncipe
respondeu:
- Quando eu estava
vivo, tinha um coração
humano! Todas as coisas no
meu palácio eram bonitas e
alegres, por isso, me
chamavam o príncipe feliz.
Agora, estou morto e
puseram-me neste lugar. Vejo
toda a miséria do meu povo
e, mesmo agora, que tenho um
coração de pedra, não
consigo parar de chorar.
Por curiosidade, a
andorinha decide ver com os
seus próprios olho a tal
miséria de que o príncipe
falava. Para seu espanto, a
andorinha vê uma casa muito
pobre. Lá dentro estava uma
mulher a bordar um vestido
que uma das damas da rainha
usará no baile real, a um
canto estava o seu filho
faminto e doente. Mas, a
pobre da mulher não tinha
nada para lhe dar.
O príncipe pediu à
andorinha se lhe levava o
rubi da espada à pobre da
mulher, já que não podia
sair dali. A andorinha
chocada com a pobreza leva o
rubi à mulher. Contente com
a sua boa acção, a andorinha
adormece aos pés da estátua
do príncipe.
No dia seguinte, a
andorinha despede-se do
príncipe mas este pede-lhe
se podia ficar mais uma
noite, porque havia um homem
que estava a escrever uma
peça de teatro, não tinha
com que se aquecer e tinha
demasiado com fome. O
príncipe pediu à andorinha
se lhe levava uma das
safiras dos olhos ao pobre
do homem. A andorinha por
mais uma vez o que a estátua
mandou. O homem ao ver a
safira disse:
- Deve ser de um
grande admirador, agora já
posso me aquecer, e comprar
alguma comida.
No outro dia,
passou-se a mesma coisa. A
andorinha ia para se
despedir mas o príncipe
pediu-lhe para ficar mais
uma noite, porque havia uma
menina muito pobre que
vendia fósforos, mas chorava
porque tinha caído no lago,
ais uma vez o príncipe pediu
à andorinha para levar à
menina a outra safira.
A andorinha agora
não podia deixar o príncipe,
ele estava cego. A andorinha
prometeu que voaria sobre a
cidade e lhe contaria o que
se passava. À medida que
percorria a cidade ia vendo
mais pobres, quando príncipe
recebeu a noticia disse:
- Distribui todas
as lâminas de ouro aos
pobres da cidade.
A andorinha
distribuiu todo o ouro, aos
pobres.
À medida que o
tempo passava, a andorinha
ficava com mais frio e ia
debicando as migalhas que
estavam à porta da padaria.
Um dia, a andorinha
apercebeu-se que ia morrer e
voou para o ombro do
príncipe e disse:
- Adeus, meu
querido príncipe permite-me
beijar-te a mão!
- Compreendo que te
vás embora para o Egipto,
mas sim para o reino dos
céus. Mas eu também te amo.
A andorinha beijou
o príncipe nos lábios e caiu
morta a seus pés. Nesse
momento, ouviu-se um estalo
era o coração de pedra,
tinha-se partido em dois.
No dia seguinte,
mandaram derrubar e queimar
a estátua. Mas, por mais que
tentassem, não conseguiram
queimar o coração de pedra
rachado ao meio. E atiraram
o coração para o mesmo sítio
onde estava a andorinha
morta.
Nesse momento, Deus
dizia a um anjo:
- Traz-me duas
coisas valiosas da cidade.
E o anjo levou-lhe
a andorinha e o coração.
Deus disse-lhe:
- Escolhes-te bem,
porque no jardim do paraíso
esta andorinha dançará
eternamente e o príncipe
feliz cantará em meu louvor!
Constância – (Concelho do
Distrito de Santarém)

Supõe-se que Constância já
existia no ano 100 antes de
Cristo. Por lá passaram
iberos e romanos e foi
Gonçalo Mendes da Maia “o
Lidador” que a conquistou
para o Reino de Portugal. Na
freguesia de Santa Margarida
da Coutada existem as ruínas
de Alcolobre que testemunham
a presença dos romanos nesta
região.
Com foro de vila a partir de
1578, concedido por D.
Sebastião, a pedido de Silva
Gomes, o Sapateiro Santo,
esta povoação teve o nome de
Punhete até 1836, data em
que passou a chamar-se
Constância. Segundo a
tradição, Camões teria
estado aqui desterrado, em
consequência dos seus amores
mal sucedidos com Catarina
de Ataíde.
Origem do nome:
«Américo Costa em
Dicionário Corográfico de
Portugal Continental e
Insular – 1936»: “São do
Domingo Ilustrado, os
períodos que se seguem:”Vila
situada no declive de um
monte em cuja base corre o
rio Tejo pelo sul, e o
Zêzere pelo oeste. O seu
nome anterior ao actual foi
Punhete, segundo escritores,
corrupção da expressão Pugna
tage – cuja tradução é
combate no Tejo, em língua
romana.
Originou este nome a
sanguinolenta batalha que aí
se travou entre as hostes
romanas e os guerreiros da
Lusitânia, 200 anos antes de
Cristo. Vencidos estes, os
vencedores fundaram a
povoação. Contraditam a
origem enunciada outros
investigadores da história
antiga, e entre esses André
de Resende, nas suas
Antiguidades da Lusitânia,
pronunciando-se pelo nome de
Moro, que segundo a sua
opinião, lhe eram os mesmos
fundadores”. …
Passou a denominar-se
Constância por decreto de 7
de Dezembro de 1836,
assinado por D. Maria ll,
com o título de: “Notável
vila de Constância”.
«Xavier Fernandes em
Topónimos e Gentílicos
(1944)»: “É o mesmo nome
comum constância, tirada do
latim constantia. A vila
chamou-se Punhete, mas, por
Decreto de 7 de Dezembro de
1836, foi-lhe mudado o nome
e elevada à categoria de
“notável” pela rainha D.
Maria ll, em atenção ao
“generoso grito dos seus
habitantes pela aclamação
dos direitos reais e das
públicas liberdades na vila
de Tomar, em 23 de Junho de
1833 (sic)”.
Constância
http://www.alvega.info
Constância é uma vila a
descobrir. Situada na
confluência do Tejo e do
Zêzere, forma quase uma
península. Foi neste espaço
restrito que a vila se
instalou, subindo pela
encosta. Em cada recanto um
beco florido, arcos,
mirante. As ruas estreitas
muito frescas e limpas,
irrepreensivelmente
calcetadas conduzem, por
entre paredes cobertas de
verdura, à Igreja de Nossa
Senhora dos Mártires de onde
se avista um magnífico
panorama.
No ano 100 a.C. crê-se que
Constância já existiria. Por
aqui terão ainda passado
iberos, romanos, godos e
árabes. Os cristãos tê-la-ão
reconquistado no ano de 1150
sob o comando do Lidador da
Maia, Gonçalo Mendes.
Reconstruiu-se o seu castelo
em 1152 por expressa ordem
do mestre da Ordem do templo
Gualdim Pais, que D. Afonso
Henriques lhe cede
oficialmente em 1169. O
castelo, no século XVI,
aparece na posse dos Sande,
senhores de Punhete que aí
fizeram vultuosas obras que
lhe mudaram a feição,
mantendo a torre, já com um
aspecto quinhentista,
integrada no seu palácio. No
século XIX da torre e do
palácio já só restavam
ruínas. Em 1904 a câmara
para “acabar com o foco de
infecção (...) no sítio
denominado torre”, manda-a
demolir.
Simultaneamente
desenvolve-se o burgo, o
alcaide de então, que era
também senhor da Casa da
Torre dedicou especial
atenção ao desenvolvimento
económico de Constância,
quer das azinhas e quintas,
quer das estacarias e
caneiros do Zêzere. As
actividades relacionadas com
o rio, pesca, secagem do
peixe, venda do pescado e de
sal - eram as principais
ocupações da população, o
que é reforçado pela decisão
de D. Pedro I que determina
todo o movimento de
mercadorias com destino a
Lisboa fosse aqui embarcado.
Aí terão estado D. Sebastião
e Camões. D. Sebastião veio
para Constância em 1569
fugindo à peste que assolava
Lisboa, voltando outras
vezes. Foi este jovem rei
que concedeu foral a
Constância, em 1571 e foi
daqui que anunciou à nobreza
a sua intenção de embarcar
para Alcácer Quibir.
Constância foi reconstruída
depois das invasões
francesas, fazendo então
algumas alterações
urbanísticas como a mudança
da praça para a zona norte
da casa dos Arcos, local
actual.
Em 1836 dá-se a alteração do
nome da vila de Punhete cuja
origem será, supostamente
Pugna Tage que significa
combate no Tejo, alusivo ao
violento encontro das águas
do Zêzere e do Tejo, para a
actual designação de
Constância. D. Maria II como
agradecimento do apoio que
recebera da vila em 1833, em
Tomar, deu-lhe o título de
“Notável” em 7 de Dezembro
de 1836. Esta rainha esteve
na vila tendo pernoitado no
palácio. A vila possuía dois
portos, o porto da Cova, da
casa da Torre e o porto da
Barca, que era público, e
servia o numeroso trânsito
fluvial que demandava a
vila.
Da vila, que é toda ela um
monumento só, destacam-se as
seguintes construções, o
pelourinho, reconstruído
após as invasões francesas,
é do século XIX; a igreja da
Misericórdia fundada em 1696
foi restaurada entre 1901 e
1903 e muito danificada pela
cheia de 1941, voltando ao
culto em 1960, é de uma só
nave, sendo as paredes
revestidas de azulejos dos
séculos XVII e XVIII; e a
capela de Santa Ana cuja
construção se iniciou em
1707.
A Igreja de Nossa Senhora
dos Mártires testemunha a
passagem do maneirismo ao
barroco, a sua construção
foi bastante atribulada com
sucessivas paragens,
mediando mais de cento e
cinquenta anos entre o
início e a conclusão dos
trabalhos. Nos arredores de
Constância situa-se a capela
de Santa Bárbara, na quinta
do mesmo nome que pertenceu
os Jesuítas e hoje é
particular.
A capela de Santo António
que teve associada a lenda
de ter sido a segunda capela
a ser erigida a este santo
após a sua canonização em
1231, o que é discutível.
Segundo outra corrente de
opinião a capela teria sido
erigida pelo povo para
lembrar o local onde o santo
brincara em criança, uma vez
que seus pais possuíram uma
propriedade no local. Santo
António quando queria
deslocar-se a Constância e
não tinha barco para
atravessar o Tejo, estendia
o casaco ou o lenço,
sentava-se nele e
atravessava, assim, o rio.
Nas paredes laterais estão
painéis de azulejo onde se
representam os milagres do
santo.
Do património urbano de
Constância refira-se ainda a
casa-museu Vasco de Lima
Couto; o palácio, casa do
século XIX; a casa do Tejo
dos finais do século XVIII;
a casa de Preanes; a vivenda
de Santo António, exemplo de
“casa portuguesa”, são
alguns exemplos do
património de Constância.
Grande importância para o
concelho de Constância têm
as festas de Nossa Senhora
da Boa Viagem, que se
realizam na segunda-feira de
Páscoa, dia em que uma
procissão desfila pelas ruas
da vila, ao que se segue a
bênção dos barcos. Esta
festividade remonta, pelo
menos ao século XVIII,
datando de 1788 o primeiro
documento conhecido que a
ela se refere e que é uma
provisão de D. Maria a
autorizar um altar a esta
santa na igreja dos
Mártires. Na origem de tudo
os mareantes. Nos últimos
anos a vila engalana-se de
flores de papel,
embriagando-se de cor e
beleza.
Imprescindível é referir o
artesanato local de que as
“monas”, as conhecidíssimas
bonecas de pano e cana, são
o melhor exemplo.
Fonte: Anafre — 2002-06-08
Constância
http://www.ribatejo.com/ecos
Povoação portuguesa do
distrito e diocese de
Portalegre e Castelo Branco
e comarca de Abrantes, com
909 habitantes (dados de
1987). Sede de concelho. Até
7-12-1836 teve o nome de
Punhete. Está situada em
anfiteatro, na confluência
entre o Zêzere e o Tejo. De
interesse artístico a igreja
paroquial (1636,
profundamente restaurada no
século XIX), com trabalhos
de mármore e o tecto pintado
por José Malhoa, em 1890, e
a igreja da Misericórdia,
forrada de belos azulejos, e
o pelourinho.
Constituído por três
freguesias, o concelho tem
5.180 habitantes (dados de
1987). A sua economia
assenta na agro-pecuária.
in "Moderna Enciclopédia
Universal", ed. Círculo de
Leitores
Quadro Histórico
a história "antiga" de
Constância muito se fala,
talvez muito se conhe ça ...
porém, da história recente,
dos séculos XVIII, XIX e
mesmo princípios do presente
século XX, nada nos chegou.
Que Constância foi, em
tempos, antes da construção
do caminho de ferro (linhas
do Norte e Leste), uma
região muito próspera, é um
facto. À semelhança da sua
vizinha Vila Nova da
Barquinha, foi porto por
onde passavam todas as
grandes "transacções"
comerciais efectuadas via
Tejo até à capital do país.
A ponte ferroviária foi
construída em 1862.
Com uma "notável"
localização, anfiteatro do
Tejo e do Zêzere, nela
poderemos encontrar inúmeras
casas senhoriais atestando a
sua importância na escolha
dos momentos e locais de
lazer da classe senhorial do
nosso reino.
Com o advento do caminho de
ferro, toda esta região foi,
a pouco e pouco, perdendo a
sua hegemonia, económica e
social, em favor de outras.
Poderemos dizer que,
presentemente, Constância é,
de certa forma, um concelho
estabilizado.
Das freguesias de Montalvo e
de Stª Margarida não é
conhecida a sua evolução
histórica.
De Constância sabe-se que é
povoação muito antiga,
remontando, pravavelmente, à
dominação Romana (ano 100
A.C.), com o nome de
Pugna-Tagi, que significa
"Combate no Tejo".
Esteve, mais tarde, sob o
domínio árabe, sendo
conquistada aos mouros pelo
"lidador" Gonçalo Mendes da
Maia. Chamava-se então "Punhete".
Os Templários ocuparam, por
algum tempo, o seu castelo,
hoje destruído.
O Rei D. Sebastião viveu,
por diversas vezes, em
Constância, na "Torre" do
castelo (1559). Em 1578,
este Rei concedeu-lhe honras
de vila, sem foral. Em
Dezembro de 1836, D. Maria
II altera o seu nome pare
"Notável Vila de
Constância".
O mais ilustre dos seus
habitantes foi Luís de
Camões, ali desterrado no
cumprimento de uma pena
provocada pelas sues
ligações com Catarina de
Ataíde (1548-1550).
in DIAGNÓSTICO
SÓCIO-CULTURAL DO DISTRITO
DE SANTARÉM - ESTUDO 1,
Santarém, 1985, pág. 252.
Constância
http://www.portugaltravelguide.com/pt
Refúgio de poetas e de reis,
Constância acolheu grandes
figuras das letras do nosso
país, como Camões e
Alexandre O'Neill. Conhecida
como Vila Poema, encontra-se
no cimo de uma colina, na
confluência entre o rio
Zêzere e o Tejo.
O que visitar: Igreja de
Nossa Senhora dos Mártires,
o pelourinho, jardim
Camoniano, o Monumento a
Camões e a Casa de Camões.
Nos arredores: Estação
romana do Alcobre, Abrantes,
Santarém.
Coruche – (Concelho do
Distrito de Santarém)

Conquistada aos mouros por
D. Afonso Henriques em 1166,
foi perdida e recuperada em
1182 por este monarca, que
lhe concedeu foral no mesmo
ano, confirmado em 1218, por
D. Sancho l, e em 1513, D.
Manuel l outorgou-lhe foral
novo.
Origem do nome:
«Do, Arquivo Histórico de
Portugal – 1898»: “O
primitivo nome de Coruche
seria pois Coruja, que com o
andar dos tempos se
corrompeu, reduzindo-se ao
que hoje é usado, o que
parece confirmar-se pelo
emblema adoptado nas suas
armas”.
Coruche
http://www.ribatejo.com/ecos/coruche
A povoação de Coruche, de
que não se conhece a origem
com segurança, existe desde
época muito remota, havendo
achados vários que atestam a
presença humana desde o
Paleolítico.
Situada na encosta
sobranceira à margem direita
do Rio Sorraia, conheceu
outrora a existência de uma
fortificação no cimo do
monte, que os árabes
arrasaram em 1180, não mais
se reconstruindo.
Coruche foi conquistada aos
mouros por D. Afonso
Henriques em 1166 e doada
pelo rei à ordem de Aviz 10
anos depois. O mesmo monarca
concede-lhe foral em 26 de
Maio de 1182.
O Concelho de Coruche, com
uma população aproximada de
28.000 habitantes possui a
sua maior riqueza na
agricultura, onde labora 44%
da sua população activa.
Na pujante e fertilíssima
campina do Vale do Sorraia
desenvolve-se intensa
actividade agrícola e
pecuária, sendo a charneca
coruchense constituída, em
grande parte, por montado de
sobro, que torna Coruche o
primeiro produtor mundial de
cortiça a nível concelhio.
O Concelho possui alguma
indústria, com especial
relevância para a
transformação dos produtos
agrícolas, sendo a Zona
Industrial do Monte da Barca
um factor importante no
desenvolvimento económico
local.
in "Roteiro Turístico",
Região de Turismo do
Ribatejo
Quadro HistóricoA história
de Coruche, perdida no
tempo, remontando à Era da
dominação romana, está
intimamente ligada à
AGRICULTURA, característica
que continua a acompanha-la.
Segundo o "Estudo Histórico
de Coruche", a origem de
Coruche remonta à época de
pacificação das zonas
conquistadas pelos romanos,
direccionadas para as
regiões mais ricas do ponto
de vista agrícola. Temos
assim Coruche fundada
pacificamente, por
circunstâncias económicas.
Esta região possui ainda
hoje vestígios de diversas e
importantes obras de
engenharia hidráulica
romana. À altura, as
principais produções
agrícolas eram os cereais, o
azeite, a bolota, a figueira
e a vinha.
Ainda da época romana nos
vêem os latifúndios que
geraram importantes centros
de exploração agrária, dando
origem a importantes
aglomerados populacionais em
todo o concelho: "A vila de
Coruche não conserva
quaisquer características
medievais. Possui, sim, as
características dos povoados
ribatejanos não
fortificados, os quais se
alongam junto de um rio ou
de uma estrada, indiferentes
à urbanização, procurando
antes a facilidade de uma
rápida comunicação com o
exterior para fins
comerciais e agrícolas"(1).
Sobre a dominação árabe
poucos documentos existem.
Coruche é tido como um local
de puro interesse
estratégico na defesa e
ataque de Santarém pelos
mouros, e não como local
cobiçável pela sua possível
riqueza. Aí permaneceu fixa
uma população entregue à
lavoura e à exploração da
terra arável.
Em 1176 foi Coruche doada
por D. Afonso I à Milícia da
Ordem de S. Bento de Évora
(mais tarde Ordem de Avis),
com o seu castelo. Ficava,
assim, Santarém defendida
por uma linha avançada e a
reconquista avançando para
terras do Alentejo. O foral
de concelho foi-lhe dado
pelo mesmo monarca em 1182,
com o consequente aumento
populacional e
desenvolvimento comercial e
agrícola. Privilégios e
concessões sucessivas dos
poderes temporais e
religiosos foram atraindo a
esta região um grande número
de "colonos". A essa altura
desfrutava também esta
região de uma importante
localização, no cruzamento
de caminhos para Évora,
Santarém, Badajoz, Sevilha e
Alcácer.
Em consequência da Lei das
Sesmarias, em 1429 é criado
o concelho de Erra que,
tendo atingido o seu auge no
início do séc. XVI, decaiu
pouco tempo depois por não
possuir vitalidade própria
nem economia minimamente
auto-suficiente. Os lugares
de Couço, Pêso, Santana do
Mato e Santa Justa foram
também importantes
localidades de origem e
sobrevivência rurais do séc.
XVIII.
Temos assim uma região cuja
história, povoamento e
determinante económica,
foram profundamente marcadas
pelas intenções de
povoamento dos nossos
primeiros reis, pelos
aforamentos, pelas dádivas
de terras, pela Lei das
Sesmarias. Os séculos XVI,
XVII e XVIII foram épocas de
grande importância económica
da região, que chegou a ser
a primeira a nível nacional
no fabrico de cortiça e de
vinho. Este desenvolvimento
prova-se ainda pela
importância do comércio,
que, à altura, beneficiava
de boa navegabilidade do
Sorraia onde se localizavam
importantes portos.
O grande incremento da
agricultura desta região e a
ausência de investimentos a
nível industrial, a
existência de grandes
latifúndios baseados
essencialmente na produção
de cortiça, vieram a
determinar a chegada de
Coruche à 2ª metade do séc.
XX - em que estamos -
reduzida à sua condição de
dependente da agricultura e
da terra.
À semelhança do seu "co-progenitor"
Alentejo, a história mais
recentede Coruche é a
história da luta do povo
rural pela sue
sobrevivência... é a
história da recente Reforma
Agrária.
(1) Ribeiro, Margarida -
"Estudo Histórico de
Coruche", Câmara Municipal
de Coruche, 1959
in DIAGNÓSTICO
SÓCIO-CULTURAL DO DISTRITO
DE SANTARÉM - ESTUDO 1,
Santarém, 1985, pág.
272-273.
Coruche
http://www.cm-coruche.pt/coruche
Ocupando uma superfície de
1120,2 km2, onde se
distribuem oito freguesias,
o concelho de Coruche é o de
maior em extensão do
distrito de Santarém e o
décimo a nível nacional.
Está situado na margem sul
do Tejo, numa zona de
transição do Ribatejo para o
Alentejo. Aliás, numa parte
do seu território há nítidos
relances da paisagem
alentejana, que há-de
dominar depois da Quinta
Grande, podendo-se dizer que
é o Alentejo que começa,
antes que as divisões
administrativas lhe tenham
marcado o início.
O concelho de Coruche, um
dos mais importantes centros
agrícolas do País, é
constituído por duas zonas
distintas: as vastas
lezírias do Sorraia, que
este afluente do Tejo
fertiliza dos seus
riquíssimos nateiros e uma
zona florestal, constituída
principalmente por montado
de sobro, do qual se extrai
10% da cortiça nacional.
Parte da área agrícola é
formada pela conhecida
charneca que Almeida Garrett
tão bem cantou nas suas
"Viagens na Minha Terra":
"... breve nos achamos em
plena charneca. Bela e vasta
planície! Desafogada dos
raios de sol, como ela se
desenha aí no horizonte tão
suavemente! Que delicioso
aroma selvagem exalam estas
plantas, acres e tenazes de
vida, que a cobrem e que
resistem verdes e viçosas a
um sol português de Julho!".
Por aqui apareceram vários
vestígios pré-históricos
como os do Cabeço do Marco,
da Fonte do Cascavel, da
Herdade da Agolada e dos
terraços da Azervada e da
Azervadinha. Igualmente bem
documentado encontra-se o
período romano com os
achados das herdades de
Mata-Lobos, Mata-Lobinhos,
dos Pavões e da Zambaninha,
mas essencialmente os da
Quinta Grande, que
constituem o melhor e mais
rico espólio romano do
concelho. Da mesma época
seria o Castelo de Coruche,
que foi totalmente arrasado
pelos árabes no ano de 1180.
Dois anos depois dar-se-ia a
reconquista definitiva da
vila, crendo-se que a partir
daí ela terá perdido toda a
sua importância militar, o
que pode explicar o abandono
da fortaleza e
consequentemente a sua
ruína. O ano de 1182 marca a
elevação da vila a concelho,
mas no território do actual
concelho de Coruche outros
existiram como os de Vila
Nova da Erra e da Lamarosa.
Estes dois seriam extintos
em 1836, pela reforma de
Mouzinho da Silveira,
passando ambos à categoria
de freguesia e integrados no
actual concelho.
Durante os 100 anos
seguintes novas alterações
administrativas tiveram
lugar e em meados do século
XX o concelho estava
reduzido apenas a duas
freguesias, Coruche e Couço,
que tinham anexado as
anteriores. A partir de
1962, ano em que foi criada
a freguesia de S. José da
Lamarosa, o concelho foi
objecto de um reajustamento
administrativo que
resultaria, em 1984, na
criação de mais cinco
freguesias: Branca, Erra,
Biscainho, Fajarda e Santana
do Mato. Nestas oito
freguesias guardam-se
exemplares artísticos e
arquitectónicos que formam
um conjunto monumental de
grande valor. As Antas do
Peso, a Ponte da Coroa, o
Aqueduto do Monte da Barca,
o Centro Histórico de
Coruche, com edifícios de
boa traça, e o grande número
de casas rurais tradicionais
da freguesia de Erra
figurariam obrigatoriamente
em qualquer roteiro de arte.
Mas é nos templos de culto
que ela atinge a maior
expressão. A Igreja de Nossa
Senhora do Castelo, com o
seu notável miradouro, é a
memória da desaparecida
fortaleza. Nas igrejas de
São Pedro, Santo António e
Santa Ana pontifica a bela
azulejaria do século XVII.
Da mesma época é a Igreja da
Misericórdia, com pinturas
de grande valor. A escultura
ganha o maior sentido na
imagem da Senhora Santa Ana,
peça quinhentista cheia da
carácter que sai fora do
plano de curiosidade das
interpretações populares. Os
ruralismos manuelinos
encontram-se bem visíveis no
templo de Santa Justa.
Mas se arte plástica é
cultura, a gastronomia não o
é menos, principalmente
quando é encarada como parte
integrante do património
duma região. Foi sob este
espírito que nasceram as
Jornadas de Gastronomia do
Concelho de Coruche,
realizadas no início do mês
de Maio. É verdadeiramente
rica a cozinha coruchense,
com algumas das suas obras
de arte já impressas em
compêndios como "Comeres de
Coruche" e "Coruche à Mesa e
Outros Manjares". Iguarias
como a "sopa de feijão frade
do Couço", a "açorda de
bacalhau à moda de Coruche",
a "cachola e febra de azeite
e vinagre", o "bucho
recheado do Couço", a "sopa
rica de bacalhau do Couço",
a "cachola com batatas", o
"arroz de entrecosto"
oriundo da Lamarosa, e o
"cabrito frito", entre
muitas outras receitas, não
esquecendo a doçaria, por
exemplo os "bolos fintos de
Coruche", as "areias do
Sorraia", o "bolo de batata
doce do Couço", os "bolos
brancos" e o "bolo de nozes
de Coruche".
Entroncamento – (Concelho do
Distrito de Santarém)

Com a criação da linha
férrea do norte e sua
bifurcação com a linha do
leste, nasceu o
Entroncamento. Houve que aí
fazer residir famílias de
ferroviários, cuja função
essencial era manter viva a
grande máquina do “cavalo de
fogo”. Equipada a povoação
com bens colectivos e
construídas as habitações
operárias pela Companhia
Real dos Caminhos de Ferro,
estava criada a povoação do
Entroncamento.
Origem do nome:
«Xavier Fernandes em
Topónimos e Gentílicos
(1944)»: “É, pois,
designação toponímica,
tirada do homógrafo nome
comum de entroncar mais o
sufixo nominal – mento.
É uma das mais modernas
povoações de Portugal e deve
o seu rápido desenvolvimento
ao facto de lá se
encontrarem duas das mais
importantes linhas
ferroviárias portuguesa – a
do norte e a de leste Beira
Baixa. Local absolutamente
despovoado na época da
construção da via férrea,
chamou-se primeiramente
Estação das Vaguinhas, mas
ficou-lhe depois o nome de
Entroncamento por ser o
primeiro em linhas
portuguesas, pois aos
restantes foram dados os
nomes dos respectivos locais
– Alfarelos, Casa-Branca,
Pampilhosa, Pinhal Novo,
etc.
Sede de freguesia desde
1926, e oficialmente
considerada vila desde 1932
e elevada à categoria de
sede de concelho”.
Entroncamento
http://www.cm-entroncamento.pt
O Entroncamento é cidade e
sede de concelho com 13,8
quilómetros quadrados e
18.174 habitantes (Censos
2001). Localiza-se no Vale
do Tejo e pertence à Região
Centro, sub-região do Médio
Tejo. Situado no centro do
Ribatejo, beneficia da sua
inserção geoestratégica na
região do Vale do Tejo e de
boas acessibilidades
ferroviárias e rodoviárias.
Tem duas freguesias, uma de
cada lado da linha férrea
que atravessa o concelho.
Confina com o concelho da
Golegã a sul, com o de
Torres Novas a poente e a
norte, e com o concelho de
Vila Nova da Barquinha a
nascente. Dista 7 km de
Torres Novas, 19 km de
Tomar, 43 km de Santarém e
120 km de Lisboa.
Nasceu em meados do séc. XIX,
com os alvores da construção
ferroviária, e começou por
ser uma simples estação de
caminhos de ferro. Por perto
existiam dois lugarejos de
poucos habitantes (o Casal
das Vaginhas e o Casal das
Gouveias), onde se vieram
estabelecer os primeiros
trabalhadores. Os técnicos
eram, na sua maior parte,
estrangeiros, a mão de obra
veio, numa primeira fase, de
diversos pontos do país,
depois acentuou-se o afluxo
de trabalhadores vindos da
Beira Baixa e Alentejo.
O nome da cidade deriva do
entroncamento ferroviário
que aqui se formou, com a
junção das Linhas do Norte e
do Leste, em 1864. Charneira
das ligações com o Leste e
Beira Baixa, a estação do
Entroncamento foi, durante
décadas, ponto de paragem
obrigatória para quem mudava
da linha do Norte para a do
Leste e vice-versa, quando o
comboio era o meio de
transporte mais utilizado.
Nesse tempo, muitos
viajantes ilustres vindos da
Europa pela Linha do Leste,
ou fazendo o percurso
inverso, almoçaram ou
jantaram no restaurante da
estação. Nas suas obras
literárias, vários
escritores se lhe referiram:
Hans Christian Andersen,
Ramalho Ortigão, Eça de
Queiroz, Alberto Pimentel,
Luzia (pseudónimo de Luísa
de Freitas Lomelino) e
Eduardo Meneres.
A estação do Entroncamento
conheceu figuras da cena
política, desde a realeza
até ao pós-25 de Abril.
Assistiu, em 1915, ao
atentado a João Chagas,
político e jornalista, que
seguia para Lisboa para
assumir a direcção de um
novo governo, após a
ditadura do general Pimenta
de Castro.
Embora pequena, a povoação
nascente pertencia a duas
freguesias e a dois
concelhos, porque a via
férrea assim determinara: a
poente das linhas,
situava-se na freguesia de
Santiago, concelho de Torres
Novas, a nascente da via, o
território pertencia à
freguesia de Nossa Senhora
da Assunção da Atalaia,
concelho de Vila Nova da
Barquinha.
A pequena aldeia foi
crescendo, devido ao
desenvolvimento dos
transportes ferroviários e
às respectivas estruturas de
apoio aqui construídas –
oficinas e escritórios. A
instalação de
aquartelamentos militares, a
partir de 1916, determinada
pela situação geográfica e
as acessibilidades
ferroviárias, aumentou ainda
mais a importância
estratégica deste lugar em
pleno desenvolvimento e,
consequentemente, aumentou
também a população. Aos
ferroviários vieram
juntar-se os militares e
respectivas famílias.
Em 25 de Agosto de 1926 a
povoação foi elevada a
freguesia, em 1932 a vila e
em 24 de Novembro de 1945
foi promovida a concelho.
Aos 20 dias do mês de Junho
de 1991 o Entroncamento é
elevado a cidade. Entre
estas datas, o percurso foi
de emancipação progressiva
dos concelhos a que tinha
pertencido, libertando-se,
em primeiro lugar, de Torres
Novas e depois da Barquinha.
Ser, no mesmo século,
aldeia, vila e cidade talvez
seja um destino pouco comum
na história das terras
portuguesas.
Do pequeno núcleo de
operários e respectivas
famílias que povoaram esta
terra no final do século
passado, chegou-se aos anos
trinta com mais de 3.000
habitantes, em 1945 eram já
8.000 e esta progressão foi
continuando ao longo do
tempo. Em Março de 2005,
estima-se a população actual
em cerca de 18.780
residentes (cálculo
efectuado com base no número
de eleitores, multiplicado
pelo índice 1,2). O aumento
populacional e a expansão
contínua da área habitada
justificaram que, em 2003,
fosse criada uma segunda
freguesia (Lei 68/2003, de
26 de Agosto). Voltou-se,
assim, à situação inicial:
uma freguesia a poente da
via férrea (Nossa Senhora de
Fátima), a outra a nascente
(São João Baptista), mas as
duas pertencendo agora ao
concelho do Entroncamento.
A taxa de crescimento
demográfico desta
localidade, entre 1981 e
1991, foi de 18,8%, a mais
elevada do Médio Tejo,
contrariando a tendência
geral nesta região para um
declínio acentuado da
fecundidade e acentuado
envelhecimento populacional.
De 1991 a 1996, a população
aumentou de 14.226
habitantes para 15.500, com
uma taxa de crescimento mais
baixa do que nos anos
anteriores (9%), mas que fez
do Entroncamento o concelho
do Médio Tejo com maior
densidade populacional. O
número estimado para a
população actual (18.780)
não contempla os residentes
recenseados noutras
localidades nem a população
flutuante, dependente de
trabalhos temporários.
Efectivamente, é tido como
certo que o Entroncamento
tem mais de 20.000
habitantes.
Nos anos quarenta do século
XX, o Entroncamento era,
depois do Barreiro, o
segundo meio operário do
país, representando o
operariado mais de metade da
sua população. A CP dotara a
povoação de uma série de
estruturas de apoio social,
de uma dimensão talvez única
a nível nacional, criando
bairros para os empregados,
uma escola, um armazém de
víveres, um dispensário
anti-tuberculoso que
funcionava como um centro de
saúde, e ainda fomentava
actividades desportivas.
Paralelamente, com a
evolução das tecnologias e o
desenvolvimento das
actividades ferroviárias, ia
expandindo a área oficinal e
reforçando a formação de
pessoal, que teve o seu
ponto alto na criação de um
centro de formação, hoje
designado por FERNAVE, um
enorme edifício criado de
raiz para estas funções, e
que albergou o Instituto
Superior de Transportes.
A partir dos anos setenta,
devido a alterações
conjunturais ditadas pela
história e pelo passar do
tempo, esta situação
inverteu-se. Com a gradual
substituição da tracção a
vapor pelo equipamento
diesel e eléctrico e a
introdução de novas
tecnologias, assistiu-se à
diminuição da mão de obra e
à implementação de novas
profissões, surgiram outros
centros de interesse e de
actividade profissional.
Hoje, o Entroncamento ainda
tem muitos residentes
ligados profissionalmente
aos caminhos de ferro, mas
sem a dimensão do passado.
As principais actividades do
concelho são agora o
comércio e serviços, e
indústrias ligadas à
construção civil. Dados
recentes, do INE, sobre o
poder de compra concelhio em
2004, apresentam o
Entroncamento como o
concelho que evidencia maior
poder de compra no distrito
de Santarém.
Neste novo quadro social e
económico, a matriz primeira
do Entroncamento não está
esquecida. Consciente das
suas raízes e da importância
do seu complexo ferroviário
na história dos caminhos de
ferro portugueses, a 24 de
Novembro de 2004, data de
aniversário da fundação do
concelho, a cidade acolheu
com entusiasmo e expectativa
a apresentação da proposta
preliminar de ordenamento
(revisão do plano director)
do Museu Nacional
Ferroviário Armando Ginestal
Machado e da Fundação que o
vai gerir, sua legítima
aspiração desde os anos
setenta do século passado.
Os Caminhos de Ferro e a
História Portuguesa
http://www.cp.pt/cp
Na segunda metade do século
XIX, elementos da elite
intelectual, política e
económica discutiam sobre o
melhor forma de modernizar o
país. Muitos, defendiam a
necessidade de construção de
vias de comunicação.
Após 1825, data da
construção da primeira
linha-férrea em Inglaterra,
defendeu-se a sua introdução
em Portugal, como uma das
formas de modernizar o país.
Mas, Portugal ainda não se
tinha recuperado das
convulsões políticas e das
guerras civis que enfrentou
e não permitiam obter os
capitais necessários para
tão importante investimento.
No entanto, os projectos
foram sendo apresentados e a
partir de 1844, no apogeu do
governo de Costa Cabral,
surgem tentativas de
passar-se à prática e à
concretização dos mesmos. Em
Dezembro de 1844, funda-se a
Companhia das Obras Públicas
em Portugal, que apresenta
como um dos seus principais
objectivos a construção do
caminho-de-ferro de Lisboa à
fronteira espanhola, com a
clara intenção de ligar o
país à Europa.
Em Outubro de 1845,
publicam-se as Bases que o
Governo de Sua Majestade
Fidelíssima oferece para a
construção de
caminhos-de-ferro em
Portugal, que não tiveram
qualquer resultado prático.
Só após 1851 com fim do
governo cabralista e o
início de um período
político conhecido por
Regeneração, cuja figura de
destaque foi António Maria
Fontes Pereira de Mello, se
reuniram as condições para
iniciar a construção da rede
ferroviária nacional.
Iniciado em 1853, por uma
companhia inglesa, Companhia
Central dos
Caminhos-de-ferro em
Portugal, inaugurou-se em 28
de Outubro de 1856, entre
Lisboa e o Carregado.
Demoraria no entanto, mais
de meio século a achar-se
concluída a rede ferroviária
nacional.
Ferreira do Zêzere –
(Concelho do Distrito de
Santarém)

Origem do nome:
«A designação deste concelho
provém de Pedro Ferreira ter
em Setembro de 1222 dado
foral à sua sede, e do rio
Zêzere que lhe serve de
limites numa grande
extensão”
Ferreira do Zêzere
http://www.ribatejo.com/ecos
Povoação portuguesa do
distrito Santarém e diocese
de Coimbra, com 2.103
habitantes (dados de 1987).
Sede de concelho e de
comarca, está situada sobre
a chapada de um outeiro, a 8
Km do Zêzere. Pedro Ferreira
deu-lhe foral em 1222 e a
partir de 1306 pertenceu aos
Templários. D. João III
fê-la vila em 1531.
Constituído por 9
freguesias, o concelho tem
10.249 habitantes (dados de
1987), e vive da
agro-pecuária.
in "Moderna Enciclopédia
Universal", ed. Círculo de
Leitores
Quadro Histórico
1159: primeira data de
referência à região e local
do actual concelho de
Ferreira (do Rio Zêzere).
Vinte anos decorridos sobre
a fundação da nacionalidade,
o primeiro Rei de Portugal
fazia doação desta zona à
secular Ordem dos Templários
- era o local do Castelo de
Ceras. Em 1319, passa pare a
Ordem de Cristo, dividida em
diversas "Comensas".
"Já em 1190, D. Sancho I
tinha feito doação a Pedro
Ferreira, o fundador de
Ferreira do Zêzere, "homem
da sua criação", de uma
herdade em Vale de Orjais
que este povoou e mais tarde
constituiu o morgado de
Águas Belas, pelo facto de
Pedro Ferreira se ter
distinguido muito em
Montemor.
Em 1222 Pedro Ferreira e sua
mulher Maria Vasques deram
carta de foral aos
povoadores da sua herdade
que de novo se chama Vila
Ferreiro ou Ferreira..."(1)
Em 1362, D. Nuno Rodrigues,
Mestre da Ordem de Cristo,
coloca a primeira pedra para
a construção dos paços na
actual vila de Ferreira, que
a esta categoria passara por
ordem de D. João III (em
1531).
Com uma forte dispersão das
localidades em inúmeros
lugarejos, esta região
conheceu sempre grandes
impasses no seu
desenvolvimento, como a
grande peste dos fins do
séc. XVI e as invasões
francesas.
O concelho de Ferreira do
Zêzere foi criado com a sua
configuração actual pela
reforma administrativa de
Rodrigo da Fonseca
Magalhães, em 1836.
"Nos anos de 1940 e 1950,
sofreu este concelho algumas
alterações com a construção
da Barragem do Castelo de
Bode que, embora tenha
trazido vantagens nos campos
da produção de energia
eléctrica e turismo,
motivou, com a subida das
águas do leito do Rio
Zêzere, a deslocação de
muitas centenas de pessoas
que se viram na necessidade
de alterar substancialmente
os seus modos de vida".(2)
(1) In "Boletim da Junta da
Província do Ribatejo"
(2) Idem
in DIAGNÓSTICO
SÓCIO-CULTURAL DO DISTRITO
DE SANTARÉM - ESTUDO 1,
Santarém, 1985, pág. 302.
Lenda de Dornes
http://www.ribatejo.com/ecos/cultura
A vila de Dornes fica no
concelho de Ferreira do
Zêzere. Apesar de existirem
provas documentais de que
até ao século XV foi
conhecida por Dornas, um
velho manuscrito existente
na Biblioteca Nacional de
Lisboa explica que a
etimologia da povoação
proveio da lenda que vou
contar.
Há muitos séculos atrás, as
terras desta região
pertenciam à Rainha Santa
Isabel, mulher de el-rei D.
Dinis. Era feitor da Rainha,
na região, um cavaleiro
chamado Guilherme de Paiva,
ao qual atribuíam proezas
milagrosas.
Conta-se deste homem que,
certa vez, passou a pé
enxuto o rio Zêzere,
caminhando de uma margem
para a outra sobre a sua
capa, que lançara sobre as
águas.
Um dia, andava Guilherme de
Paiva atrás de um veado na
banda de além do Zêzere,
onde só havia brenhas e
matos espessos, quando ouviu
uns gemidos muito dolorosos.
Tentou saber de que sítio
provinham e, apesar de
perder algumas horas nesta
busca, nada conseguiu achar,
pois os gemidos pareciam
provir dos mais diversos
locais. No dia seguinte
voltou ali e de novo os
gemidos se espalharam à sua
volta, vindo agora de um
tufo espesso de mato, depois
de um rochedo, numa ciranda
sem fim. Guilherme de Paiva
sofria espantado,
partilhando a dor daquele
alguém que parecia fazer
parte do universo. Ao
terceiro dia tudo se repetiu
como antes.
Tomou, pois, a decisão de
partir para Coimbra onde
estava a sua senhora, a fim
de lhe relatar aqueles
estranhos factos. Assim que
chegou à cidade dirigiu-se
imediatamente à pousada real
e solicitou a sua visita a
D. Isabel.
Esta, mal o viu, e depois
das saudações devidas,
disse-lhe:
- Vindes por via dos gemidos,
Guilherme?
- …!
- Não precisais espantar-vos!
Três noites a fio sonhei com
eles e sei do que se trata.
- O que é então, Senhora?
Procurei por todo o lado e
nada vi!...
- Bem sei. Deus contou-me
tudo nos sonhos. Agora vais
voltar ao local e procurar
onde te vou dizer: aí
acharás uma imagem santa de
Nossa Senhora, com o Filho
morto em seus braços.
- Assim farei, minha senhora
Dona Isabel! Mas, e depois,
que faço eu dessa imagem?
- Guardá-la-ás contigo até me
veres chegar junto a ti!
Despediu-se Guilherme de
Paiva da Rainha Santa,
levando na memória a
localização exacta da moita
onde a imagem de Nossa
Senhora o aguardava gemendo,
e partiu de Coimbra.
Já de volta a terras do
Zêzere, o cavaleiro
dirigiu-se à serra de
Vermelha, como lhe dissera
D. Isabel, e foi
milagrosamente direito a
determinada moita onde achou
enrodilhada em urzes a
imagem da Virgem pranteando
a morte de seu Filho.
Durante algum tempo
manteve-a consigo, na sua
própria casa. Os gemidos
haviam cessado e assim
Guilherme de Paiva tinha a
Santa Imagem na sua câmara,
com um archote aceso de cada
lado.
Um dia, a Rainha Santa foi,
finalmente, às suas terras
do Zêzere resolver o caso da
imagem. Assim, junto a uma
velha torre pentagonal que
já aí existia, mandou erigir
uma ermida para a Virgem
achada nas moitas. E nessa
torre - que provavelmente
foi construída pelos
Templários, ordenou que se
instalassem os sinos da
ermida.
Em breve o povo começou a
construir casas em redor da
capela e da torre e, diz a
lenda, a Rainha Santa deu a
essa vila nascente o nome de
Vila das Dores, nome que com
o tempo se teria corrompido
até dar Dornes.
É isto o que conta a lenda
transcrita no velho
manuscrito.
A capela com a sua torre
sineira ainda hoje existem,
e a imagem achada há muitos
séculos atrás é venerada sob
a designação de Nossa
Senhora do Pranto.
in Frazão, Fernanda. "Lendas
Portuguesas", vol. IV, pág.
75-79. Ed. Multilar. Lisboa:
1988
Golegã – (Concelho do
Distrito de Santarém)

Em 1169, a Quinta da
Cardiga foi dada à
Ordem dos Templários por
D. Afonso l. Em 1527, a
Golegã pertencia ao
termo de Santarém e já
contava com 421
habitantes; a 3 de
Novembro de 1534, foi
elevada a vila por D.
João lll.
Origem do nome:
«Pinho Leal em Portugal
Antigo e Moderno –
1874»: “A estalagem
chamava-se Venda da
Galega, e depois se
mudou para Vila Galega e
depois se corrompeu no
actual nome.
Esta mulher tinha
primeiro vivido alguns
anos em Santarém. A
venda primitiva que ela
aqui estabeleceu era
apenas uma barraca de
tábuas, mas em breve os
lucros lhe deram para
transformar a humilde
choupana em boa casa de
pedra e cal, e a taberna
em hospedaria. Os seus
grandes lucros
despertaram a cobiça de
outros concorrentes, que
estabelecendo novas
vendas, foram
transformando a Venda da
Galega em povoação, por
se irem edificando casas
também para residência
de pessoas de diferentes
ofícios”.
«Xavier Fernandes em
Topónimos e Gentílicos
(1944)»: “Tem-se
afirmado que a povoação
começou por uma
estalagem duma mulher da
Galiza, que lá se
estabeleceu logo no
princípio da monarquia
portuguesa e que servia
aos viajantes, que
passavam pelo lugar; a
estalagem ter-se-ia
chamado Venda da Galega
e depois o povoado, Vila
da Galega, acabando por
se transformar o último
nome em Golegã, por
corrupção”.
Golegã
http://www.ribatejo.com/ecos/golega
A história do concelho da
Golegã está profundamente
ligada aos dois rios que o
percorrem -o
Almonda
e o
Tejo-, à fertilidade
célebre dos seus solos, às
grandes quintas agrícolas,
às cheias, às touradas, aos
lazeres reais.
Segundo reza a história, a
Golegã, enquanto povoado,
teve origem numa estalagem
estabelecida no tempo de um
dos primeiros reis de
Portugal -talvez D. Sancho
para acolher gente de
passagem de Lisboa para o
norte e para se proceder à
muda de "cavalgadura", em
tão longa jornada. Esta
estalagem tudo leva a crer
ter sido pertença de uma
mulher da Galiza, residente
em Santarém. Daí o povoado
então nascente se ter
chamado de "Venda da
Galega", mais tarde Golegã.
Esta estalagem estava
situada num ponto
estratégico e importante,
junto à principal estrada
real.
No reinado de D. João I já a
Golegã tinha grande
importância, assim como,
mais tarde, no de D. Afonso
V, tendo atingido o auge no
reinado de D. Manuel. O
Lugar de Golegã foi elevado
à categoria de vila por
carta de D. João III, em
1534.
A par da importância do
lugar em que se situava, a
região da Golegã detinha uma
das maiores riquezas da
altura: um solo fértil. A
fama das suas terras chamou
muito povo a si, assim como
grandes agricultores e
criadores de cavalos. Desde
os tempos mais remotos vêm
alusões à região, de que é
exemplo a importantíssima
Quinta da
Cardiga
que, em 1169, fora doada por
D. Afonso I à ordem do
Templo para arroteamento e
cultivo. De século para
século foi a mesma sendo
doada a outras ordens e, a
partir do séc. XIX, comprada
por diversos grandes
agricultores.
Em meados do
Séc.
XVIII surge, essencialmente
ligada à criação de cavalos
e à necessidade de venda de
produtos agrícolas da
região, a Feira de S.
Martinho. A partir de 1833,
e com o apoio dado pelo
Marquês de Pombal, a feira
começou a tomar um
importante cariz
competitivo. Começaram a
realizar-se concursos
hípicos e diversas
competicões de raças.
Os melhores criadores de
cavalos concentravam-se
então na Golegã.
Quando no reinado de D.
Maria I se
construíu a estrada
ligando Lisboa ao norte por
Leiria e Pombal, a Golegã
decaíu
bastante, tendo-se
recomposto somente mais
tarde, no séc. XIX, com base
na
valorizagão agrária
da região. Para esta
"reconstituição" da
importância da Golegã muito
contribuiram as
figuras de dois grandes
agricultores e estadistas:
Carlos Relvas, fidalgo da
Casa Real, grande amigo do
Rei, comendador, lavrador,
artista, proprietário de
diversos estabelecimentos
agrícolas e de dois palácios
(onde por várias vezes
hospedou a
familia
real), e José Relvas, seu
filho, democrata imensamente
ligado à causa republicana,
ministro das finanças e
também um grande artista.
Profundamente liberal, a
Golegã esteve ligada às
lutas entre D. Pedro e D.
Miguel e à implantação da
República. Como quase todas
as vilas deste país, sofreu
as acções de pilhagem e
saque das tropas invasoras
francesas.
A segunda freguesia deste
concelho, a Azinhaga,
remonta ao período da
dominação árabe. O seu nome
vem, provavelmente, de
"Azenha", que significa, em
árabe, "apertar",
"estreitar", ou ainda "Zenagga",
que quer dizer, também em
árabe, "muitas azinheiras
juntas". Antes da fundação
de Portugal era conhecida
por Santa Maria do
Almonda.
Teve foral no reinado de D.
Sancho II.
Fertilizada pelas águas do
Almonda,
as terras de Azinhaga são
também as mais directas
responsáveis pela
importância da região.
Doadas como "prémio" a
diversas ordens e à nobreza
deste reino, aqui se foram
fundando e desenvolvendo
importantes quintas, como a
"Boquilobo"
e a "Brôa".
A Azinhaga foi vila
independente no reinado de
D. Joso
IV. Até 1895 pertenceu a
Santarém, data a partir da
qual passou a pertencer ao
concelho da Golegã.
Intimamente ligada à
história da Golegã estão os
seus grandes lavradores,
quintas e ganadarias e, com
eles, um imenso povo
assalariado. A par da grande
riqueza, a realidade de uma
população que conheceu a
fome e a pobreza: " (...) Um
concelho rico de terra
fértil, somente agrícola, e
os seus habitantes pobres;
mas pobres de facto porque
raro é aquele que possua
quatro paredes a que possa
chamar sua
casa.(...)
Terra rica, gente pobre, um
paradoxo, corolário das más
funções do regime de
propriedade especialmente da
sua exploração, entregue a
rendeiros, mercenários da
lavoura, que tornam as
condições de vida económica
e social insuperáveis
perante a razão das coisas"(1)
(1) in
"Boletim da Junta Geral do
Distrito de Santarém", nº3 -
artigo "A terra, o trabalho
e o Homem" de José Serrão e
Faria Pereira.
in
DIAGNÓSTICO SÓCIO-CULTURAL
DO DISTRITO DE SANTARÉM -
ESTUDO 1, Santarém, 1985,
pág. 328-329.
Golegã
http://www.ribatejo.com/ecos/golega/glhistoria.html
A história do concelho da
Golegã está profundamente
ligada aos dois rios que o
percorrem -o
Almonda
e o
Tejo-, à fertilidade
célebre dos seus solos, às
grandes quintas agrícolas,
às cheias, às touradas, aos
lazeres reais.
Segundo reza a história, a
Golegã, enquanto
povoado,teve
origem numa estalagem
estabelecida no tempo de um
dos primeiros reis de
Portugal -talvez D. Sancho
para acolher gente de
passagem de Lisboa para o
norte e para se proceder à
muda de "cavalgadura", em
tão longa jornada. Esta
estalagem tudo leva a crer
ter sido pertença de uma
mulher da Galiza, residente
em Santarém. Daí o povoado
então nascente se ter
chamado de "Venda da
Galega", mais tarde Golegã.
Esta estalagem estava
situada num ponto
estratégico e importante,
junto à principal estrada
real.
No reinado de D. João I já a
Golegã tinha grande
importancia, assim
como, mais tarde, no de D.
Afonso V, tendo atingido o
auge no reinado de D.
Manuel. O Lugar de Golegã
foi elevado à categoria de
vila por carta de D. João
III, em 1534.
A par da importância do
lugar em que se situava, a
região da Golegã detinha uma
das maiores riquezas da
altura: um solo fértil. A
fama das suas terras chamou
muito povo a si, assim como
grandes agricultores e
criadores de cavalos. Desde
os tempos mais remotos vêm
alusões à região, de que é
exemplo a importantíssima
Quinta da
Cardiga
que, em 1169, fora doada por
D. Afonso I à ordem do
Templo para arroteamento e
cultivo. De século para
século foi a mesma sendo
doada a outras ordens e, a
partir do séc. XIX, comprada
por diversos grandes
agricultores.
Em meados do
Séc.
XVIII surge, essencialmente
ligada à criação de cavalos
e à necessidade de venda de
produtos agrícolas da
região, a Feira de S.
Martinho. A partir de 1833,
e com o apoio dado pelo
Marquês de Pombal, a feira
começou a tomar um
importante cariz
competitivo. Começaram a
realizar-se concursos
hípicos e diversas
competicões de raças.
Os melhores criadores de
cavalos concentravam-se
então na Golegã.
Quando no reinado de D.
Maria I se
construíu a estrada
ligando Lisboa ao norte por
Leiria e Pombal, a Golegã
decaíu
bastante, tendo-se
recomposto somente mais
tarde, no séc. XIX, com base
na
valorizagão agrária
da região. Para esta
"reconstituição" da
importância da Golegã muito
contribuiram as
figuras de dois grandes
agricultores e estadistas:
Carlos Relvas, fidalgo da
Casa Real, grande amigo do
Rei, comendador, lavrador,
artista, proprietário de
diversos estabelecimentos
agrícolas e de dois palácios
(onde por várias vezes
hospedou a
familia
real), e José Relvas, seu
filho, democrata imensamente
ligado à causa republicana,
ministro das finanças e
também um grande artista.
Profundamente liberal, a
Golegã esteve ligada às
lutas entre D. Pedro e D.
Miguel e à implantação da
República. Como quase todas
as vilas deste país, sofreu
as acções de pilhagem e
saque das tropas invasoras
francesas.
A segunda freguesia deste
concelho, a Azinhaga,
remonta ao período da
dominação árabe. O seu nome
vem, provavelmente, de
"Azenha", que significa, em
árabe, "apertar",
"estreitar", ou ainda "Zenagga",
que quer dizer, também em
árabe, "muitas azinheiras
juntas". Antes da fundação
de Portugal era conhecida
por Santa Maria do
Almonda.
Teve foral no reinado de D.
Sancho II.
Fertilizada pelas águas do
Almonda,
as terras de Azinhaga são
também as mais directas
responsáveis pela
importância da região.
Doadas como "prémio" a
diversas ordens e à nobreza
deste reino, aqui se foram
fundando e desenvolvendo
importantes quintas, como a
"Boquilobo"
e a "Brôa".
A Azinhaga foi vila
independente no reinado de
D. Joso
IV. Até 1895 pertenceu a
Santarém, data a partir da
qual passou a pertencer ao
concelho da Golegã.
Intimamente ligada à
história da Golegã estão os
seus grandes lavradores,
quintas e ganadarias e, com
eles, um imenso povo
assalariado. A par da grande
riqueza, a realidade de uma
população que conheceu a
fome e a pobreza: " (...) Um
concelho rico de terra
fértil, somente agrícola, e
os seus habitantes pobres;
mas pobres de facto porque
raro é aquele que possua
quatro paredes a que possa
chamar sua
casa.(...)
Terra rica, gente pobre, um
paradoxo, corolário das más
funções do regime de
propriedade especialmente da
sua exploração, entregue a
rendeiros, mercenários da
lavoura, que tornam as
condições de vida económica
e social insuperáveis
perante a razão das coisas"(1)
(1) in
"Boletim da Junta Geral do
Distrito de Santarém", nº3 -
artigo "A terra, o trabalho
e o Homem" de José Serrão e
Faria Pereira.
in
DIAGNÓSTICO SÓCIO-CULTURAL
DO DISTRITO DE SANTARÉM -
ESTUDO 1, Santarém, 1985,
pág. 328-329.
Golegã
http://www.eps-golega.rcts.pt
O Concelho da Golegã,
situado de montante para
jusante na margem direita do
Tejo, numa vasta planície
rodeada pelos mais dilatados
e férteis campos que dele
recebem o valioso beneficio
de os alagar com os seus
esplêndidos e fecundantes
nateiros é constituído por
uma antiga Vila de que se
ignora a data certa da sua
fundação e, actualmente por
duas lindas freguesias de 2ª
ordem; a da Azinhaga, com
cerca de 1500 habitantes, e
a da Senhora da Conceição
sede do Concelho com cerca
de 4900 habitantes
É tradição corroboradas pelo
seu antigo brasão, que
consistia num escudo com
urna mulher segurando na mão
um
infusa, sobre chão
escuro em campo verde, que
foi sua fundadora uma mulher
da Galiza que e em tempos
remotos, se estabeleceu com
urna estalagem em ponto
indeterminado hoje da
encantadora planície que
constitui actualmente este
típico Concelho
Que a povoação existia já no
Século XV, parece não
restar, duvida bem como,
depois de se haver
estabelecido nela a dita
galega ter passado a ser
denominada Vila da Galega.
Parece não restar dúvida,
também, que, mais tarde foi
esta designação que, por
corrupção, veio s
converter-se em Golegã
A Vila da Golegã, forma hoje
um concelho rural de 2ª
ordem do Distrito de
Santarém Província do
Ribatejo da qual e uma das
regiões que mais lhe
conserva o cunho típico, tão
português e regional, com os
interessantes e garridos
trajes s dos campinos das
suas lezírias e do;
lindos
cantos entoados pelos coros
mistos dos seus ranchos
agrícolas, que tão
profundamente enternecem os
que
têmo prazer
inolvidável de escutá-los
O Concelho dista 5,5
km. de
Santarém 3,4 km.
da
estação de Torres Novas, 7
km. do
Entroncamento e 9,5 km.
de
Mato do Miranda e as
estações que lhe ficam mais
próximas são as de Torres
Novas, {Norte e Leste) a 4
km e Entroncamento a 6 km
D Manuel deu-lhe foral e
mandou construir a sua
igreja paroquial, e parece
dever-se, também, a este
monarca s construção dos
antigos templos da matriz e
duma das duas misericórdias
que possuí, a da sede da
Vila, pois tem ainda uma
outra na freguesia da
Azinhaga, de muito menor
movimento do que tem aquela
havendo, contudo, quem
afirme que; é mais remota a
sua fundação ou edificação
e, bem assim, a de outros
edifícios antiquíssimos que
igualmente possui
Pela alegria e beleza das
suas admiráveis e
verdejantes campinas, e pela
sua esplêndida situação na
margem do Rio Tejo; pela
fertilidade do seu abençoado
solo que ele tantas vezes,
nas suas cheias, vai beijar
deixando-o ensopado no
fecundante lambuzar dos
seus amoráveis beijos, o
Concelho da Golegã que
incontestavelmente te
constitui uma jóia de maior
valia do lindo adereço que
constitui a opulenta
Província do Ribatejo
produz, em abundância
trigo ,
milho, centeio, legumes,
arroz, queijo, manteiga,
aguardente vinícola, vinho,
azeite. Gado.
lãs,
palha, massa de tomate,
etc. artigos estes que
constituem o seu principal
comércio
Sendo um dos concelhos mais
pequenos do País, visto ter
cerca de 16 quilómetros de
comprido por 7 de largo
apesar da sua população ser
aproximadamente de 6400
habitantes, números
redondos, ele é contudo, dos
mais ricos e férteis do
Distrito de Santarém devido
a receber, das cheias do
Tejo, os seus afamados
nateiros que tanto o
valorizam , e ás
extraordinárias faculdades
de trabalho dos seus
habitantes.
Admiravelmente servido de
electricidade, cuja rede é
abastecida pela
empreendedora e prestimosa
Hidro
Eléctrica do Alto Alentejo,
pena é que não tenha ainda
água canalizada, com o que
tanto desejariam vê-lo
dotado os seus habitantes O
Concelho que é constituído
por terras de aluvião
ubérrimas e cultivado
por gente pobre, como o é a
quase totalidade da sua
população talvez por não
residirem nele os
proprietários das
antiquíssimas e excelentes
propriedades em que está
dividido todas elas
pletóricas de arvore ou
cobertas de cereais em que é
abundantíssima a região da
Golegã como o é, de resto,
quase todo o Ribatejo sendo
notáveis entre eles, as da
Cardiga,
a de Miranda, as dos
Alamos,
a de
Inez, as do
Paúl,
as da Broa, as de
Melharada, as do
Saltador, as denominadas as
«Praias» que acompanham as
margens do Tejo nalguns
quilómetros e as designadas
dos «.Lázaros»
«Requeixado»
«Peneira» o «Cordas» a
montante da Estrada da
Azinhaga Golegã
O Concelho da Golegã possuí
vários e importantes lagares
de azeite (mais da vinte)
importantes arrozais de
olivais, grandes e
competentes criadores do
gado cavalar, muar e taurino
que se espalha em ampla
liberdade pelas suas belas
lezírias óptimos rebanhos de
gado lanígero e excelentes
varas do gado suíno, (cerca
de cinquenta negociantes do
referido gado), lavradores,
agricultores, fabricantes do
massa de tomate de queijos e
manteiga, a cerca de trinta
vinicultores, quatro
negociantes de peixe fresco,
sete salsicheiros e um talho
cinco vacarias, seis
padarias, quinze negociantes
do fazendas, diversos
produtores de arroz, três
destilações de aguardente
vinícola, quatro automóveis
de aluguer três empresas do
carros para transporte de
mercadoria; uma delegação de
Federação Nacional dos
Trigos, e outra da Junta
Nacional do Vinho, um
sindicato agrícola, Casa do
Povo, três marcenarias,
quatro advogados, cinco
médicos.
duas misericórdias,
um hospital, etc.. etc. o
que comprova bem o seu
valor.
Por deliberação da Câmara, e
em homenagem á índole dos
seus habitantes,
trabalhadores como os que o
são o feriado do Concelho é
no dia 1º de Maio.
Golegã que tem, com serviço
permanente, estação de
telefone e telégrafo postal
de 1ª classe com serviço de
valores declarados,
encomendas postais,
cobranças de títulos, letras
e vales, etc. possui,
apenas, uma corporação
particular de bombeiros, na
Quinta da
Cardiga.
Mas, a atestar as qualidades
afectivas dos seus naturais
e o seu espírito
associativo, além da Casa do
Povo da Golegã, que seria já
elemento bastante para tais
qualidades e espírito se
afirmarem, possuí, ainda, o
Sindicato Agrícola da Golegã
e os Montepios Popular e
Goleganense os
clubs
desportivos Sporting
Club
Goleganense a
Sociedade Columbófila
Goleganense e o
Club
Desportivo
Azinhaguense; as
filarmónicas, Sociedade
Filarmónia 1º de
Janeiro, Sociedade
Filarmónica Instrução
Popular e Sociedade
Filarmónica
Azinhaguense e as
sociedades de recreio,
Club
Goleganense Grémio
Agricola
Goleganense o Centro
Instrução e Recreio.
Realizam-se neste Concelho,
anualmente, duas feiras
muito concorridas que
compreendem gado cavalar,
bovino, e outro com
diferentes barracas para
venda de
quinquilharias
uma
no primeiro domingo de Maio
e outra em Novembro,
habitualmente do 10 a 25.
Para se poder fazer uma
ideia aproximada do seu
valor, diremos, ainda, em
face das estadistas da 1935,
por não termos a mão, neste
momento, outras mais
modernas, que a produção da
Golegã neste ano, foi de
4.925.760 litros de trigo
2.508.290 litros de milho,
136.000 litros do centeio,
1.639.400 litros do fava,
265.760
Kilos de arroz 63.530
kilos
de cortiça 506.470 litros de
azeite e 63.530 litros de
vinho, etc. etc.
De Julho de 1934 a Igual mês
de 1935, o Estado arrecadou
neste Concelho, de receitas,
2.412.522$21 e a Câmara
515.900$33.
Tendo a quantidade de gado
cavalar que a Vila possuía
em 1870 constituído por 895
cabeças, baixado para 36l em
1925 e o gado bovino que
naquele ano era constituído
por 1968 cabeças baixado em
1925 para 1206 o seu aumento
verificou-se no entanto em
1934 respectivamente para
579 e 1235 devendo,
actualmente, ter aumentado
mais ainda o numero de
cabeças de um e outro, como,
de resto, em todo o restante
gado, pois tendo diminuído a
sua quantidade de 1870 até
1925 ela aumentou,
extraordinariamente, até
1934 como se verifica nos
seguintes números oficiais:
Gado muar, em 1870, 29
cabeças; em 1925, 233 e em
1934, 420 cabeças; gado
asinino, em 1870, 71 cabeças
em 1925, 271 é em 1934, 401
cabeças; gado
aríetino em 1870,
6881 cabeças, em 1935, 6902
cabeças e em 1931, 6978 gado
caprino, em 1870, 7101
cabeças, em 1925, 11.917, e
em 1934, 12.467 cabeças e
gado suíno, em 1870, 2532
cabeças, em 1925 3815 e em
1931, 5020 cabeças.
Para terminarmos este artigo
que já vai muito longo não
podemos deixar de acentuar
que, na Exposição Feira
distrital de Santarém levada
a efeito com tanto
brilhantismo de 17 de Maio a
7 de Junho de 1936, nos
vastos campos de Sá da
Bandeira da capital do
Distrito e a cuja Comissão
Executiva presidiu, o seu
ilustre, dedicado e
empreendedor Governador
Civil Sr. Dr. Eugénio de
Lemos, entre os mil
atractivos e encantos que
tanto a valorizaram e tão
notável a vieram a tornar,
pela forma como impressionou
o carácter afectivo da nobre
gente ribatejana e do
português em geral, ocupou
lugar de relevo pela nota
impressionante e encantador
regionalismo que lhe deu, a
Casa do Povo da Golegã com a
filarmónica os seus típicos
grupos de
Valadores e
gadanheiros, e de pescadores
com as suas redes, etc.
Mação – (Concelho do
Distrito de Santarém)

Mação recebeu o primeiro
foral da mulher de D.
Dinis, Isabel de Aragão
(Rainha Santa), que dela
fez doação às freiras de
Celas (Coimbra). Este
foral foi renovado em
1355, pelo futuro rei D.
Pedro l ( de Portugal).
É uma região
arqueológica e
paleontologicamente
muito rica. A
proximidade do rio Tejo,
a existência de ouro,
atraíram desde sempre
povos que aqui se
fizeram, como indicam as
antas, os abrigos, os
esconderijos e os
castros, que na
toponímia local e nome
de castelos e que
forneceram vasto espólio
arqueológico. Neste
campo, a riqueza do
concelho é sobretudo do
tempo dos romanos. De
todos, o mais célebre
será o tesouro da Época
do Bronze, do Porto do
Concelho, que se
compunha de 42 peças,
entre as quais foices,
lanças, machados,
espadas, punhais,
braceletes, etc. Também
o da célebre albarda de
sílex, a maior da
Península Ibérica,
encontrada em Casal da
Barba pouca. E ainda os
castros de Amêndoa
(Idade do Ferro),
Castelo Velho de Caratão
(Idade do Ferro) e as
Estações Arqueológicas
de Vale do Junco e Vale
do Grou (romanas).
Origem do nome:
«Xavier Fernandes em
Topónimos e Gentílicos
(1944)»: “Já era nome
próprio no antigo
português, sendo vulgar
a escrita Maçam. A não
se relacionar com o nome
comum mação, aumentativo
de maço, reputamos
obscura ou incerta a
origem do topónimo”.
Mação
http://www.ribatejo.com
Mação é vila sede de
concelho, pertencendo ao
distrito de Santarém e à
diocese de Portalegre, e
situa-se no extremo sul da
antiga província da Beira
Baixa.
O nome de Mação tem duas
possíveis explicações: a
primeira relacionada com o
termo francês "maçon",
sendo então o povoado filho
de um
pedreiro-maçon que
ali se tivesse instalado com
a sua arte (ou então que
esse homem se chamasse
Maçon
que era a antiga forma de se
escrever Marçal); a segunda
explicação (mais plausível)
está relacionada com o termo
latino "mansio-mansionis"
que significa estalagem
(pousada, mansão). Assim,
nesta estalagem repousariam
os viandantes no tempo da
dominação romana quando,
vindos de
Tubuci
(Abrantes), pela terceira
via militar que ligava
aquela povoação a
Mérida,
para Castra
Leuca
(Castelo Branco), passassem
por uma das duas
ramificações seguia para
norte em direcção a diversos
assentos de população romana
(Amêndoa, Cardigos e
Carvoeiro), a segunda seguia
para sul em direcção ao
importante povoado romano da
Ribeira de Nata (Belver).
Toda esta região, ainda
fisicamente ligada à Beira
Baixa, remonta ao período do
Paleolítico, na
Pré-História, Era da qual se
encontram muitos vestígios.
Seria uma zona com condições
climáticas e geográficas
propícias ao estabelecimento
dos povos: vastos bosques
não muito densos, perto de
imensos cursos de água e de
nascentes sem fim,
proporcionando-lhes caça e
pesca, abrigo de árvores e
grutas (bastante frequentes
no concelho), e um clima
frio e húmido.
Embora toda a região da
Beira seja tida como uma
região erma, cujo
despovoamento se terá dado
entre a invasão árabe e o
início da primeira dinastia,
o que é facto é que a região
de Mação apresenta um vasto
leque de vestígios romanos.
Mação pertenceu, até ao
primeiro quartel do séc. XIV
ao termo de Belver da ordem
de S. João do Hospital ou de
Malta. No decurso da 1ª
dinastia, Mação, Amêndoa e
Cardigos foram alvo de
disputas entre a coroa e a
ordem de Malta. Foi D. Dinis
e os seus sucessores que
conseguiram reaver esta
região que tinha sido doada
aos
Hospitalários. Na 2ª
metade deste mesmo século
iniciam-se as lutas entre o
poder temporal da Igreja e a
coroa, lutas estas
especialmente notórias na
região da Beira Baixa e do
Alto Alentejo.
Em 1761, Mação foi
quartel
general das tropas
inglesas, comandadas pelo
conde de
Lippe.
Em 1808, aquando das
invasões francesas, também
este concelho esteve à mercê
de tropas estrangeiras,
sendo mais uma vez alvo de
roubos e outros tipos de
selvajarias. Com a
Constituição, surgem as
lutas entre liberais e
miguelistas que tomam
especial dimensão neste
concelho, com uma certa
tradição
maçon,
que poderá ser anterior ou
posterior às invasões
francesas. As lojas
maçónicas de Mação e
Abrantes votaram a morte do
Rei, donde ganharam aquela
um acrescentamento ao
concelho e esta a sua
elevação a cidade.
Na 1ª República, os
monárquicos tornaram-se
sidonistas. Por esta
altura surgiu o Hospital da
Misericórdia e a sopa aos
pobres.
Vejamos como é descrito o
brasão de Mação:
"O BRASÃO de Mação, aprovado
em 1930, é vermelho, com uma
ovelha no centro. Em chefe,
um cacho de uvas folhado e
acompanhado por duas
abelhas, tudo em ouro. Orla
de prata cortada por
fachas
onduladas de azul. Coroa
Mural de prata de quatro
torres. Bandeira amarela com
um
listel branco em
letras pretas. Cordões e
borlas de ouro. Lança e
haste
douradas (...). O
vermelho, que significa
vitórias, ardis e guerras,
deriva de ter sido Mação
quarter
general das tropas de
Lippe
em 1762. As indústrias de
tecelagem de lã, fabricação
de curtumes e exportação de
gados que caracterizam,
desde tempos remotos a vida
económica de Mação, estão
representados na ovelha. As
uvas e as abelhas simbolizam
a agricultura em dois dos
seus produtos
característicos: o vinho e o
mel. As correntes, que
fertilizam Mação, estão
heraldicamente representadas
por faixas onduladas de azul
e prata."(1)
(1) Grande Enciclopédia
Portuguesa e Brasileira –
Vol.
XV.
Este resumo foi feito a
patir
da Enciclopédia citada e
ainda de "Monumentos
Históricos do Concelho de
Mação", de Maria Amélia
Horta Pereira.
in
DIAGNÓSTICO SÓCIO-CULTURAL
DO DISTRITO DE SANTARÉM -
ESTUDO 1, Santarém, 1985,
pág. 352-353.
Milagre de Santo António
http://www.ribatejo.com/ecos
Conta-se em Mação que um dia
Santo António estava numa
localidade do concelho com
sua mãe.
Pedindo-lhe esta que fosse
buscar lenha para a lareira,
o santo atravessou-a para a
outra banda do Tejo, pelo
Nabão. À volta, porém, era
quase sol-posto, Santo
António não viu barca nem
barqueiro; o que o deixou
preocupado por saber que a
mãe o esperava, em cuidados,
do outro lado do rio.
Aflito, sem saber o que
fazer, levantou os olhos ao
Céu e pediu ao Menino Jesus
que o auxiliasse naquele
transe, e quase
imediatamente o Menino
apareceu-lhe, dizendo com
suavidade:
- Tens aí o feixe de lenha
para a senhora tua mãe.
Deita-o à água; senta-te
nele e, então, eu te
servirei de barqueiro e
conduzirei o feixe à outra
margem do rio.
António assim fez e,
momentos depois, com o
Menino sentado no braço,
aportava ao outro lado, são
e salvo, onde se despediu de
Jesus, que muito sorridente
voltou para o Céu.
in
Frazão, Fernanda. "Lendas
Portuguesas",
vol.
III, pág. 124. Ed.
Multilar. Lisboa:
1988
Mação
http://bocasmacao.blogs.sapo.pt
Mação é uma vila da região
do pinhal.
Mação é uma vila Portuguesa
pertencente ao Distrito de
Santarém, região Centro e
subregião do Pinhal
Interior Sul, com cerca de 2
300 habitantes.
É sede de um município com
400,83
km² de área e 8 442
habitantes (2001),
subdividido em 8 freguesias.
O município é limitado a
nordeste pelo município de
Proença-a-Nova, a leste por
Vila Velha de Ródão e Nisa,
a sul pelo Gavião, a
sudoeste por Abrantes, a
oeste pelo Sardoal e por
Vila de Rei e a noroeste
pela Sertã.
População do concelho de
Mação (1801 – 2004)
1801
1849 .1900 ..1930 ...1960
..1981 .1991 .2001 .2004
1724 6823 15525 18806 19045
12234 10060 8442 7763
Mação era nos começos da
nacionalidade, um pequeno
lugar que pertenceu até ao
1º quartel do séc. 14, ao
termo de Belver na Ordem de
Malta. O 1º foral de
independente,
foi-lhe dado pela Rainha
Santa Isabel. Toda a área do
concelho de Mação constitui
riquíssima zona
paleontológica e
arqueológica. Em todas as
suas freguesias se encontram
fósseis, o que mereceu larga
referência a
Nery
Delgado
(Système
Sillurique
du
Portugal;
Étude
de
Stratigraphie
Paléontologique). No
campo da arqueologia, a
riqueza do concelho é
sobretudo da época Romana
como o balneário romano em
Ortiga. O mais célebre de
todos os achados,
foi o tesouro da Idade do
Bronze do Porto do Concelho
em 06.03.1943, que se
compunha de 42 peças
(foices, lanças, machados,
espadas, punhais,
braceletes, etc.). Notável
também, o achado, em Março
de 1944, em Casal da Barba
Pouca (freguesia de
Penhascoso), da célebre
albarda de sílex a maior da
Península. Merecem ainda
referência, os Castros de
Amêndoa
(Idade do Ferro),
Castelo Velho de
Caratão
(Idade do Bronze), as
estações de Vale do Junco e
Vale do Grou (Romanas).
Recentemente nas margens da
Ribeira de
Ocreza
no âmbito do acompanhamento
das obras de construção da
SCUT da Beira interior foram
descobertos painéis de Arte
Rupestre, de diferentes
épocas incluindo o primeiro
achado de arte paleolítica
de ar livre no sul de
Portugal onde até ao momento
apenas se conhecia arte
parietal na gruta do
Escoural. Trata-se de
uma representação de equídeo
(cavalo) figurado em perfil
absoluto. Com um vasto leque
de alternativas para os
potenciais investidores o
concelho de Mação possui
condições maravilhosas para
atrair um segmento de
turistas cada vez mais
preocupados em sair
dos
grande centros de
exploração económica do
turismo. A calma e a riqueza
das águas do Tejo e da
Ribeira de Eiras sobre a
Barragem em Ortiga,
fazem o paraíso dos
desportos náuticos, como o
Ski,
Vela e
Windsurf. O concelho
convida à prática de um
turismo rural, saudável onde
os desportos radicais como o
montanhismo, asa delta,
btt,
e todo-
o-
terreno ocupam lugar de
destaque. A sua paisagem
varia entre a beleza das
montanhas com cascatas que
terminam em pequenas e
acolhedoras piscinas
naturais, rochedos
implantados na crosta maciça
das
serras ,à semelhança
de castelos medievais,
beneficiando de toda a
pureza de um ar montanhês e
o refrescante encanto das
enormes albufeiras onde tudo
é possível e desejável, com
água a perder de vista –
Barragem de Ortiga e
Barragem da
Pracana.
Mação conta ainda com
apreciável riqueza das águas
mineromedicinais: Sulfúreas
– Sódicas
(
Fadagosa de
Mação ) e na freguesia de
Envendos (Lugar de
Ladeira),um grande caudal
denominado Águas Quentes.
Quanto ao nível
gastronómico, de entre os
diversos e apreciados pratos
tradicionais, salienta-se os
enchidos e o presunto
fazendo as delícias dos
apreciadores mais exigentes,
de notar que o concelho de
Mação produz cerca de 70% do
presunto nacional. É assim o
concelho de Mação, onde o
único limite para o
investimento é imaginação.
Actividades Económicas
As actividades económicas
estão repartidas entre os
três sectores tendo-se
verificando na última década
uma perda muito
significativa de população
do sector primário, para os
sectores secundário e
terciário. Em muitas aldeias
a vida ainda se processa em
torno de actividades
tradicionais como a
agricultura e a pecuária
porém, o concelho tem visto
o florescimento de algumas
indústrias como a dos
enchidos e transformação de
carnes que têm desempenhado
um papel de relevo e
projecção na economia do
Concelho. A construção
civil, a indústria de velas
e artigos em cera e a
indústria de serração de
madeiras têm visto também
algum desenvolvimento.
Património Cultural e
Monumentos Históricos
O Concelho de Mação
é
bastante rico em vestígios
arqueológicos que se
encontram espalhados um
pouco por toda a região.
Achados do Paleolítico foram
encontrados sobretudo junto
à Ribeira das Boas Eiras,
mas recentemente foram
descobertas algumas gravuras
rupestres junto à Ribeira da
Ocreza,
entre elas a representação
de um equídeo (cavalo), o
primeiro achado de arte
paleolítica ao ar livre no
sul de Portugal, que segundo
os especialistas terá mais
de 20.000 anos. Das inúmeras
antas existentes no
Concelho, apenas uma se
encontra de pé, a Anta da
Foz do Rio Frio, na
freguesia da Ortiga. Dois
castros no Concelho merecem
uma visita: O Castelo Velho
do
Caratão, da Idade do
Bronze, situado numa serra
entre as ribeiras de Eiras,
do
Aziral e do
Caratão,
próximo da aldeia que lhe dá
o nome, e o Castro de São
Miguel, da Idade do Ferro,
situado na Serra de S.
Miguel na Amêndoa, ambos
monumentos classificados. Do
período romano podem ser
visitadas as várias pontes
que se espalham um pouco por
todo o Concelho, entre elas
a Ponte da Ladeira
(Envendos), a maior, com
seis arcos de volta perfeita
e proporções diferentes, a
Ponte da
Isna,
apenas com três arcos, e o
Balneário Romano do Vale do
Junco (Ortiga), também estes
monumentos classificados.
Artesanato
As actividades artesanais no
Concelho de Mação continuam
a ser perpetuadas pelas mãos
de hábeis artesãos. Assim,
um pouco por toda a nossa
região podemos encontrar
trabalhos em olaria como em
latoaria (Mação), as
albardas e correias do
albardeiro (Mação), os
trabalhos em esparto e
arame, as rendas e bordados
(Mação), a tecelagem em fios
de algodão, lã e linho
(Cardigos e Envendos), as
mantas tecidas em teares
manuais (Ortiga), os
brinquedos de madeira
(Aboboreira) e a manufactura
de barcos e redes de pesca
(Ortiga).
Gastronomia
A gastronomia do Concelho é
bastante variada. Como
entradas, nada melhor que
provar as azeitonas, o
presunto, enchidos frios e o
queijo de cabra e de ovelha,
todos produtos locais de
grande qualidade. Os pratos
de carne incluem o cabrito
assado em forno a lenha à
moda de Mação, o feijão de
matança e o bucho recheado.
Contemplando a estreita
relação com o rio temos o
arroz de lampreia, o sável
na telha, o achigã grelhado,
a sopa à pescador e o
ensopado de
saboga
e o ensopado de
enguia ,
que se podem encontrar em
restaurantes da
especialidade na zona da
barragem de Ortiga. Como
acompanhamentos nada melhor
que migas e um bom vinho. No
que respeita à doçaria não
devem ser esquecidas as
tijeladas de
Cardigos, o mel, o bolo dos
santos, o bolo finto e as
fofas de Mação (cavacas) e
os torrados.
Feiras e Festividades
Durante todo o ano ocorrem
em Mação várias festas e
feiras. As principais feiras
no Concelho são a Feira dos
Ramos, que ocorre sempre no
Domingo de Ramos, a Feira
dos Santos, uma feira
bicentenária e com muita
tradição, sempre a 1 ou 2 de
Novembro e a Feira de
Artesanato e Gastronomia, no
1º e 2º fim-de-semana de
Julho. Durante todo o Verão
decorrem dezenas de festas
organizadas pelas
associações e colectividades
de cada vila ou aldeias, as
quais são sempre animadas
pelos conjuntos de baile e
pelos comes e bebes. A Festa
de Santa Maria é a maior e
mais importante e ocorre, na
sede, sempre no 1º
fim-de-semana de Setembro em
Mação. A festa religiosa que
acolhe um maior número de
fieis
é a do Senhor dos Passos, em
meados de Quaresma, em
Mação.
Personalidades do Concelho
de Mação De entre as figuras
ilustres do Concelho de
Mação destacam-se alguns
nomes, entre
eles
o Padre António Pereira de
Figueiredo (1725-1797),
sacerdote
oratoriano e grande
pedagogo que se dedicou ao
estudo de Filosofia,
Teologia, História e Latim.
Foi um colaborador próximo
do Marquês de Pombal e levou
a cabo algumas acções
diplomáticas na Europa.
Traduziu a Bíblia e escreveu
dezenas de obras que
percorreram as mais
diversificadas áreas do
conhecimento. A vida e obra
de Francisco Serrano
(1862-1941) marcou também a
história do concelho e dele
ficaram memórias da sua vida
de etnógrafo, músico,
escritor e jornalista. Foi a
primeira pessoa a
sistematizar a recolha de
elementos históricos,
etnográficos e sociais sobre
o concelho de Mação. Foi
ainda dinamizador, músico,
regente e compositor da
Sociedade Filarmónica União
Maçaense. Como
resultado de muitos anos de
vida dedicada ao concelho
ficaram algumas obras, entre
elas, Romances e Canções
Populares da Minha Terra,
Elementos Históricos e
Etnográficos de Mação e
Viagem à Roda de Mação,
recentemente editadas pela
Câmara Municipal de Mação.
As freguesias de Mação são
as seguintes:
Aboboreira, Amêndoa, Cardigos, Carvoeiro,
Envendos, Mação, Ortiga,
Penhascoso:
Posted
by
zedaburra11
at
01:03 PM
Ourém – (Concelho do
Distrito de Santarém)

Vila Nova de Ourém é uma sede de
concelho relativamente
recente. Foi elevada à
categoria de vila, por
mercê de D. Maria ll, em
1841. Muito mais
importante é o
antiquíssimo burgo de
Ourém Velha, que se
ergue no alto de um
morro não longe da vila
nova, rodeada de panos
desmantelados de
muralhas e que remonta
aos alvores da
Nacionalidade. Após o
terramoto de 1755, a
maior parte dos seus
habitantes
transferiam-se para a
então Aldeia da Cruz, a
Vila Nova dos nossos
dias, nascida do facto
de do Condestável, D.
Nuno Álvares Pereira ali
ter mandado erguer uma
cruz de pedra em memória
de seu irmão, Pedro
Álvares Cabral, morto em
Aljubarrota, onde esteve
militando nas hostes do
rei de Castela.
Origem do nome:
«Xavier Fernandes em
Topónimos e Gentílicos
(1944)»: “Ourém, como
vulgarmente é chamada a
terra, teve outros
nomes, parecendo que
este provém de Auren,
designação que lhe foi
dada no tempo dos
romanos”.
Fátima
Nas serras que formam o
maciço calcário
estremenho, onde a
destruição da cobertura
arbórea deu lugar ao
mato, encontra-se na
região de Fátima uma
zona onde a evocação
mística tudo suplanta.
Para além de quanto ao
homem se deve na
reconstituição do
arvoredo que dominava na
região em tempos
remotos, agora
favorecendo mais o
pinheiro bravo que os
carvalhos e azinheiras
de outrora, o que resta
da paisagem é árido e
agreste.
O casario que entretanto
tem surgido, a povoar o
que durante tanto tempo
quase apenas era
habitado pelos pastores
e seus rebanhos, vem a
pouco e pouco criando um
ambiente e uma paisagem
diferente do passado,
contrapondo a sua
banalidade ao que de tão
original o
caracterizava.
E enquanto foi tão rara
a presença humana, e
assim tão forte o
isolamento de quem por
ali passava, bem se
compreende a vocação
mística desse ambiente,
a que actualmente se
encontra presa a fé de
tantos.
A poente da localidade
avista-se, próximo, a
serra de Alvaiázere. Na
estrada estreita e cheia
de curvas que segue para
Almoster a paisagem é
quase inóspita, as
oliveiras nascem por
entre pedregulhos cheios
de força.
Fátima é uma povoação
muito antiga e, como o
próprio topónimo indica,
de origem árabe. Segundo
uma tradição local,
Fátima seria o nome de
uma jovem moura raptada
por um cristão, que, ao
baptizar-se, teria
adoptado o nome de
Oriana, donde derivou
Ourém, sede da
freguesia.
Santuário de Nossa
Senhora de Fátima:
Monumental recinto
novecentista, é
constituído por um bem
lançado trecho de
colunatas, no fulcro do
qual se embrenha o
edifício da basílica,
dominado por uma torre
central de vários
andares.
A colunata é decorada
por painéis de cerâmica
policromada
representando a Via
Sacra. No interior
apenas é digna de menção
uma imagem da Virgem,
executada em 1920 por
José Ferreira Thendim.
A poucos metros do
Santuário, ergue-se a
Capela das Aparições,
construída em 1919.
Presentemente foi muito
ampliada e algo
modificada.
No interior venera-se
num retábulo ao gosto
neoclássico, a popular
imagem de Nossa Senhora
de Fátima, esculpida em
madeira de
cedro-do-Brasil.
Lenda de Fátima
-
(Carlos Leite Ribeiro)
Estávamos a 24 de Junho
de 1158, em plena
planície alentejana,
mais propriamente dito
em Alcácer do Sal, que
nessa data se encontrava
cercada pelas tropas de
D. Afonso Henriques.
Dentro do castelo e nos
seus aposentos, um
sherife mouro,
falava à sua bela filha
Fátima:
"
...
já
é madrugada. Tu e as
tuas servas,
vão agora tentar sair do
castelo, pela porta da
traição. Depois
dirigem-se a Sevilha,
onde tens de procurar a
casa do teu tio
Marec, que mora
no Alcácer. Conta-lhe
que teu pai morreu a
defender este castelo a
também por
Alá
!".
- "Mas meu pai,
eu não me quero ir
embora, quero ficar
convosco !" -
implorou-lhe a filha.
Mas o pai não concordou:
"Despacha-te, minha
filha. Não vês que não
tarda que o rei cristão,
D. Afonso Henriques (o "Ibnerrik")
está preste a tomar o
castelo ?! ...
e
que depois é impossível
a tua fuga ...".
- "Vou cumprir
o teu desejo. Que
Alá
te proteja, meu
pai
!".
- " E a ti
também, minha bela
filha !".
- " Um beijo,
meu
pai ...".
Momentos depois, quatro
jovens montadas a
cavalo, partiram rumo a
Sevilha.
Perto do castelo de
Alcácer do Sal, numa
curva do caminho, um
jovem e belo cavaleiro
da Ordem dos Templários,
estava entre um grupo de
amigos, também
cavaleiros como ele, e o
jovem falava assim aos
companheiros:
- "...
já
meu pai era também
cavaleiro Templário.
Chamava-se
Hermígio
Gonçalves, e era
conhecido pelo "Lutador"
...".
- "Curioso, o
teu pai era conhecido
pelo "Lutador", e tu,
Gonçalo
Hermígues, és
conhecido por "Traga -
Mouros" !
estes, só de
pronunciarem o teu nome,
tremem dos pés à cabeça
" - acrescentou um dos
companheiros, que
continuou: "Eu não sabia
que tinhas uma ilustre
descendência
Templária ...".
Gonçalo
Hermígues,
sorriu, encolheu os
ombros e continuou a sua
história:
- Como ia a
dizer, meu pai, o
"Lutador", morreu em
1139, na Batalha de
Ourique, juntamente com
Gonçalo Mendes da Maia,
o "Lidador",
o qual morreu com 95
anos, a combater os
infiéis".
Outro cavaleiro
interrompeu, ao dizer:
- "Vamos falar
em coisas mais alegres.
Olha lá, "Traga
-
Mouros", além de bravo
guerreiro, também és
poeta. Ora canta lá um
dos teus
poemas ...".
- "Somos todos
ouvidos" - concordaram
os outros companheiros.
O jovem não se mostrou
nada interessado naquilo
que os companheiros lhe
pediam: "Pois é, amigos,
hoje não estou nada
inspirado ..."
- e pondo-se em pé,
alertou os outros: "Atenção
! escutem, que
vem aí gente a cavalo
- devem de ser Mouros,
por isso escondam-se
depressa ... ... Quem
vem
lá ?! ...
Faça
alto ...".
Momentos depois,
apareceram quatro
cavaleiros mouros ...
Saindo dos seus
esconderijos, logo os
cavaleiros cristãos
cercaram os cavaleiros
mouros. Altivamente,
Gonçalo
Hermigues
perguntou ao grupo
inimigo:
- "Quem são
vós, e para onde se
dirigem ?! ...
respondam !...".
- "Senhor
cavaleiro cristão, sou
Fátima e estas são
minhas servas ...".
Logo os companheiros
exaltadamente se
expressaram:
- "São quatro
mulheres, Gonçalo
Hermígues
! são quatro
mulheres que nos caíram
do céu ...
são
um verdadeiro achado !
...".
Mas o jovem cavaleiro
manteve a postura e,
calmamente, aconselhou
os amigos:
- "Fiquem de
vigia, pois podem
aparecer mais mouros"
- e voltando-se para as
jovens, convidou-as: "E
vós, donzelas,
acompanhem-me à presença
do nosso Mestre. Fátima,
venha aqui para o meu
lado
!".
- "Às suas
ordens, cavaleiro
cristão !" -
respondeu-lhe
altivamente a bela
jovem.
Ao iniciarem a marcha,
todas as mouras
clamaram: "Que
Alá
esteja connosco, que
Alá
esteja
connosco ! ...".
Naquela tarde abrasadora
do mês de Julho,
encontravam-se ainda nos
campos de Alcácer do
Sal, o carcereiro e a
prisioneira, ou seja,
Gonçalo
Hermígues e a
bela princesa moura -
a Fátima.
- "Tens um
lindo nome, Fátima. Por
acaso sabes qual é a
origem
dele
?" -
perguntou-lhe Gonçalo
Hermígues.
- "Sei. Fátima
era filha de
Moomé e esposa de
Ali, o que para vós,
cristãos, pouco ou nada
diz" - respondeu-lhe
meigamente a jovem.
Encarando a Princesa, o
cavaleiro cristão,
comovidamente,
disse-lhe: "Sabes,
Fátima ...
tu
és tão linda ...
fica-me mal
dizer-te o que vou
dizer, mas estou
apaixonado por ti !.
Habituei-me à tua
companhia, à tua doçura,
à tua beleza, que,
quando nos separarmos
decerto que irei sofrer
muito !".
Fátima corou e, apelando
para toda a sua coragem,
meigamente
respondeu-lhe: "Eu
também gosto muito de
ti, Gonçalo
Hermígues. Também
te amo muito, e muito te
aprecio. Mas tu és
cristão e eu sou
moura ! ...
sinto-me tão
infeliz !".
- "Minha
querida Fátima, renuncia
à Lei da
Mofona, e
baptiza-se pela Lei de
Cristo !. Pois
assim podíamos casar,
pois eu amo-te
muito !" -
implorou-lhe o jovem,
ajoelhando-se a seus
pés.
- "Por Amor a
ti, tudo farei, meu
querido Gonçalo
Hermígues
!" -
respondeu-lhe a Fátima,
apertando-lhe as mãos
- quero-me baptizar na
tua religião, pois quero
ser tua esposa !".
- "Serás a
Oriana, a minha
querida esposa
Oriana
!. Depois iremos
viver muito felizes para
as minhas terras de
Ourém, junto onde
repousa meu
pai
...".
Oriana morreu
poucos anos depois, o
que provocou tamanha dor
em Gonçalo
Hermígues, o
"Traga - Mouros", que
renunciou ao Mundo,
entrando para o Mosteiro
de Cister, em Alcobaça.
(Carlos Leite Ribeiro – Maio
de 1967)
Ourém
http://www.regiaocentro.net/lugares
O nome original deste
Concelho foi
Abdegas
até o século XII. Com a
expulsão dos Mouros por Dom
Afonso Henriques em 1136,
foi alterado para Aurem e
finalmente Ourém.
O nome Ourém terá derivado
de uma lenda que envolve uma
linda moura. Estando
apaixonada pelo cavaleiro
templário Gonçalo Henriques,
a moura converteu-se ao
cristianismo e tomou o nome
de
Ouriana.
Auren
era o nome do castelo que,
em 1136, D. Afonso
Henringues tomou aos
mouros. Em 1180 foi
concedido o primeiro foral
dado por D. Teresa, filha do
rei conquistador. O Conde
Andeiro,
segundo Conde de Ourém, foi
o responsável pela
assinatura do Tratado de
Aliança entre Inglaterra e
Portugal, em vigor até aos
nossos dias.
D. Nuno Álvares Pereira,
terceiro Conde de Ourém, foi
o homem que em 1385 garantiu
a independência de Portugal
quando conseguiu uma
espectacular vitória na
grandiosa Batalha de
Aljubarrota. A derrota do
exército castelhano, cinco
vezes maior que o português,
inscreveria para sempre o
seu nome nos anais da
história de Portugal.
O quarto conde de Ourém, D.
Afonso, instalou a sua corte
na localidade. Com as
muralhas e torreões que
mandou erguer protegeu o
burgo e o seu paço. A
Colegiada de Nossa
Senhora da Misericórdia
congregou as quatro
paróquias do burgo, em 1445.
Após o terramoto de 1755 e
com as Invasões
Napoleónicas, começa a
delinear-se a nova
localidade, no vale. A então
freguesia independente de
Aldeia da Cruz viria a ser a
futura sede do concelho, com
o nome de Vila Nova de
Ourém. Em 2001, passou a ser
cidade, com o nome de Ourém.
Em 1917, altura das
aparições de Nossa Senhora
em Fátima para os três
pastorinhos, na Cova da
Iria, o Concelho tomou novo
impulso económico, em
virtude em especial das
romarias que tem atraído
milhares de
fiéis
todos os
anos.
Texto de Salomé
Joanaz
e Renato Soares
especialmente para o
regiaocentro.net
SERRA DE AIRE AO AGROAL
http://www.regiaocentro.net/lugares
A Serra de Aire limita o
concelho a sul. A presença
de grandes afloramentos
calcários e de uma flora
autóctone única permite que
seja uma área protegida e
integrada no Parque Natural
das Serras de Aire
Candeeiros (PNSAC).
Nesta serra quase tudo é
pedra que se eleva em cumes
agrestes cobertos de
vegetação rasteira e
oliveiras. Os matos permitem
também a presença de falcões
e águias que por ali voam e
caçam livremente.
O verde da vegetação é
interrompido pelos muros de
pedra que dividem as
propriedades e que serviram
para limpar o terreno para
que pudesse ser usado na
agricultura. Estas
construções resultam num
rendilhado onde o verde das
culturas contrasta com
o cinza
das pedras.
Para quem passeia na Serra
de Aire é imprescindível
visitar as aldeias de pedra
como Casais Espertos, Casal
Farto,
Maxieira, Sobral,
Poleiros e Vale Figueira.
Seguindo a direcção de
Ourém, em pleno planalto
(com muitas
geutase
covas abertas pela água)
onde os socalcos se sucedem
e começa os vinhedos de
Atouguia, há uma
série de vales profundos que
impressionam pela dimensão:
Vale da Fonte, Vale das
Queimadas e Vale da Chita
(próximo da estrada que
segue para Fátima).
A bacia de Ourém contrasta
com a serra e o Planalto.
Ali a fertilidade dos campos
é usada há centenas de anos.
A breve
calmia das paisagens
é interrompida por pequenos
morros cobertos de pinhal.
Os vales são sulcados pelos
riachos e ribeiras que
desaguam no rio Nabão.
Seiça
é uma localidade com a
presença antiga de fidalguia
e casas grandes. Cresce em
redor da Ermida de Santa
Maria onde, segundo a
tradição, se ajoelhou a
rezar D. Nuno Álvares
Pereira antes e depois da
Batalha de Aljubarrota. Há
também várias quintas nobres
que floresceram em Norte,
Alcaidaria, Olaia,
Seiça
e
Sorjeira.
algumas
foram recuperadas para
turismo. Não esquecer a
Ribeira de
Seiça
envolvida por Ourém e pela
própria localidade de
Seiça.
Contornando-se o Alto da
Pimenteira e descendo pelos
vinhedos que se estende ao
longo da encosta de
Gondomaria chega-se
ao Vale da Ribeira de
Gondemaria. As
encostas vinhateiras são
produtoras daquele que é
considerado o melhor vinho
da região. É possível
prová-lo na Adega
Cooperativa de Ourém, na
localidade de Casal de
Frades.
Há duas aldeias também
dignas de visita:
Soutaria e
Tomaréis que se
situam neste vale, próximas
das ribeira de Olival.
Também a Ermida de Nossa
Senhora da Conceição fica
nas proximidades da ribeira.
Apresenta um arco triunfal
por onde se faz a passagem
para o altar-mor, no qual
estão visíveis frescos que
representam Santo Agostinho
e Santo Ambrósio. Quando se
sobe em direcção à nascente
da Ribeira de Olival, começa
a ser possível assistir a
uma abertura na paisagem. No
alto de Óbidos e Aldeia Nova
é possível ver belos
panoramas. De seguida porque
não seguir viagem até aos
vales das ribeiras de
Salgueira ou
Fárrio.
As usas encostas revestem-se
de frondoso pinhal. Nas
zonas ribeirinhas desde
Casal dos Bernardos até Rio
de Couros estendem-se os
milheirais e hortas viçosas.
Em Rio de Couros havia a
tradição de cozer o pão no
forno comunitário. Cozia-se
também o "Bolo da Senhora"
que era distribuído no dia
da festa.
A nascente e o vale da
Ribeira de
Espite
estão protegidos por pinhal,
de onde correm mais algumas
ribeiras e riachos e as
fontes da Ribeira de
Urqueira
Caxarias tem a sorte
de ser uma povoação banhada
por dois cursos de água.
Dali também se chega
rapidamente ao Nabão.
Segue-se ao seu lado até se
encontrar
Freixianda cheia de
contrastes provocados pela
vegetação e pelas hortas de
milho, pelas vinhas e pelos
olivais que dão azeite puro,
em Formigais. O rio corta
escarpas calcárias e segue
caminho até ao local do
Agroal.
Aqui, bem no leito do rio
uma fonte de águas termais
mineralizadas e frias brota
para curar doenças de pele.
Texto de Salomé
Joanaz
especialmente para o
regiaocentro.net
Rio Maior – (Concelho do
Distrito de Santarém)

Povoação antiga, foi
em 1177 doada à Ordem
dos Templários por Pêro
de Aragão e sua mulher;
elevada à categoria de
vila em 1836 no reinado
de D. Maria ll.
Origem do nome:
»Da, Grande Enciclopédia
Portuguesa e
Brasileira»: “As origens
de Rio Maior são
bastantes imprecisas. É
evidente que a região
foi habitada por povos
pré-históricos como se
verificou com as
descobertas
arqueológicas feitas nas
grutas de Nossa Senhora
da Luz. Apareceram 25
crânios, guardados hoje
no Museu Etnológicos e
classificados como
neolíticos (Dr. Manuel
Heleno e Prof. Obermaier).
Numa outra gruta, mais
moderna, foram
encontrados machados
polidos, braceletes,
sílices, vasos, mós
manuais, furadores de
osso, de setas de marfim
e pedra e alguns
crânios. Os vestígios da
ocupação durante a
denominação romana
também são muito
abundantes. Nuns
terrenos entre o
cemitério e o leito do
rio, apareceram colunas
bem trabalhadas e
mosaicos de uma vila
romana. Encontram-se
ainda fornos para
fundição de metais,
canalização, sepulturas,
restos de muralhas,
silos, e muitos objectos
de fabrico e uso romano.
É natural que já então
se explorassem as
salinas e os metais,
exploração que teria
fixado um importante
núcleo populacional. O
povoado, no entanto,
perdeu-se por completo.
Só muito mais tarde se
criou uma pequena aldeia
na margem direita do
rio, que lhe deu nome,
depois transferida a
pouco e pouco, para a
margem oposta”.
Rio Maior
http://www.regiaoderiomaior.pt/histactual.htm
Da Pré-História à
Ocupação Romana
-
Remontando a tempos
pré-históricos, sabe-se que
o Mar Terciário cobriu parte
da região de Rio Maior, como
o testemunha a existência de
sal-gema no subsolo, os
calcários, os fragmentos de
grandes vertebrados, e todo
o notável espólio
pré-histórico das inúmeras
estações arqueológicas do
concelho, que fazem de Rio
Maior uma referência
nacional e internacional
neste particular (são
importantes as estações da
Quinta da Rosa,
Teira,
Senhora da Luz, de Azinheira
e de Arruda dos Pisões).
Qualquer estudo de
Pré-História na Península
Ibérica,
terá que passar sempre pelo
imenso espólio existente na
região de Rio Maior. Por
outro lado, as
características do subsolo
da região, levam a pensar
que esta terá sido
profundamente atingida pelas
grandes transformações
sofridas na crosta
terrestre, como o comprovam
também as diversas falhas
tectónicas na zona da Serra
dos Candeeiros, e o vale
tifónico da Fonte da
Bica.
É perfeitamente natural que
Rio Maior tenha sido uma
região habitada desde sempre
pelo Homem, uma vez que aqui
sempre houve bastante caça,
água, solos férteis, abrigos
de defesa naturais (como a
serra), um microclima ameno
e sobretudo ricos filões de
sílex, sendo que este último
era indispensável para o
fabrico de utensílios. Há
pois vestígios de
povoamentos muito remotos
nesta região, desde o
Paleolítico, passando pelo
Neolítico, até à Ocupação
Romana e Árabe.
O Castro de S. Martinho é um
exemplo disto, sendo ainda
de assinalar alguns fustes,
mosaicos romanos, ruínas,
restos de muralhas e
vestígios de fundição de
metais. Relativamente à
fundição de metais, subsiste
ainda hoje um túnel de
tijoleira denominado «Buraca
da Moura», que teria servido
para a canalização de águas
para uma fundição do tempo
dos Romanos.
Próximo do cemitério da
cidade, existem belos
mosaicos de uma
Villa
Romana, onde se acharam
colunas trabalhadas e em
especial uma estátua de
Ninfa Adormecida, descoberta
em 1991 no decurso de
escavações arqueológicas.
Esta estátua encontra-se no
hall de entrada do edifício
dos Paços do Concelho. A
existência desta
Villa
Romana já era referida nos
finais do século XIX.
Sabe-se que a povoação de
Rio Maior
desenvolveu-se
primitivamente na margem
direita do rio que lhe dá o
nome, passando a pouco e
pouco para a margem
esquerda, onde actualmente
está implantado o grosso da
estrutura urbana da cidade.
O rio Maior, em cuja
nascente existiu um «concheiro»
e um povoado, é um afluente
do Tejo, e consta-se que há
alguns séculos atrás este
rio tinha um caudal e um
leito muito maior que o
actual, tendo sido navegável
até aos finais do século XIX,
o que talvez justifique a
desproporcionalidade do seu
nome actualmente. A própria
Ermida de S. Francisco de
Assis, da Vila da
Marmeleira, foi construída
a 97 metros de altitude,
para que os fiéis não
ficassem privados do culto,
por causa das enormes cheias
do rio Maior, que inundavam
grandes extensões da zona de
S. João da Ribeira ainda em
finais da Idade
Média.
Em termos de património
cultural, há a considerar
alguns Monumentos Nacionais,
como o Pelourinho de
Azambujeira (de forma
fálica, datado do século
XVII) e a Gruta Sepulcral de
N. Srª
da Luz, que se situa no
limite Oeste do concelho,
junto à estrada que liga Rio
Maior às Caldas da Rainha.
Igualmente importante é a
Gruta das
Alcobertas (ocupada
pelo Homem há cerca de 15
000 anos), na aba da Serra
dos Candeeiros e o Dólmen da
mesma povoação, monumento
megalítico do Neolítico
Final, convertido em ermida
e posteriormente em capela.
Quer na Gruta Sepulcral de
N. Srª
da Luz, quer na Gruta das
Alcobertas, há
indícios de ocupação humana
de primitivas civilizações,
e das suas manifestações
fúnebres. Próximo destas
zonas e por todo o concelho,
foram descobertos inúmeros
artefactos datados de
diferentes épocas
históricas, estando alguns
dos quais depositados e
«encaixotados» no Museu
Etnológico Dr. Leite de
Vasconcellos, em
Lisboa, actualmente
denominado Museu Nacional de
Arqueologia.
Da Ocupação Romana à Época
Moderna - A notícia mais
antiga que se conhece sobre
Rio Maior, é uma venda de
Pero
d`Aragão (ou
Baragão?)
e sua mulher Sancha Soares à
Ordem dos Templários, "da
quinta parte que tinham no
poço e salinas de Rio Maior"
que, com mais de oitocentos
anos de existência,
continuam a ser o
ex-líbris do
concelho. Este documento
data de 1177, por alturas da
Reconquista Cristã, e está
escrito em latim, sabendo-se
igualmente que, já nessa
altura a Ordem do Hospital
detinha também algumas
marinhas.
As salinas naturais distam 3
Km
da cidade de Rio Maior, e
têm a sua origem numa mina
de sal-gema (a mais
importante da Península
Ibérica), explorada ainda
hoje artesanalmente. As
salinas situam-se num
extenso vale próximo da
Fonte da Bica num lugar
denominado Marinhas do Sal.
Ao longo da História de
Portugal, Rio Maior sempre
foi um importante ponto de
passagem, pois segundo conta
a tradição, já D. Afonso
Henriques por aqui tinha
passado com o seu exército,
aquando da conquista de
Santarém aos mouros. A
prová-lo está a
descoberta
arqueológica nesta região,
de moedas cunhadas pelo
Conquistador. Durante muitos
séculos as Ordens de Avis e
de Cister foram
proprietárias de inúmeros
coutos nesta zona,
especialmente a ordem
francesa, a qual também
explorou sal nas referidas
marinhas.
Para além da já referida
extracção de sal, há muitos
vestígios de exploração
mineira na região de Rio
Maior, que juntamente com
Campolide, possui os mais
antigos vestígios de
mineração na História de
Portugal, se assim se pode
dizer. Com efeito, esta
exploração já vem de tempos
pré-históricos, além de que
os Romanos instalaram
centros metalúrgicos em Rio
Maior, tradição que se terá
mantido até aos séculos
XIII-XIV. Nos Coutos de
Alcobaça eram tradicionais
os trabalhos de ferragem,
para o fabrico de
instrumentos agrícolas, pelo
que, ao que tudo indica, na
zona de Rio Maior teriam
existido fundições
metalúrgicas e até mesmo
mineração de
ferro.
Relativamente à Ocupação
Árabe, poucos ou nenhuns
registos ficaram na zona de
Rio Maior. Contudo, sabe-se
que esta região fez parte da
província sarracena de «Belatha».
Da presença muçulmana
nesta
terras, apenas sobram
as Picotas das Marinhas do
Sal (cópias das suas
antepassadas) e uma Torre
Mourisca em São João da
Ribeira, já muito adulterada
ao longo dos séculos. Para
além disto, há ainda a
toponímia (localidades cujo
nome começa por «AL»), e
suspeita-se de que terá
existido um castelo
mourisco, que foi destruído
em 1878, para a construção
de uma escola primária [!].
Ainda no que concerne à
Idade Média, consta-se que
também o Conde
Andeiro
esteve em Rio Maior, onde
teria sido forjado um plano
para o seu assassinato, uma
vez que a Rainha D. Leonor
Teles, sua amante, se
encontrava hospedada no Paço
da localidade. Sabe-se
igualmente que D. Fernando
frequentou Rio Maior nas
suas caçadas e que para aqui
se retirava com a sua
família. Também o Infante D.
Pedro, Duque de Coimbra,
reuniu o conselho e deu
descanso às suas tropas em
Rio Maior, quando se dirigia
para a Batalha de
Alfarrobeira.
Infelizmente, Rio Maior não
é muito pródigo em
monumentos representativos
do seu passado,
inclusivamente em matéria
religiosa, e mesmo a
documentação existente é
escassa. Sabe-se que alguns
monarcas interessaram-se pelo
desenvolvimento da
localidade, nomeadamente D.
José I e o Marquês de
Pombal. Pelas suas
influências, e a pedido da
população, foram construídos
edifícios (o Hospital da
Misericórdia, por exemplo) e
foi criada pelo Rei uma
feira anual (em 1761), que
ainda hoje se mantém, tendo
a denominação de
Frimor
-
Feira Nacional da Cebola,
realizando-se na altura a
meio do mês de Setembro.
Esta feira já funcionava
anteriormente como uma feira
franca. Actualmente a Feira
Nacional da Cebola
realiza-se na primeira
semana de Setembro, mas
perdeu alguma importância,
tendo sido suplantada pela
Feira das Tasquinhas,
consagrada à gastronomia,
artesanato e doçaria. Este
certame realiza-se durante
10 dias, no mês de Março.
Da Época Moderna ao século
XX -
Os séculos XVIII e XIX
riomaiorenses são um
pouco mais ricos. Os
Franciscanos
Arrábidos fixaram-se
em Rio Maior, aqui
construindo um hospício em
1763, que veio mais tarde a
ser o edifício dos Paços do
Concelho (entretanto
demolido há alguns anos,
sendo substituído pelo
actual edifício da câmara,
que foi inaugurado em 1992).
De destacar o impacto
sofrido na região, aquando
das invasões napoleónicas,
nomeadamente a terceira,
comandada por
Massena,
uma vez que todo o concelho
esteve submetido às
consequências da guerra, ou
não estivesse no caminho das
Linhas de Torres. Sabe-se
que em Março de 1811 uma
força de 5 000 soldados
franceses comandados por
Junot
defrontou-se com as
tropas anglo-lusas à entrada
de Rio Maior, num violento
recontro de artilharia, de
que resultaram ferimentos
graves para o general
francês. Em Rio Maior também
esteve D. Miguel, num
período conturbado da
História de Portugal, onde
teve conhecimento do
resultado da Batalha de
Almoster. Aqui ocorreram
muitas disputas entre
Liberais e
Miguelistas.
O século XX foi o da
consolidação de Rio Maior
enquanto sede de concelho,
tornando-se cada vez mais
num núcleo populacional
hegemónico, ao mesmo tempo
que os meios rurais viam
decrescer a sua importância,
nomeadamente a Azambujeira e
a Vila da Marmeleira. Na
base disto, esteve
naturalmente a concentração
dos serviços da
administração pública em Rio
Maior, e o desenvolvimento
do seu tecido económico e
social.
Além do mais, em termos
populacionais Rio Maior
sempre esteve em lugar de
destaque, relativamente à
Azambujeira e outras
povoações, como o comprovam
os censos realizados em
1527, 1758, 1864 até à
actualidade.
A outro
nível, a história
contemporânea de Rio Maior é
vital para se compreender os
caminhos tomados por
Portugal no pós 25 de Abril
de 1974, aqui tendo ocorrido
importantes factos de
natureza política, muitos
deles ainda por estudar.
O concelho de Rio Maior
caracteriza-se pela sua
beleza paisagística,
enquadrado a Norte pela
Serra dos Candeeiros (613
metros de altitude),
possuindo também vastos
pinhais e bosques. É
atravessado pelo rio Maior,
que deu o nome à localidade,
pese embora actualmente seja
um rio com reduzido caudal e
leito. Trata-se de um
afluente do rio Tejo, com 54
Km
de curso, 26 dos quais só no
canal da Vala de Azambuja.
Este rio nasce num pitoresco
sítio denominado «Bocas», a
Oeste da cidade de Rio
Maior. Neste local
-
um desfiladeiro - realiza-se
todos os anos o piquenique
do Dia de Bom Verão. Para
além do mais, o concelho de
Rio Maior tem um subsolo
extraordinariamente rico,
nomeadamente em lignite
(carvão de madeira), tendo
de resto as maiores reservas
existentes em Portugal.
Aliás, desde o início do
século até 1969, foi
explorada em grande escala a
Mina do Espadanal, que marcou
indelevelmente durante
décadas o período mineiro de
Rio Maior. De resto, a
empresa mineira (EICEL), nos
anos cinquenta e sessenta
chegou a ter um ramal
ferroviário privado até ao
Vale de Santarém, para o
transporte do carvão. O
antigo cais da mina
situava-se no pavilhão onde
actualmente funcionam as
duas feiras anuais de Rio
Maior (o actual Pavilhão
Multiusos foi construído
sobre este mesmo cais).
A mina funcionou em pleno
entre os anos 40 e 50, em
virtude da grande falta de
combustíveis durante a 2ª
Guerra Mundial. Para Rio
Maior vieram muitos mineiros
de outros pontos do país, os
quais em grande parte
acabariam por ficar aqui,
deixando descendentes que
hoje são comuns cidadãos
riomaiorenses.
As minas
de lignite de Rio Maior
foram decisivas para o
desenvolvimento da sede de
concelho e da região, e
"alimentaram" importantes
industrias nacionais
como a Companhia União
Fabril.
As Origens do Concelho de
Rio Maior
-
As origens do concelho de
Rio Maior são um tanto
imprecisas. O município de
Rio Maior foi criado por
decreto de 6 de Novembro de
1836, sendo então a
localidade elevada a sede de
concelho. Rio Maior nunca
teve foro de vila, tendo
antes pertencido ao concelho
de Azambujeira até à
extinção deste, em 1834, por
decreto de D. Maria II,
aquando das reformas
administrativas
desencadeadas por Passos
Manuel. Foi no reinado da
mesma D. Maria II, que Rio
Maior foi efectivamente
elevada ao estatuto de vila
e sede de concelho, tendo
sido o seu primeiro
administrador José Henriques
de Carvalho.
Ainda antes de Rio Maior se
tornar concelho, após a
«despromoção» de Azambujeira
em 1834, Rio Maior pertenceu
ao concelho de Santarém,
situação que duraria apenas
dois anos. Note-se que, o
concelho de Azambujeira
havia sido criado por D.
João IV em 1654, o qual
também concedeu o título de
vila à localidade, que no
entanto - tal como Rio Maior
- nunca teve foral, sempre
se regendo pelo de Santarém.
O concelho de Rio Maior
abarca uma área de 277, 40
Km2 (4,18% do Distrito de
Santarém), compreendendo 77
lugares e 14 freguesias, a
saber: Alcobertas,
Arrouquelas, Arruda
dos Pisões, Asseiceira,
Assentiz,
Azambujeira,
Fráguas,
Malaqueijo,
Marmeleira, Outeiro da
Cortiçada, Ribeira de
S. João, Rio Maior, S. João
da Ribeira e S. Sebastião. A
maior freguesia é a da sede
de concelho, ocupando uma
área de 90,696 Km2. As
freguesias fundadoras do
concelho de Rio Maior,
foram Abitureiras (hoje
pertencente a Santarém),
Arruda dos Pisões,
Azambujeira, Outeiro da
Cortiçada, São João
da Ribeira e Rio Maior.
O concelho de Rio Maior faz
parte do distrito de
Santarém, e é comummente
considerado como pertencente
ao Ribatejo, pese embora o
facto de metade da área do
concelho, na parte Oeste,
incluír-se na
Estremadura. Daqui nasce uma
área de transição entre as
influências do Ribatejo e do
litoral Oeste, denominado
por "Estremadura
Ribatejana". Rio Maior é
Comarca e pertence à Diocese
de Santarém, sendo o seu
feriado municipal a 6 de
Novembro. O concelho tem
perto de 20 mil habitantes,
sendo que a sede tem cerca
de 10 mil habitantes, tendo
sido elevada à categoria de
cidade por Lei de
14.8.1985.
A cidade de Rio Maior
situa-se nas coordenadas 39º
20` de latitude Norte e 8º
53`2 de longitude Oeste. A
localidade dista 80
Km
da capital, 30
Km
de Santarém e 20
Km
das Caldas da
Raínha.
O concelho de Rio Maior faz
limite com os concelhos de
Alcobaça e Porto de Mós (a
Norte), Caldas da Rainha e
Cadaval (a Oeste), Santarém
(a Leste) e Azambuja (a
Sul).
As aldeias e os lugares mais
importantes da freguesia de
Rio Maior são
Anteporta, Alto da
Serra, Arco da Memória,
Azinheira,
Bairradas, Cidral,
Carvalhais, Boiças, Fonte da
Bica, Freiria, Lobo Morto,
Marinhas do Sal, Pé da
Serra, Vale de Óbidos, Venda
da Costa, Quintas e
Abuxanas. O orago de
Rio Maior é Nossa
Srª
da Conceição, sendo que a
freguesia anteriormente
denominava-se Nossa
Srª
da Conceição de Rio Maior,
pertencendo ao priorado da
Ordem de Avis. No total, a
freguesia de Rio Maior tem
perto de 12 mil habitantes.
Rio Maior na actualidade
-
O concelho de Rio Maior tem
uma densidade populacional
de 73 habitantes por Km2, no
entanto na sede de concelho
esse número é ainda mais
elevado, em face da
concentração populacional
ser aí mais forte (tem
metade dos habitantes do
concelho). 65%
da
população tem mais de 25
anos, pelo que começa a
denotar-se uma certa
tendência para o
envelhecimento da mesma.
A população activa do
concelho (cerca de 8 000
pessoas) está distribuída
pelos três sectores da
economia, sendo que uma
parte importante dedica-se à
agricultura, seguida de
perto pelo comércio (com
saliência para a área dos
serviços) e pequena
indústria. A agricultura
continua a ter um forte peso
na estrutura económica e
social do concelho,
destacando-se as produções
de tomate (horticultura),
vinho, maçã, pêra, milho,
trigo e azeite.
O município vive
essencialmente dos
rendimentos desta
actividade, especialmente da
agro-pecuária (é um dos
maiores produtores nacionais
no sector da suinicultura, a
par do Montijo e de
Famalicão), para além da
avicultura, sector
igualmente florescente no
concelho. Ao todo, Rio Maior
tem mais de 300 empresas, e
quase 400 estabelecimentos.
Rio Maior possui também
conceituadas indústrias
alimentares de transformação
de carnes, destilarias de
vinho, indústrias de rações
para animais e indústrias de
madeira e de cerâmicas,
todas elas de considerável
dimensão. Actividades
importantes são também a
construção civil, a
indústria metalomecânica (de
construção de basculantes),
na qual Rio Maior ocupa
lugar de destaque a nível
nacional, e as indústrias
extractivas de caulinos,
matérias inertes (pedreiras)
e areias especiais (sílica).
Aliás, Rio Maior possui as
maiores reservas de areias
especiais em Portugal, que
estão em grande parte ainda
por explorar.
Actualmente o concelho
debate-se com a necessidade
de importantes reformas
económicas, tendentes à
fixação das populações e à
garantia de emprego aos
jovens, de modo a evitar a
sua saída precoce para
outras regiões, pese embora
a taxa de desemprego do
concelho seja relativamente
baixa. A cidade está
relativamente bem equipada
no que concerne a
infra-estruturas públicas e
sociais (tem 85 quilómetros
de estradas municipais e 48
de caminhos municipais, para
além de diversos edifícios
da administração pública e
autárquica), mas denota
problemas de crescimento
económico, no âmbito do
sector privado, mormente na
área da indústria pesada,
praticamente inexistente no
concelho.
Uma explicação para esta
situação, pode ter sido o
não aproveitamento de
oportunidades únicas de
construção de grandes
estruturas industriais, que
foram desperdiçadas ao longo
de vários anos. Para Rio
Maior esteve para vir uma
grande central
termoeléctrica, uma fábrica
de automóveis, uma fábrica
de cerveja e mais
recentemente os depósitos da
Petrogal, que foram
retirados de Lisboa, da zona
onde se realizou a
Expo
98.
Actualmente Rio Maior é
conhecida como "a Cidade do
Desporto", em função da
forte aposta feita neste
sentido pela edilidade
local, governada há quase
duas décadas pelo socialista
Silvino Sequeira. Em face
disto foram construídas
inúmeras infra-estruturas
desportivas, desde um
Pavilhão Polidesportivo (com
capacidade para 3 500
espectadores), piscinas,
pista de atletismo de
tartan
e um campo de futebol
relvado (Estádio Municipal)
e ainda vários outros campos
relvados (naturais e
sintéticos), para além do
Centro de Estágios e
Formação Desportiva, estando
inclusivamente a funcionar
em Rio Maior uma delegação
do Instituto Politécnico de
Santarém, através da Escola
Superior de Desporto de Rio
Maior.
Neste momento, para além da
consolidação da aposta no
sector do desporto, o grande
desafio para o concelho de
Rio Maior é o
desenvolvimento económico da
sua Zona Industrial através
da implementação do Parque
de Negócios de Rio Maior (em
cooperação com o
Nersant),
por forma a mudar a face de
um concelho até agora
marcadamente agrícola e
comercial, demasiadamente
dependente de Lisboa, Caldas
da Rainha e Santarém. Ainda
entre os vários indicadores
sociais, deve referir-se na
área da educação, a taxa de
analfabetismo (da ordem dos
16,21%); o número de escolas
(73) e o número de alunos (3
347). Na área da saúde, o
concelho tem 11
estabelecimentos, e é
servido por 18 médicos.
Salvaterra de Magos –
(Concelho do Distrito de
Santarém)

Foi povoada por D.
Dinis a partir de 1295,
ano em que lhe foi
concedido o primeiro
foral renovado por D.
Manuel l em 1517. D.
João lll doou-a a seu
irmão D. Luís, que
mandou edificar um
palácio por onde
passaram entre 1763 e
1791, as maiores figuras
líricas da época da
dinastia de Bragança. A
Corte deslocava-se com
frequência a Salvaterra,
nomeadamente no reinado
de D. Maria lª. O que
atraia os reis para esta
região, era bem recheada
Coutada Real, local de
contínuas caçadas.
Foram senhores da vila,
sucessivamente ao
Infante D. Fernando,
filho de D. João l; a
Rodrigo Afonso e Pedro
Correia e a D. Nuno
Manuel, Guarda Mor do
rei D. Manuel l, cuja
família se manteve até
1542.
Origem do nome:
«Das, Memórias
Paroquiais “O Arqueólogo
Português – 1902»: “É o
nome desta terra
Salvaterra de Magos,
cujo nome e cognome, há
notícia que o tomou dos
feiticeiros que
antigamente vieram
desterrados para esta
terra; porque segundo
narram os mais antigos,
eram estas partes uma
montanhas, para as quais
mandavam os Ministros de
Santo Ofício os
feiticeiros, bem como
agora os mandam para
Castro Marim, e como o
degredo para esta terra
os livrava daqueles
cárceres, estes mesmos
lhe chamavam terra
salva; sendo as
primeiras partes aonde
se viram casas em esta
terra feitas pelos tais,
em sítio a que chamam
Magos por neste sempre
lá assistirem, ficando
por esta causa
chamando-se Salvaterra
de Magos (Tomo XXXlll,
fl 231)”.
«Do Domingo Ilustrado –
1900»: "O nome Magos
provém de um paul que D.
João lV mandou abrir na
localidade, pelo ano de
1656. Devemos todavia
notar que essa palavra
deriva do termo Majus
com que na Pérsia se
designam os filósofos.
Os Magos formavam uma
seita de adoradores do
Fogo, e tiveram por
fundador ou reformador
Zoroastro. Os sacerdotes
deste culto eram muito
instruídos em
astronomia, e levavam
vida tão moral quanto o
permitiam os costumes do
tempo …
Em antigo português
empregava-se a palavra
mógós para indicar os
marcos que limitavam
qualquer propriedade ou
território. Admitindo a
primeira origem, teremos
em uma antiguidade quase
fabulosa, a fundação
desta vila. Não há
notícias que o afirmem
ou contradigam, e
consequentemente temos
de suspender o juízo.
Se adoptarmos a segunda
hipótese, teremos de
optar por uma origem
muitíssima mais próxima
de nós, e atribuiremos a
sua fundação a el-rei D.
Dinis no ano de 1215”.
«Xavier Fernandes em
Topónimos e Gentílicos
(1944)»: “Por um lado,
ignoramos a relação que
possa haver entre o
vocábulo Magos e
qualquer paul; por outro
lado, é bem patente que
aqueles Majus deve ser o
latim magu ou o grego
Magos, com que era
designado qualquer
antigo sacerdote persa,
não havendo também
maneira de o relacionar
com os Magos da vila
ribatejana, pois, pelo
menos, não existe
indício histórico que a
autorize; ainda por
outro lado, Magos,
transformação de mogo,
marco divisório para
limite de terrenos,
oferece algumas
probabilidades de
aceitação, pois o facto,
a vogal “o”, em sílabas
sucessivas, pode mudar
para “a” por
dissimilação, mas este
étimo não pode ser
aceite
incondicionalmente, sem
que elementos
subsidiários doutra
natureza nos levem à
mesma conclusão.
Tratar-se-á, porventura,
do mesmo nome gótico,
Magus, adolescente,
rapaz, a propósito do
topónimo Maga?”
Salvaterra
http://www.cm-salvaterrademagos.pt/salvaterra/htm
Pré-História
Paleolítico
Durante milhares de
anos, o Homem viveu com
base numa economia de
recolecção, caçando,
pescando e recolhendo o
que a natureza lhe dava.
O paleolítico é o mais
antigo e o maior período
da história humana. Este
é caracterizado por um
sistema em que o Homem
vivia organizado
socialmente em bandos,
abrigando-se em cavernas
ou em acampamentos ao ar
livre.
No concelho de
Salvaterra de Magos,
devido à sua localização
geográfica, com inúmeras
linhas de água (Ribeira
de Muge, Ribeira do Vale
Zebro, Ribeira da Glória
e o Paúl de Magos),
verifica-se uma ocupação
muito intensa, com
inúmeros vestígios do
paleolítico.
As estações
arqueológicas mais
importantes no concelho,
onde se verifica uma
ocupação mais intensa
ocorre em Muge e Granho
(terraços da Ribeira de
Muge), nos Ramalhais,
próximo do Paúl de Magos
e em vários locais na
freguesia da Glória do
Ribatejo.
Das investigações
realizadas, verifica-se
uma ocupação muito
intensa e constante, que
vai do paleolítico
inferior ao paleolítico
superior, com produção
de inúmeros instrumentos
tais como bifaces,
unifaces, lascas entre
outros instrumentos.
Mesolítico
O termo mesolítico
deriva do termo grego "mesos"
= no meio e "litíco"=
pedra, é portanto o
período de transição do
paleolítico para o
neolítico.
As primeiras estações
arqueológicas conhecidas
em Portugal, atribuídas
ao período do
mesolítico, foram
descobertas em 1863, por
Carlos Ribeiro, e são
conhecidas por
concheiros.
Os concheiros são sítios
de habitat, cuja a
principal característica
consiste numa
concentração invulgar de
conchas, originando
pequenas colinas
artificiais, que se
destacam na paisagem.
No concelho de
Salvaterra de Magos,
foram identificados dois
núcleos distintos de
concheiros: Ribeira de
Muge e Paúl de Magos.
No primeiro local
assinala-se os
concheiros do Cabeço da
Amoreira, Cabeço da
Arruda, Moita do
Sebastião e Fonte do
Padre Pedro, entretanto
já destruído para
colocação de uma vinha.
Em relação ao Paúl de
Magos, destaca-se os
concheiros da Cova da
Onça, Cabeço dos Môrros,
Magos de Baixo e Magos
de Cima, estes últimos
foram destruídos na
década de 40, quando se
iniciaram os trabalhos
de construção da
Barragem de Magos.
O denominado Complexo
Mesolítico de Muge, que
engloba os concheiros de
Muge e do Paúl de Magos,
constituem uma das mais
importantes estações
arqueológicas do
mesolítico de toda a
Europa, todos manuais de
qualquer estudante de
arqueologia trazem uma
referência aos
concheiros existentes no
Concelho de Salvaterra
de Magos, devido ao seu
incalculável valor
científico.
Desde os finais do séc.
XIX, até à actualidade,
são inúmeros os
trabalhos científicos
realizados por
académicos ou
investigadores sobre os
concheiros de Muge .
Actualmente os
concheiros Cabeço da
Amoreira, Cabeço da
Arruda e Moita do
Sebastião, foram
classificados de
Monumento Nacional.
Neolítico
Neste período histórico,
verifica-se a
sedentarização do Homem,
graças à descoberta da
agricultura, assiste-se
ao abandono de uma vida
nómada, em que a
economia se baseava na
caça e recolecção.
No concelho de
Salvaterra de Magos, as
estações arqueológicas
atribuídas a este
período, estão
essencialmente
localizadas na freguesia
de Muge. Esta ocupação
deve-se à riqueza dos
solos e à necessidade do
seu aproveitamento para
agricultura.
De entre os vários
locais estudados, na
freguesia de Muge a
ocupação mais intensa
ocorre nas ribeiras do
Coelheiro e ribeira do
Vale de Lobos.
Período Romano
A partir de meados do
séc. IV a.C., surge uma
nova potência: Roma.
Após um desenvolvimento
sob a áurea da
civilização etrusca, o
império romano começa a
alargar o seu domínio
para territórios
vizinhos. A sua
influência inicialmente
estendeu-se para o
Mediterrâneo Oriental e
Ocidental, depois Norte
de África e por fim para
Norte em direcção da
Europa Central e Leste e
à península ibérica.
No concelho existem
vários vestígios da
presença romana, contudo
o local onde apresenta
maior ocupação, é o
Porto de Sabugueiro na
freguesia de Muge.
O primeiro autor a
referir-se ao Porto de
Sabugueiro, como uma
estação romana foi Mário
de Saa , que visitou o
local, onde encontrou
várias entulheiras de
material romano, ainda
segundo este autor, o
local teria sido um
importante porto de
navegação no período
romano.
Na década de 50, quando
a Casa Cadaval
(detentora do terreno),
procedia à abertura de
uma covas para plantação
de uma vinha, foram
descobertos vários
materiais romanos tais
como um mosaico, restos
de ânforas e um forno,
assim como outros
materiais. Estes
trabalhos foram
dirigidos por Bairrão
Oleiro e Jorge Alarcão .
Com base na descoberta
de um forno de cerâmica,
este local foi novamente
sujeito a escavações
arqueológicas, na década
de 80, por Guilherme
Cardoso, sem contudo
obter resultados muito
satisfatórios, para além
da identificação das
entulheiras respeitantes
ao forno.
Em conclusão, o Porto de
Sabugueiro apresenta-se
como uma estação
arqueológica de grande
importância no contexto
arqueológico do estuário
do Tejo.
Época Medieval
Atribuição de Cartas de
Forais e de Privilégios
A região onde Salvaterra
de Magos se veio a
implementar e a
desenvolver,
principalmente a partir
de finais do Séc. XIII,
constituía já nas
décadas anteriores um
espaço privilegiado de
ocupação humana e de
produção cerealífera.
Segundo Oliveira
Marques, as margens
irrigadas do rio Tejo
que ciclicamente
transbordava, permitia
uma grande fertilidade
nos campos, que eram
intensamente cultivados
com cereais, muito
consumidos no período
medieval.
D. Dinis outorga em 1 de
Junho de 1295, o Foral a
Salvaterra de Magos.
Este monarca também
ficou para a história de
Portugal como o rei que
mais forais outorgou,
trata-se portanto de uma
política que consistia
em ocupar zonas
despovoadas, assim como
permitir aos futuros
moradores destas zonas
arrotear e cultivar
estes terrenos, e criar
locais de culto. Está
bem explicito no Foral
de Salvaterra de Magos
que os futuros moradores
deste local deveriam ter
um lugar para o culto, é
deste forma que surge a
Igreja Matriz.
Ainda no reinado de D.
Dinis, em 1304, este
monarca outorga a Muge
Carta de Foral.
Salvaterra de Magos,
estava localizada a meio
caminho entre Lisboa e
Santarém, com o rio Tejo
a seus pés, possui
enormes campos férteis,
permitindo o
desenvolvimento da
agricultura e da criação
de gado, duas
actividades que ainda
hoje marcam a vila.
No reinado de D. Pedro
I, este monarca está
associado ao
aparecimento da Glória
do Ribatejo, como núcleo
urbano, ao atribuir a
este local em 1362 Carta
de Privilégios,
permitindo tal como os
Forais de Muge e
Salvaterra de Magos, que
esta zona também fosse
povoada e se
implementasse a
agricultura.
Num espaço de 70 anos,
houve 3 localidades que
receberam um conjunto de
privilégios, numa
estratégia política de
povoar estes locais
outrora ermos e
desabitados.
Tratado de Salvaterra de
Magos
Ainda no período
medieval, no reinado de
D. Fernando, regista-se
em Salvaterra de Magos
um acontecimento que irá
marcar o Reino de
Portugal - o Tratado de
Salvaterra de Magos.
Este Tratado ocorreu
nesta vila, a 2 de Abril
de 1383, onde ficou
acordado que a D.
Beatriz (filha de D.
Fernando I) casaria com
o D. João I de Castela.
Com a morte de D.
Fernando I, Portugal
mergulha numa crise de
sucessão, na qual o D.
João I de Castela queria
usurpar o trono
português.
Este acontecimentos
ficaram marcados na
crise de 1383-85, com a
Batalha de Aljubarrota,
em que Portugal em menor
número de tropas mas com
o apoio dos ingleses
desenvolve uma
estratégia que acaba por
derrotar os Castelhanos.
Desta crise sai como
vencedor o Mestre de
Avis - D. João I.
Época Moderna e
Contemporânea
Paço Real de Salvaterra
de Magos
A construção de um Paço
Real em Salvaterra de
Magos, foi por certo um
dos acontecimentos mais
importantes e
significativos nesta
vila, dado que muito
contribuiu para a
fixação da Família Real,
e foi um grande pólo de
índole cultural.
A construção do Paço
deve-se ao Senhorio da
Vila o Infante D. Luís,
filho de D. Manuel I,
cujo a orientação das
obras teve a cargo do
arquitecto Miguel da
Arruda.
Ao longo dos séculos,
este Paço sofreu
inúmeras alterações, no
reinado de Filipe I,
procedeu-se ao arranjo
dos jardins, mais tarde
com o monarca D. Pedro
II, prosseguem as obras
de pintura dos tectos do
Paço.
A época áurea do Paço
decorre no reinado de D.
José I, nos primeiros
anos da década de 50, em
que um vasto plano de
remodelação e ampliação
se inicia, incluindo a
construção de uma Casa
de Ópera.
Esta Casa de Ópera, ou
também denominado Real
Teatro de Salvaterra,
foi inaugurado a 21 de
Janeiro de 1753 com a
Ópera "Didone Abandonata".
Diversas representações,
dramas sérios ou
jocosos, foram aqui
apresentados com grande
êxito cénico e musical,
sempre no Inverno quando
a Família Real
permanecia em Salvaterra
de Magos.
O terramoto de 1755
viria a provocar
consideráveis estragos
no Paço, no ano imediato
e durante quatro anos
decorreram obras de
profundo restauro,
dirigidas por José
Joaquim Ludovice e
Carlos Mardel - dois
nomes ligados a grandes
empreendimentos
arquitectónicos na
Lisboa pombalina.
No início do Séc. XIX,
as invasões francesas
obrigaram a Família Real
a refugiar-se no Brasil,
e o Paço de Salvaterra
de Magos acusa essa
ausência dos nossos
monarcas e entre num
longo processo de
decadência. Aliado a
este situação regista-se
também um violento
incêndio em 1817, que
ajudou a intensificar a
agonia da degradação do
Paço.
A 10 de Setembro de
1849, a rainha D. Maria
II, autoriza a cedência
ao Estado de todos
prédios dependentes do
Almoxarifado de
Salvaterra de Magos, e
desta forma grande parte
do Paço foi vendido em
hasta pública com
excepção da Capela Real
que o Estado conservou.
Palácio da Falcoaria
Real
O Palácio da Falcoaria,
foi também um dos
factores predominantes
na fixação da Família
Real em Salvaterra de
Magos. Não existem dados
concretos relativos ao
sua construção, contudo
pelo estilo
arquitectónico, podemos
atribuir-lhe a sua
fundação ao Séc. XVIII.
No ano de 1752 chegaram
a Salvaterra de Magos 10
falcoeiros holandeses
vindos de Valkenswaard,
que vieram trabalhar
para o Palácio da
Falcoaria Real.
Numa descrição da época,
sabe-se que os
falcoeiros de Salvaterra
de Magos, na década de
oitenta de setecentos
usavam véstia com botões
de casquinha dourada,
chapéu fino agolado,
camisa de Holanda,
boldrié com fivela de
latão dourado.
No 1.º quartel do Séc.
XIX, a Falcoaria entra
num período de declínio,
em 1818 o Mestre
Henrique Weymans
assistindo ao abandono
das instalações da
Falcoaria "suplicava" um
conserto rápido evitando
a ruína.
No entanto a fuga da
Corte para o Brasil, a
instabilidade política
dos anos 20-30,
agudizaram o
desaparecimento do
Falcoaria, explicando a
drástica decisão da
regência do Reino, que
em Março de 1821, manda
extinguir todos ofícios,
incumbências e ordenados
das pessoas empregues na
Real Falcoaria, exigindo
ao Monteiro-mor que
procedesse ao inventário
e arrecadação de todos
objectos a ele
pertencentes,
constituindo depositário
deles o almoxarifado do
distrito.
Ainda hoje são visíveis
os testemunhos materiais
do Palácio da Falcoaria
Real, a Câmara Municipal
de Salvaterra de Magos,
vai iniciar dentro em
breve as obras de
recuperação deste
imóvel, restituindo-lhe
a dignidade que merece.
Ainda no Séc. XIX, no
contexto das guerras
entre absolutistas e
liberais, Salvaterra de
Magos desde muito cedo
marcou a sua tendência
absolutista, facto que
ainda hoje está presente
no imaginário popular,
dado que os habitantes
de Salvaterra de Magos,
são apelidados de "netos
de D. Miguel".
Sardoal – (Concelho do
Distrito de Santarém)

Recebeu foral em
1313, outorgado por D.
Isabel de Aragão, mulher
de D. Dinis, carta de
Coimbra a 11 de Janeiro
de 1313; e foi elevada à
categoria de vila em
1532, por D. João lll.
Origem do nome:
«Xavier Fernandes em
Topónimos e Gentílicos
(1944)»: “Tem um nome
derivado do vocábulo
sardão, tantos destes
animais há ou houve na
respectiva região,
vendo-se até um deles a
figurar no
correspondente brasão”.
Sardoal
http://www.frihost.com/forums
Nalguns locais do concelho
de Sardoal têm sido
encontrados vestígios da
presença do Homem desde
tempos muito antigos. No
Alto de S. Domingos, próximo
da Vila de Sardoal, no monte
que fica à nossa esquerda,
quando se avistam a aldeia
de S. Simão (que durante
séculos foi designada por
Alferrarede) foram
encontrados alguns objectos
de pedra polida, de que
existem dois exemplares na
Câmara Municipal, sabendo-se
que outros foram levados
para um Museu em Santarém e
que existem, ainda, outros
na posse de particulares.
Também nos castelos, a sul
da aldeia da Cabeça das Mós,
próximo da Ribeira das
Caldeiras, existem vestígios
de uma povoação, que pela
sua dimensão denota ter sido
importante, mas sobre as
suas origens pouco se
conhece. Conhecem-se outros
vestígios da antiguidade,
como, por exemplo, próximo
da Lapa, no Cabril, no
Curral da Serra, etc. que
deveriam ser objecto de uma
investigação arqueológica,
para se poder determinar a
história das suas origens.
Do período da ocupação
romana ficaram, também,
alguns sinais, como por
exemplo um troço de calçada
romana, junto ao casal da
Graça, a sul de
Valhascos e um outro
pequeno troço, próximo da
Ponte de S. Francisco. Dos
Árabes, ainda que não se
conheçam vestígios da sua
presença, é seguro que aqui
permaneceram durante muito
tempo, uma vez que este povo
conquistou Abrantes aos
Godos em 716 e só em 1148 D.
Afonso Henriques tomou a
Praça de Abrantes e dada a
proximidade e a relação de
vizinhança que sempre
existia entre Sardoal e
Abrantes, não é difícil de
acreditar que tenham ocupado
o que é, hoje, o Concelho de
Sardoal.
Em 1313, no documento mais
antigo que existe no Arquivo
Municipal, a rainha Santa
Isabel, Mulher de D. Dinis,
dirige-se já aos
Juizes
e Procuradores do Concelho
de Sardoal, concedendo, ao
então, lugar do Sardoal,
diversos privilégios. Alguns
historiadores defendem que
foi esta a rainha, que foi
donatária do Sardoal, que
deu ao Sardoal o seu
primeiro foral, ainda que,
até agora, não tenha sido
localizado este importante
documento. Desde então quase
todos os reis de Portugal
dedicavam a sua atenção ao
Sardoal, como o comprovam,
as muitas cartas régias que
se guardam no Arquivo
Municipal de Sardoal ou que
se encontram registados nas
diversas chancelarias
régias, sendo certo que
vários reis de Portugal aqui
permaneceram muitas vezes, o
que se comprova pela
existência de vários
documento reais, dados no
Sardoal, por D. Pedro I, D
Fernando, D. João I, D.
Duarte, D. Afonso e D Manuel
I, sabendo-se que em 7 de
Dezembro de 1432, aqui
nasceu a Infanta D. Maria,
Filha de D. Duarte e de D.
Leonor, sua mulher, que
morreu no dia seguinte. Em
22 de Setembro de 1531, D.
João III, por sua vontade
expressa e sem ninguém lho
requerer, por carta dada em
Évora, elevou o lugar de
Sardoal à categoria de Vila
e, em 10 de Agosto de 1532,
por carta dada em Lisboa
mandou-lhe demarcar um novo
termo, mais de acordo com a
nova categoria passava a
ter, decretando que a partir
de 1531, o Sardoal passasse
a ser totalmente
independente em relação a
Abrantes, passando a ter
jurisdição própria e
apartada em todas as áreas
do poder municipal. No
principio do século XVII
(1605), durante o domínio
Filipino, foram os Paços do Concelho transferidos do
local onde se encontravam,
quase seguramente o actual
edifício chamado “Cadeia
Velha” ,
para o edifício onde hoje se
encontram, registando-se a
curiosidade de nessa altura
a actual Praça da República
se chamar Praça Nova e de a
Rua Vasco Homem já ter essa
designação. Por aqui
passaram a 1º e a 3º
Invasões Francesas,
comandadas, respectivamente,
por Junot e
Massena,
em 1807 e 1811. As tropas de
Napoleão cometeram aqui
vários desmandos, roubando e
saqueando as Igrejas, cujas
pedras partidas, ainda hoje
evidenciam os actos de
vandalismo praticados pelos
franceses. O último rei de
Portugal a visitar o Sardoal
foi D. Carlos, em Junho de
1907, poucos meses antes da
sua morte, que ocorreu num
atentado, Regicídio,
ocorrido no dia 1 de
Fevereiro de 1908. Em
1970 ,
o Sardoal recebeu a visita
do então Presidente da
República, Almirante Américo
Tomás, sendo também
visitada, em 19 de Setembro
de 1981, pelo então
Presidente da República,
General Ramalho Eanes. A
expansão urbana da Vila de
Sardoal, de sul para norte,
deixa perceber a relação
desta terra com alguns
períodos importantes da
História de Portugal,
nomeadamente com o período
dos Descobrimentos. De
facto, o século XVI pode
considerar-se o “século de
ouro” da história do
Sardoal.
Alguém conhece o Sardoal?
Sardoal
http://www.ribatejo.com
Povoação portuguesa do
distrito de Santarém,
diocese de Portalegre e
Castelo Branco e comarca de
Abrantes, com 2.368
habitantes (dados de 1981).
Sede de concelho,
está situada a 11Km de
Abrantes, à altitude máxima
de 247m, na margem direita
da ribeira homónima. Terá
recebido foral em 1313 e é
vila desde 1532. Constituído
por 4 freguesias, o concelho
tem 4.759 habitantes (dados
de 1981). Possui indústrias
alimentares, de cerâmica e
fabrico de malas.
in
Lexicoteca - Moderna
Enciclopédia Universal.
Edição Círculo dos Leitores.
Lisboa:1987.
Outras Informações
Perdem-se, na bruma do
tempo, as origens da Vila de
Sardoal e não são conhecidas
memórias que, por escrito ou
tradição, possam informar
dos seus princípios.
O documento mais antigo
existente no Arquivo
Municipal é uma Carta da
Rainha Santa Isabel, de 1313
e é tradição que o Sardoal
teve o seu primeiro foral,
dado por esta Soberana, no
mesmo ano de 1313. Tal facto
não está confirmado. (certo
e seguro, é que em 22 de
Setembro de 1531, D. João
III, elevou a povoação de
Sardoal à categoria de Vila
e demarcou, por carta de 10
de Agosto de 1532, os seus
limites territoriais de
então.
Informação gentilmente
cedida pela Região de
Turismo dos Templários.
Tomar – (Concelho do
Distrito de Santarém)

Parece que o nome de Tomar,
se não é propriamente
árabe, foi, pelo menos
resultante de uma arabização
e por intermédio dos árabes
o recebemos. Também segundo
parece, foi a vegetação
local e nas águas do rio
Nabão, o motivo da escolha
do nome, que anteriormente
tinha sido
potamónio, o que não
prejudica o parecer, pois
bem aceitável é a hipótese
de os
,ouros terem dado ao
rio um nome provocado pela
abundância da tal planta -
o tomilho – que se encontra
em abundância neste rio.
O
tomilho, planta labiada, era
conhecida dos gregos;
mais tarde os romanos
trouxeram o nome para a
península (THYMUS), os
mouros nacionalizaram-na
segundo a sua índole da sua
língua e foi assim
nacionalizado, isto é,
arabizado, que deu a forma “thomar”
mais tarde
Tomar.
Esta cidade, sede de um
concelho cujos limites se
aproximam daqueles que
constam da doação do Castelo
de Cera aos Templários, em
1159, conserva ainda
inviolados os mistérios da
sua origem e simbolismo
arquitectónico.
Situada numa rota
tradicional de
transumância, a sua
implantação no
ubérrimo vale do rio
Nabão, praticamente
desconhecido e filão
arqueológico riquíssimo
particularmente para os
especialistas do
Paleolítico - embora
infelizmente afectado pela
industrialização, mais ou
menos selvagem a que tem
sido sujeito - obedece,
pelo menos desde os tempos
da ocupação romana, às
regras seguidas para a
eleição, sacralização e
instalação territorial,
quando o homem sabia
organizar o seu espaço vital
à medida e semelhança das
configurações celestes que
lhe presidiam.
As fontes dessa cosmografia
sagrada encontram-se hoje
diluídas em lendas e
tradições sucessivamente
revitalizadas até, pelo
menos, ao século
XVl.
Uma das mais marcantes é a
lenda de Santa Iria, virgem
mártir do século
Vll,
religiosa de um convento
beneditino fundado por S.
Frutuoso, que teria existido
no local onde hoje vemos a
igreja de Santa Maria do
Olival: a
Nabância. Este
topónimo é desconhecido dos
geógrafos antigos, o que
aliás, não invalida a
existência de um importante
núcleo populacional que a
moderna historiografia
prefere designar por “Sellium”
e que os frequentes achados
arqueológicos confirmam.
E que dizer da mata dos Sete
Montes, protótipo do recinto
sagrado por excelência,
habitualmente relacionada
com as proezas iniciáticas
templárias e o seu fabuloso
tesouro -
encantado? ...
Sigamos, porém, o modelo
urbanístico concretizado no
século XV, ou seja já
durante a vigência da
administração da Ordem de
Cristo, sucessora e herdeira
dos bens e conhecimentos da
Ordem do Templo
(Templários), pelo infante
D. Henrique, grande
impulsionador dos
Descobrimentos e iniciado
nesta Ordem. A ordenação de
Tomar,
processa-se segundo uma cruz
axial cujos braços são
dirigidos aos quatro
principais pontos cardeais.
Mas vamos situarmos no local
onde se situa o Castelo e o
Convento de
Cristo
...
Entramos no recinto ameado
do Castelo pela Porta de
San’Iago,
que conduz à outra,
designada por Porta do Sol,
por onde se concretiza a
entrada no terreiro de armas
da fortaleza. Daí,
imediatamente se torna
patente a fachada dos Paços
do Infante e a Charola dos
Templários, dedicada a S.
Tomás da Cantuária e limite
primordial da muralha poente
da cerca
casteleja que
Gualdim
Pais terá restaurado, a
partir de 1 de Março de
1160, com base no
remanescente de uma anterior
fortaleza, talvez da época
romana e sucessivamente
renovada e adaptada de
acordo com os conhecimentos
de geomancia, a que,
aliás, a lenda da refundação
se refere. O que, não
obstante a brevidade
requerida pela
circunstância, será
impossível escamotear é o
rigoroso traçado a que
obedece o plano de
construção, tanto do Castelo
como do Convento de Cristo.
O singular simbolismo
arquitectónico e
iconográfico compendiado na
fachada em que se rasga a
conhecidíssima janela da
Sala do Capítulo, (janela
manuelina) se for decifrado,
poderá permitir o
entendimento do projecto e
objectivos dos Cavaleiros de
Cristo, esclarecidos guias
do povo português com vista
à instauração de uma
fraternidade humana
inspirada pelo Espírito
Santo e coreograficamente
preludiada pelo culto ao
Paracleto, cujo auge
coincidiu com o apogeu da
expansão marítima liderada
pela Ordem de Cristo e
assumiu em Tomar uma forma
próxima daquela que a Festa
dos Tabuleiros hoje
reveste.
Tomar foi conquistada aos
mouros em 1147, por D.
Afonso Henriques, e, mais
tarde, em 1159, doada aos
Templários . D.
Gualdim
Pais ,
mestre da Ordem, em 1162
concedeu-lhe foral.
Com a extinção da Ordem do
Templo em 1312, foi por D.
Dinis, com o consentimento
do papa João
XXll,
fundada a Ordem de Nosso
Senhor Jesus Cristo, com
sede em Tomar. Em 1510, D.
Manuel l concedeu-lhe foral
novo e visitou-a durante
muitos anos. Foi elevada à
categoria de cidade em 1844
e no ano seguinte recebeu a
visita de D. Maria
ll.
CONVENTO DE CRISTO
O recinto conventual, que
foi pertença, inicialmente,
da Ordem do Templo e passou,
no reinado de D. Dinis, para
a égide da Ordem de Cristo,
é um dos principais
monumentos da arquitectura
nacional, ode todas as
etapas estéticas, desde o
século Xll ao
XVlll,
se encontram ampla e
profundamente documentada.
Penetrando no reduto do
arruinado castelo templário,
edificado por
Galdim
Pais em 1160, pelo portal
nascente, e seguindo uma
longa escadaria onde a cada
passo se vislumbram
vestígios seculares, entre
os quais as ruínas da velha
alcáçova templária e dos
Paços Henriquinos, atinge-se
a igreja e demais
dependências do convento.
O primitivo oratório, que
remonta ao final do século
Xll,
é um exemplar românico que
se inspira no modelo
oriental das igrejas
italo-sírias em
rotunda, cerrado e murado
como uma fortaleza. Era
inicialmente uma construção
formada por um prisma
octogonal centrado numa
rotunda de dezasseis faces,
consolidada por singelos
contrafortes gigantes nos
vértices. No prisma
central abrem-se arcos
levemente apontados que
pousam sobre colunas
capitelizadas
romano-bizantinas.
A charola de Tomar, cuja
traça se baseou no tipo de
mesquitas sírias, gosto
adquirido pelos cavaleiros
da Ordem do Templo durante
as lides orientais, e por
eles aplicada no Ocidente, é
um raríssimo santuário da
Alta Idade Média que segue o
protótipo da Ermida de
Omar,
em Jerusalém, modelo
igualmente aplicado nas
Capelas de
Eunate
em Navarra e Vera Cruz em
Segóvia (terras espanholas).
No princípio do século
XVl,
a charola, oratório dos
Templários, foi adaptada a
capela-mor do novo templo
que então se erigiu, tendo
duas das faces do polígono
da rotunda sido sacrificadas
em favor da magnífica nave
manuelina. Suprimido então
também o elmo ameado de
pedraria que a coroava,
permaneceu a cerrada
cabeceira românica, que,
abstraindo da abundante
decoração quinhentista,
transmite ainda uma ideia do
que foi o primitivo
oratório. Uma
iluminatura da
“Leitura Nova” de 1508
representa o convento com a
charola, antes das
modificações de Diogo de
Arruda, provida de
coruchéu exterior
assente num tambor
octogonal.
Segundo o cronista Pedro
Álvares Seco, foi o rei D.
Manuel l, após 1510, que
ordenou a decoração da
capela-mor do novo templo
com esculturas, pinturas e
outros elementos. Nas
paredes da charola subsiste
ainda grande série de
pinturas sobre madeira,
encomenda régia anterior a
1510, constituída por vários
painéis. Trata-se de
opulentos primitivos com
vincada influência nórdica,
talvez da escola do pintor
Jorge Afonso. Várias capelas
do deambulatório foram
ordenadas também durante
campanhas de obras joaninas,
com pinturas
retabulares que, pela
colocação, se assemelhariam
a predelas das grandes
tábuas manuelinas citadas.
Desta série apenas estão nos
lugares de origem os quadros
Santo António Pregando aos
Peixes e São
Bernando.
Muita coisa ficou por dizer
deste maravilhoso Convento
de Cristo e da sua famosa
janela manuelina.
CASTELO DE TOMAR
Constituído primitivamente
pela torre de menagem, pela
alcáçova e por uma curta
cintura de muralhas, foi
posteriormente ampliado com
u largo cordão reforçado por
cubelos.
Balizava o velho burgo, que
no século XV alastrou para a
planície. Do antigo castelo,
fundado por
Gualdim
Pais, subsistem vários panos
de muralha e a torre grande,
que apresenta, embebidas nos
parietais, lápides romanas e
legendas medievais. O velho
Paço Henriquino, que foi
alcáçova inicial do reduto
templário, reduz-se a alguns
trechos muito incompletos,
um dos quais ostenta uma
janela de verga recortada e
um portal em ogiva. Os
trechos merlados, em que se
rasgam cubelos
etorrelas, envolvem o
recinto do Convento de
Cristo, integrando-o numa
unidade arquitectónica que,
no seu conjunto, domina a
cidade. Uma das lápides que
se vislumbram, sumida, na
torre templária, sobre a
fresta do segundo pavimento,
alude a Gualdim Pais e é
contemporânea da
fundação.
RUÍNAS ROMANAS
A cidade actual provém de um
agrupamento populacional
romano denominado
Sellium,
algures existente na margem
esquerda do Nabão. Na zona
têm sido encontrados
inúmeros vestígios da
ocupação romana. Assim, em
1952, foram postas a
descoberto, no cerrado de
João do Couto, algumas
sepulturas de uma necrópole,
cujo espólio era constituído
por resíduos de tijolos, um
peso de um tear de barro com
marca de oleiro, uma lâmina
de faca, argolas de vidro e
diversas moedas dos séculos
lll
e lV.
A 2
Km
de Tomar, pela estrada
fronteira a Santa Maria do
Olival, no sítio da
Marmelais, existiu a
antiga Nabância, onde
numeroso espólio romano tem
sido encontrado (estátuas,
moedas, mosaicos, ruínas de
casario) e onde ainda estão
patentes alguns arruamentos
da secular
urbanização.
OS TEMPLÁRIOS
Tal como as estrelas da Via
Láctea, os Visigodos
dividiram-se em dois grupos
e os que tomaram a direcção
de Espanha, dirigiram-se a
Toledo. Os mais usados
continuaram a avançar em
direcção a oeste, até Tomar,
e a partir daqui
espalharam-se em direcção ao
norte. Depois de terem
conquistado a capital dos
Alanos, Bracara,
instalaram-se lá e deram-lhe
o nome de Braga.
De acordo com as tradições
visigóticas, Tomar era um
ponto telúrico extremamente
propício e esta terra
privilegiada foi,
posteriormente confirmada
várias vezes através da
história.
Nesta região, São Bernardo
mandou edificar um dos mais
belos florões da Ordem
Cistercience, ou seja
o Mosteiro de Alcobaça que,
ainda hoje continua a ser
uma das obras-primas mais
puras da arquitectura gótica
no seu início. Alcobaça fica
a cerca de sessenta
quilómetros para poente de
Tomar e a meio caminho fica
Fátima.
Templários ou Cavaleiros do
Templo, era uma Ordem
militar religiosa, fundada
em 1118, distinguindo-se
particularmente na
Palestina. Em Portugal
prestaram relevantes
serviços na luta contra os
mouros.
No início do século
XVl,
a Ordem dos Templários era
poderosa, rica e corrompida.
Diferente dos
Hospitalários e dos
Cavaleiros Teutónicos, os
Templários não se podiam
vangloriar de terem feito
qualquer cruzada desde o
abandono da Terra Santa aos
muçulmanos. Recusando
encarar uma aliança com os
Hospitalários,
acabaram por adquirir uma
reputação de aristocratas
amantes do luxo. Por isso,
Filipe “o Belo” de França
decidiu que era tempo de
reformar a Ordem. Além
disso, pensava que,
apropriando-se das riquezas
dos Templários, podia encher
os cofres reais. Tal razão
levou este rei francês,
bruscamente, a ordenar que
se levantasse um processo
aos Templários, acusando-os
de heresia e de imoralidade.
Em 1307, todos os Templários
de França, que eram cerca de
dois mil, foram presos e
sujeitos sem contemplação ao
suplício de um
interrogatório.
Tendo recebido ordem de
obter confissões, até pela
tortura se fosse necessário,
os inquiridores
obrigaram-nos a confessar
diversos crimes, actos de
imoralidade, ritos de
iniciação herética e outros
delitos secretos.
Entretanto, os novos
inquéritos, ordenados pelo
Papa Clemente, revelaram que
grande número de confissões
tinham sido arrancadas pela
tortura ou, até
mesmo ,
apenas pela crença da
tortura. Uma das vítimas,
por exemplo, depois de ter
visto algumas carroças
cheias de Companheiros do
Templo, que eram conduzidos
ao carrasco, acabou por
confessar ter morto
Cristo !
Por isso, mais tarde,
numerosos prisioneiros
negaram as confissões que
lhes tinham sido arrancadas
pela força. Tais afirmações
levaram o rei francês Filipe
e seus comparsas a
sentirem-se na obrigação de
defenderem o seu
procedimento. Resolveram por
isso excitar o espírito do
povo, o que provocou, por
parte deste, a exigência de
uma severa punição dos
Templários, considerados
como destruidores da
religião e da moral. Algum
tempo depois, o Papa
Clemente V cedeu e aboliu a
Ordem, declarando contudo,
que a culpabilidade não
estava provada.
Os Templários tinham entrado
em Portugal em 1125 e uma
das figuras mais
carismática, foi sem
qualquer dúvida o Mestre
Gualdim
Pais, nascido em Braga e
Cavaleiro de
D.Afonso Henriques, o
primeiro rei de Portugal.
Depois da extinção dos
Templários, o rei D. Dinis
“o Lavrador” e um dos mais
queridos dos portugueses,
transformou os Templários na
Ordem de Cristo, cujo
símbolo, as naus portuguesas
levaram a todos os cantos do
mundo.
Noutros trabalhos já foi
falado o rei D. Dinis, sexto
de Portugal que além do
cognome histórico de o
“Lavrador” também era
conhecido por “Rei
Trovador”.
Um dos Mestres mais famosos
da Ordem de Cristo, foi o
Infante D. Henrique “o
Navegador”, filho de D. João
l e de D. Filipa de
Lencastre, nascido em 1394
na cidade do Porto. Fundo em
Sagres (Algarve) uma escola
nautica,
um observatório astronómico
e estaleiros para construção
de navios.
Chamou do estrangeiro
cosmógrafos e matemáticos
ilustres que, com alguns
Cavaleiros da sua Casa se
entregou ao estudo das
cartas marítimas. Todos os
anos, uma caravela, armada à
sua custa e capitaneada por
um seu Cavaleiro ou
Escudeiro, partia mar fora à
descoberta de novas terras.
Quando o Infante D. Henrique
morreu, em 1460, deixava
reconhecida a costa africana
até à Serra Leoa, preparação
para o grande feito de Vasco
da Gama, a Descoberta do
Caminho Marítimo para a
Índia, trinta e oito anos
depois. D. Henrique, assim
como seus pais e seus
irmãos, repousam no Mosteiro
da Batalha na sala “Ínclita
Geração”.
D. MANUEL l “o
VENTUROSO” e o CONVENTO
DE CRISTO
O sucesso dos Descobrimentos
e a riqueza súbita e
colossal que deles adveio,
fizeram de Portugal e dos
seus soberanos os felizes
beneficiários da “charola”
da fortuna.
O gosto requintado de D.
Manuel 1 levou este soberano
a edificar numerosos
monumentos que marcaram um
novo estilo - o Manuelino.
Este renascimento artístico
espalhou-se por Portugal
inteiro, de tal modo que
todos os santuários, todos
os edifícios pretenderam
ordenar-se com decorações
manuelinas.
Tomar não foi excepção a
esta regra. As igrejas de
São João Baptista e de Santa
Iria, primeiro, e mais tarde
o castelo medieval, que foi
enriquecido com o Convento
de Cristo.
Detentores de uma verdade
arquitectural, os seus
construtores souberam
respeitá-la e a construção
do convento foi adaptada à
do castelo tendo em
consideração a disposição
“cósmica” precedente.
O desvio existente - cerca
de cinco graus - prova que
a data, no máximo, de 1510
(de acordo com a
precessão dos
equinócios, e considerando
setenta e dois anos por cada
grau, cinco graus
correspondem a trezentos e
sessenta anos).
Os conhecimentos secretos
que tinham feito nascer o
estilo “francês” aplicados
pelo monges de
Clairvaux na
construção do Mosteiro de
Alcobaça e, por outros
mestres-de-obras na
edificação da Catedral de
Évora e nas magníficas
realizações góticas da Ilha
de França, não se perderam.
Fazem parte da herança
concedida a D. Manuel.
Na mensagem secular subsiste
um princípio essencial do
conhecimento chamado
“gótico”, que resulta da
igualdade entre um círculo,
um quadrado e u triângulo.
Geométricamente, este
princípio corresponde a uma
determinada quadratura
impossível de realizar de
acordo com os dados
pitagóticos. Estes
dados estão inclusos na
referida quadratura, mas não
podem fornecer a chave,
visto que o “Pi”
clássico (3,1416) deixou de
ser um jogo. A quadratura
aplicada a todas as obras de
estilo gótico permite a sua
análise imediata. E permite
igualmente recolhê-las sem
possibilidade de erro. Os
números nasceram do
Apocalipse de São João, e
correspondem aliás aos da
estrutura nuclear. Trata-se
portanto de relações
universais. Um círculo de
diâmetro invariável e dois
quadrados, com o mesmo
perímetro e com a mesma
superfície que o círculo,
constituem a base deste
princípio, que alia
simbolicamente o Cosmo - o
círculo; a Criação - o
quadrado; e o Ternário
espititual - o
triângulo.
Sobrepondo-os sobre a planta
do castelo de Tomar,
verificamos que todos os
elementos, incluindo as
torres, correspondem às
diferentes coordenadas.
O mesmo princípio aplica-se
igualmente à parte do estilo
“manuelino” com um desvio de
cinco graus. A concordância
permanece, fazendo notar a
evolução do saber. A cúpula
dos Templários é o ponto
principal a partir do qual
foram feitas as construções
posteriores e a célebre
“janela manuelina”, que é a
síntese arquitectural do
estilo manuelino, é
justamente considerada como
a obra-prima da época. Esta
evocação sumptuosa (estamos
a falar da janela manuelina
do Convento de Tomar),
está cheia de uma fantasia
genial onde uma mesma
alegoria reúne símbolos e
personagens. Um navegador,
de que vemos somente o
busto, sustenta com ambas as
mãos o tronco de um sobreiro
com imensas raízes e a
cortiça constitui um
elemento decorativo dos dois
lados da parte superior da
janela. Cordas e algas
completam os símbolos
terrestres e náuticos. As
armas do rei D. Manuel e a
cruz dos Cavaleiros de
Cristo encimam o conjunto.
A sua construção não se
afasta das regras
geométricas, cuja tradição
respeita escrupulosamente,
sobrepondo-lhe toda a
alegria dos feitos
magníficos que transcreve na
pedra numa evocação jovial.
Um quadrado com a mesma
superfície que um círculo
- cujos lados são
prolongados - determina,
sobre o círculo resultante
do quadrado que circunscreve
o círculo inicial, os pontos
de um novo quadrado. E assim
por diante. É muito simples,
e podíamos até dizer que
parece ser um princípio
elementar, visto que a
largura da janela é indicada
pelas duas linhas que ligam
as intercepções do círculo
com o quadrado. Mas há que
aceitar a quadratura e
conhecê-la ! Tudo
isto parece tão elementar
que actualmente este
princípio parece ser o
resultado de pura utopia,
uma vez que o nosso século
se debruça sobre o estudo de
verdades secundárias que não
conduzem ao caminho da
Verdade primordial.
Conhecemos o sucesso
alcançado por aqueles que
procuraram a verdade
primeira e estamos assaz
inquietos relativamente ao
sucesso dos que desprezam a
tradição.
E esta janela conduz-nos até
às riquezas escondidas,
visto que são sempre ângulos
de treze graus que nos são
mostrados pela corrente e
pela fita que envolvem o
tronco nas partes laterais.
São os símbolos da Ordem da
Jarreteira e do
Tosão
de Oiro.
Os portugueses souberam
ilustrar a lenda dos
Argonatas e, mais
felizes do que os seus
predecedores míticos,
descobriram uma
Cólquida (antigo país
da Ásia aonde os Argonautas,
segundo a tradição, foram
conquistar o
Tosão
de Oiro),
mirífica que lhes dá
nomeada e riqueza.
O conhecimento perdido, a
charola, voltou e o Ouro dos
Templários ficou novamente
em segredo. E Mestre
Gualdim
Pais já não está no
sarcófago. A placa que cobre
as suas cinzas tem no
entanto algumas marcas
iniciáticas.
Qual o papel neste “In
Memoriam” do pequeno círculo
com oito raios por cima de
três traços verticais,
símbolos das três posições
solares fundamentais e base
da cosmogonia dos
Templários ?
Este
lll corresponde a
trinta e sete, de onde
extraímos o ternário nele
contido. E mais uma vez
temos o número trinta e
quatro. E o número trinta e
quatro compreende treze e o
seu oriente, assim como
vinte e um o número das
catedrais góticas dedicadas
a Nossa Senhora Virgem
Maria, rainha universal e
medianeira entre o Céu e a
Terra que o homem idealista
e inquieto procurará
indefinidamente no mito do
eterno feminino.
O CONVENTO DE CRISTO E
SEUS MISTÉRIOS
Os conhecimentos geométricos
dos Templários, baseados nas
progressões aritméticas e
nas relações entre os
números com correspondência
universais, tinham
necessariamente de conduzir
os investigadores da Ordem a
transpor as portas
alquímicas da transmutação.
Os Cavaleiros de Cristo
acenderam novamente o facho
e a disposição das
construções manuelinas devia
corresponder a esta
necessidade.
No Convento de Cristo, não
faltam indicações alquímicas
e a construção
constituí um caminho
iniciático que nos é
oferecido neste lugar. Para
encontrarmos a porta,
teremos evidentemente de
partir do antigo castelo
templário. Na sua linguagem
secreta, o princípio
alquímico utiliza o ovo como
ponto de partida. O ovo
alquímico encerra ao mesmo
tempo o princípio, o germe e
o todo, capaz de desencadear
o processo de transmutação
por meio da repartição dos
electrões; de acordo com o
princípio elíptico do
movimento giratório dos
átomos. O que é verdade no
mundo intersideral para os
planetas também se aplica à
estrutura da matéria. O ovo
será portanto o símbolo
exotérico deste princípio
esotérico. Mas o processo
alquímico da transmutação só
pode ser desencadeado de
acordo com as
correspondências terrestres
e celestes. Não se pode ser
iniciado em qualquer altura
nem em qualquer lugar.
Somente em determinados
lugares privilegiados lhe
convém, situados sobre
filões telúricos
excepcionais. O mesmo
acontece com todos os
fenómenos de uma determinada
alquímica “cósmica”.
Foi assim que os maiores
“milagres” da Idade Média só
se deram em santuários
situados sobre filões
benéficos e, sempre, a
Virgem Maria se manteve
associada a estes favores
celestes sobrenaturais. Em
Portugal, é sobre o filão
telúrico de Fátima, que as
aparições foram acompanhadas
em 1917 de fenómenos
solares. A Virgem Maria,
continua a ser uma imagem
sagrada da ligação
fluídica que liga o
Céu com a
Terra.
Foi em 1917 - o dezassete
que já conhecemos tão bem
- que a Virgem se associou
ao Sol, neste lugar modesto
e tão mal conhecido como era
na época.
Se examinarmos o aspecto
geral da fachada do castelo
de Tomar, podemos ver não
somente que as torres estão
regularmente dispostas -
de acordo com uma divisão
por seis do quadrado do
mesmo perímetro que o
círculo - mas ainda que
todo se inscreve no quadrado
com a mesma superfície.
Voltamos a encontrar os
ângulos habituais e a altura
da torre corresponde à
posição do Sol ao meio-dia
dos equinócios na latitude
de Tomar. O caminho em
direcção ao pátio interior,
que separa o antigo castelo
do Convento de Cristo,
termina na torre
quadrangular.
É muito provável que debaixo
do solo deste pátio existam
uma ou várias salas
subterrâneas a que seria
possível chegar passando
pelo poço. É deste ponto,
com efeito, que podemos ver,
em direcção a oeste, o
primeiro sinal do ovo. Os
Templários juntaram muitas
vezes ao ovo outro elemento
arquitectónico que era
utilizado na observação das
estrelas em determinadas
datas. É o chamado
“olho-de-boi”, pequena
janela circular, cujo
contorno permitia obter
indicações graduadas. A
tradição conservou-o, ou
seja, a correspondência
entre o Boi e o
Boeiro.
Graças ao olho-de-boi,
podemos estabelecer vários
princípios arquitectónicos
relativos ao convento
propriamente dito, antes de
encontrarmos a cabeça de
três faces, o Hermes
Trimegisto, que
domina o centro da abóbada
de uma pequena sala situada
perto do refeitório. A
cabeça aponta numa direcção
segundo a qual, e através de
uma janela, podemos
efectivamente ver outro ovo.
Este conduz-nos, para além
da janela manuelina, até ao
claustro da
Micha
e de seguida até ao claustro
dos Corvos. A palavra
“corvo” sempre foi querida
dos alquimistas por encerrar
em si duas interpretações
secretas da preparação da
Grande Obra. A sua
realização só pode ocorrer
num local escolhido e
eleito. Este local fica
debaixo do claustro da
Micha,
que se situa - segundo o
eixo manuelino deslocado -
num ângulo de treze graus em
direcção a oeste.
O claustro dos Corvos faz o
mesmo ângulo, perfazendo
assim um total de vinte e
seis graus, enquanto em
onomancia, a análise
da palavra “corvo” confirma
o número vinte e seis.
No centro do claustro da
Micha
encontra-se um poço e deste
poço partem duas escadas que
se enterram no solo. Aqui
existiriam as salas de
investigação orgânica e de
transmutação.
A transmutação só é possível
com a intervenção do cloro,
cujo número atómico é
dezassete (em simbolismo, o
17 é o Número da Estrela.
Não nos surpreenderemos
portanto, ao verificar que o
poço da Micha forma com a
janela manuelina um ângulo
de dezassete graus. Aliás é
esta a direcção seguida pelo
olhar do velho capitão que
herculamente sustém o
conjunto decorativo da
janela.
Veio depois o tempo em que
os corvos se calaram e em
que os sarcófagos do
claustro dos Sepulcros
guardaram e seu enigma. Os
corvos mantém relações com
os mortos e os sarcófagos
ficam expostos ao sol da
vida que continua a iluminar
durante a Primavera o
horizonte de
Tomar
...
Tomar
http://tomar.com.sapo.pt
Cidade localizada nas
margens do rio Nabão,
pertencente ao distrito de
Santarém na província do
Ribatejo, com uma área de
351 km2 e 43.000 habitantes,
foi conquistada ao Mouros
por D. Afonso Henriques em
1147 sendo depois doada por
este monarca aos Templários
em 1159. D
Gualdim
Pais concedeu-lhe foral em
1162.
Com a extinção da Ordem do
Templo em 1312 por decisão
do Papa João XXII, que
queria ver os templários
banidos da Europa, foi
fundada a Ordem de Militar
de Cristo. Devido à
necessidade de defender a
fronteira algarvia, a sede
desta Ordem transferiu-se
para Castro Marim; 37 anos
depois, voltou a fixar-se em
Tomar mais concretamente no
seu castelo.
Assim Tomar viria a ser o
centro originador e
principal sustentador da
epopeia dos Descobrimentos.
O Infante D. Henrique,
nomeado pelo Papa como
Regedor da Ordem de Cristo,
viria a instalar-se no
castelo de Tomar.
Foi elevada à categoria de
cidade em 1844, tendo sido
visitada pela Rainha D.
Maria II no ano seguinte.
Tomar é hoje conhecida não
só pelos seus monumentos
fabulosos, dos quais se
destaca o Convento de
Cristo, mas também pelas
suas potencialidades
turísticas que proporciona a
visita de inúmeras
edificações históricas,
relíquias arqueológicas,
passeios pelos seus
frondosos e frescos jardins
e também ao longo do rio
Nabão. Veja primeiro aqui,
visite Tomar depois...
Convento de Cristo
Recinto conventual, que foi
pertença, inicialmente da
Ordem do Templo e passou, no
reinado de D. Dinis, para a
égide da Ordem de Cristo, é
um dos principais monumentos
da arquitectura nacional,
onde todas as etapas
estéticas, desde o século
XII ao XVIII, se encontram
ampla e profundamente
documentadas.
Em 1984 foi considerado
património mundial pela
UNESCO. Constituído por sete
claustros e outros
edifícios, contém no seu
interior notáveis obras de
arquitectura. Provavelmente
o Claustro de D João III, o
Claustro principal do
Convento de Cristo, é a mais
monumental e bela obra do
Renascimento, levada a cabo
pelo arquitecto Diogo de
Torralva, a quem se
deve também a construção de
um outro monumento em Tomar,
a Igreja de N. Senhora da
Conceição.
Os restantes são o Claustro
das Lavagens e o Claustro de
D. Henrique, que remontam à
primeira metade do século XV.
O Claustro de
St.ª
Bárbara é quase esmagado
pela monumentalidade da
Janela do Capítulo que se
debruça sobre o mesmo.
Restam os Claustros da
Micha
(1528), o Claustro das
Hospedarias constituído por
dois pisos (1541) e
finalmente o Claustro dos
Corvos.
Não se podia deixar de
destacar dois símbolos
indissociáveis deste
convento esplendoroso: a
Janela do Capítulo e a
Charola.
Por todos estes motivos e
pelo fabuloso passeio que
proporciona uma visita a
este enorme Convento,
desfrutando de maravilhosas
vistas sobre a cidade, é
imprescindível passar
demoradamente por este
monumento e conhecer a sua
história e os seus
mistérios.
Locais de maior
interesse: Convento de
Cristo | Charola do
Convento | Janela do
Capítulo | Castelo dos
Templários
Convento de Cristo
http://tomar.com.sapo.pt/convento.html
Recinto conventual, que foi
pertença, inicialmente da
Ordem do Templo e passou, no
reinado de D. Dinis, para a
égide da Ordem de Cristo, é
um dos principais monumentos
da arquitectura nacional,
onde todas as etapas
estéticas, desde o século
XII ao XVIII, se encontram
ampla e profundamente
documentadas.
Em 1984 foi considerado
património mundial pela
UNESCO. Constituído por sete
claustros e outros
edifícios, contém no seu
interior notáveis obras de
arquitectura. Provavelmente
o Claustro de D João III, o
Claustro principal do
Convento de Cristo, é a mais
monumental e bela obra do
Renascimento, levada a cabo
pelo arquitecto Diogo de
Torralva, a quem se
deve também a construção de
um outro monumento em Tomar,
a Igreja de N. Senhora da
Conceição.
Os restantes são o Claustro
das Lavagens e o Claustro de
D. Henrique, que remontam à
primeira metade do século XV.
O Claustro de
St.ª
Bárbara é quase esmagado
pela monumentalidade da
Janela do Capítulo que se
debruça sobre o mesmo.
Restam os Claustros da
Micha
(1528), o Claustro das
Hospedarias constituído por
dois pisos (1541) e
finalmente o Claustro dos
Corvos.
Não se podia deixar de
destacar dois símbolos
indissociáveis deste
convento esplendoroso: a
Janela do Capítulo e a
Charola.
Por todos estes motivos e
pelo fabuloso passeio que
proporciona uma visita a
este enorme Convento,
desfrutando de maravilhosas
vistas sobre a cidade, é
imprescindível passar
demoradamente por este
monumento e conhecer a sua
história e os seus
mistérios.
Torres Novas – (Concelho do
Distrito de Santarém)

Tomada aos Mouros por
D. Afonso Henriques em
1148, foi por estes
recuperada e novamente
conquistada no reinado
de D. Sancho l, monarca
que concedeu ao burgo a
primeira carta de foral
em 1190.
Origem do nome:
«António Montês em
Terras de Portugal –
1938»: “Diz a lenda que
Ulisses depois do cerco
de Tróia, foi acossado
por uma violenta
tempestade que o fez
aportar ao Tejo,
fundando então a cidade
de “Ulissipo”.
Em busca de novas
aventuras, subiu aquele
rio com os seus
companheiros. Ao chegar
ao rio Almonda, deu-lhe
a curiosidade para meter
por este rio, e
encontrando uma pequena
colina a dominar uma
planície fertilíssima,
logo pensou em edificar
ali uma torre, cercada
de muralhas, à qual
chamaram “Neupergama”, o
mesmo que “Nova Torre”.
Durante cinco séculos,
esteve a fortaleza em
poder de vários povos,
que habitaram a
Lusitânia, e como a
“Nova Torre” oferecesse
aos romanos grande
resistência,
incendiaram-na !
Reedificada pelos
cartagineses, deram-lhe
este nome de
“Kaispergama” ou “Torre
Queimada” e assim passou
a ser conhecida, até que
os romanos, senhores de
toda a Lusitânia, a
ampliaram, e
guarnecendo-a com novas
torres, deram-lhe o nome
de “Nova Augusta”.
Expulsos os romanos
pelos bárbaros do norte,
voltou a ter o primitivo
nome, mas como a
fortaleza já possuísse
então onze torres,
passaram a chamar-lhe
“Torres Novas”.
Torres Novas
http://www.cm-torresnovas.pt
No contexto do Médio Tejo, o
concelho de Torres Novas é
particularmente privilegiado
em termos de património
natural, do qual se destacam
o rio Almonda e a Serra
d’Aire. Motivos de interesse
paisagístico,
espeleológico e
arqueológico.
Com cerca de 36.000
habitantes, distribuídos por
280 Km2 de área, é um dos
mais importantes concelhos
do distrito de Santarém,
fazendo fronteira com Tomar,
Ourém, Santarém, Golegã,
Alcanena e Entroncamento. A
A1 e o A23 são as principais
vias que o atravessam,
facilitando um rápido acesso
a qualquer zona do país e à
vizinha Espanha.
A criação do município
remonta a 1190, data em que
D. Sancho I atribuiu o foral
à vila já então existente. O
concelho é, hoje,
constituído por 17
freguesias:
Alcorochel, Assentis,
Brogueira, Chancelaria,
Lapas, Meia Via, Olaia,
Paço, Parceiros da Igreja,
Pedrógão, Riachos, Ribeira
Branca, Salvador, Santiago,
Santa Maria, S. Pedro e
Zibreira.
Na sede do concelho abundam
antigas igrejas e capelas,
com destaque para a Igreja
de Sant’iago,
construída por promessa de
D. Afonso Henriques, em
1148, e para a Ermida de
Nossa Senhora do Vale, o
mais antigo templo da
região.
À entrada da cidade, a
atenção dos forasteiros
volta-se para o monumento de
maior prestígio: o imponente
castelo medieval. A
circundá-lo está o rio, em
cujas margens se arquitectou
um belo jardim, que se
estende pela avenida
principal.
Nos arredores, destaque para
as ancestrais ruínas romanas
de Cardillium, com os
seus preciosos mosaicos
polícromos e para as
enigmáticas grutas de Lapas,
envoltas no mistério da sua
escavação. No coração da
cidade fica a Praça 5 de
Outubro, rodeada de
elegantes edifícios e, bem
perto, situa-se o Museu
Municipal, contendo um
inestimável núcleo
arqueológico, telas
contemporâneas de Malhoa e
Carlos Reis e uma importante
colecção de pintura
quinhentista.
A Reserva Natural do
Paúl
de Boquilobo, as Pegadas
de Dinossaúrios da
Jazida da Pedreira do
Galinha (classificada como
monumento natural) e a
Quinta do Marquês, completam
o magnífico cenário do
concelho.
No campo da gastronomia, os
pratos tradicionais são o
bacalhau com migas e o
cabrito assado e as
sobremesas têm como
ingrediente principal a
amêndoa. Já no capítulo das
bebidas, a especialidade é a
aguardente de figo.
Quem visitou Torres Novas
num passado recente, por
certo se apercebeu de que
pouco se acautelou para
torná-la mais acolhedora. O
investimento municipal foi
remetido na sua maioria para
as freguesias rurais, que
viram reduzidas as suas
principais carências. Agora
é chegado o momento de
intervir na cidade!
Actualmente, Torres Novas
beneficia de obras de
reabilitação no seu núcleo
urbano. São várias as
vertentes pensadas, em
termos paisagísticos e de
ordenamento do território,
para apetrechá-la com
equipamentos que contribuam
para que se assuma como
âncora de desenvolvimento do
concelho e como pólo de
atracção para os habitantes
vizinhos. Num futuro
próximo, uma nova cidade irá
nascer...
Torres Novas
http://www.cm-torresnovas.pt
A data da fundação de Torres
Novas mantém-se incerta até
aos nossos dias.
Segundo a História lendária,
diversos terão sido os povos
que ocuparam Torres Novas ao
longo dos tempos: gregos,
romanos, celtas, árabes.
No entanto, certa é a
presença romana na região,
comprovada pelas ruínas
romanas de vila
Cardílio.
Em 1148, D. Afonso Henriques
conquista definitivamente
Torres Novas aos árabes e, a
1 de
Outubro de 1190, D.
Sancho I atribui-lhe o
primeiro foral e manda
reconstruir o seu castelo,
que havia ficado
extremamente devastado. Mais
tarde, em 1376, D. Fernando
ordena a sua reconstrução,
após as guerras com Castela.
Foi exactamente em redor do
castelo que se constituiu o
primeiro aglomerado
populacional de Torres
Novas. Ao longo da cerca,
conjunto de muralhas que
cercava a fortaleza e a
defendia dos ataques
inimigos, existiam quatro
arcos ou postigos, que
funcionavam como as
principais artérias de
entrada e saída da vila.
Esta primitiva estrutura
urbana manteve-se em boa
parte constante até ao séc.
XVI, porque embora se
tivesse registado um aumento
demográfico, a população
ocupava os espaços ainda
disponíveis dentro da
muralha, essencialmente
junto à igreja do Salvador.
As áreas que, nos séculos
XVI e XVII, constituíam
potenciais pólos de atracção
populacional e consequente
implantação urbana eram
essencialmente a judiaria e
os locais onde se haviam
erigido edifícios
religiosos. Assim, a vila
tende a expandir-se para
a zonas
da antiga rua Direita, pela
existência do convento do
Espírito Santo; Rossio do
Carrascal, onde se havia
implantado o convento de S.
Gregório Magno e para a
Berlé,
onde se instituiu o Convento
dos frades
Arrábidos e onde mais
tarde se passou a fixar o
Bairro de Santo António.
Seriam estas as áreas que,
durante a Idade Moderna,
compunham as principais
artérias de ligação entre a
vila e o arrabalde, a partir
das quais cresceram os
bairros que ainda hoje
compõem o tecido urbano da
cidade: Valverde, Santiago,
Anjos, São Pedro, Santo
António, S. Domingos,
Babalhau, Vale e
Silvã.
Mais tarde, nos finais do
século XIX, grande parte da
muralha e os arcos acabaram
por ser demolidos.
Castelo de Torres Novas
http://www.ribatejo.com/ecos
Se a lenda fala de gregos e
romanos, numa sequência
impossível, Rodrigo Mendes
da Silva, na sua "Poblacion
General de
España",
atribui com incrível certeza
a fundação de Torre Novas
aos Celtas, no ano 308 a.C..
Neupergama,
Kaispergama e Nova
Augusta, de gregos e romanos
respectivamente, constituem
natural desejo de fazer
recuar as origens da
fortaleza à mais remota
ancestralidade.
É muito possível, no
entanto, que no quase
inexpugnável morro onde se
ergue o Castelo, tenha
existido qualquer
fortificação romana, a
julgar pela abundância de
vestígios que, nas
imediações, atestam a sua
importante presença.
A "Turris"
deve ter assumido particular
importância estratégica no
vaivém da guerra da
reconquista, integrando-se
na constelação de fortalezas
que constituíram a chamada
"linha do Tejo".
Por árabes e cristãos foi
várias vezes saqueada.
Coincidem várias fontes ao
dá-la conquistada por D.
Afonso Henriques em 1148.
"Ganharão-se
as Villas de
Abrãtes
e Torres Novas, ambas
muyto
fortes em o sitio,
fermeza
de muros e
castellos" (...), diz
a Monarquia Lusitana, embora
outras crónicas igualmente
coincidam em anterior
conquista pelo Primeiro Rei,
em 1135 ou 1137, na
sequência da tão discutida
destruição de Leiria.
Em 1184, o Emir de Marrocos
Aben
Jacub
acampa a sudeste da vila, no
local hoje chamado
Arraial.
Arrasa a fortaleza e segue a
conquista de Santarém, onde
é derrotado.
Em 1190, É o Almóada
Aben
Joseph,
Imperador de Marrocos e
irmão de
Aben
Jacub
quem de novo tenta retomar
Santarém. Acomete contra
Torres Novas, que ganha
facilmente, dirigindo-se
depois a Tomar, que destrói.
Não logra no entanto, a
tomada do Castelo e levanta
o cerco.
Deixou contudo guarnição em
Torres Novas e sugere aos
portugueses a entrega da
praça em troca de Silves,
que havia perdido, não
conseguindo este intento.
A presença árabe deverá ter
sido desbaratinada, poucos
meses depois por tropas de
D. Sancho. A 1 de Outubro
desse ano de 1190, o Rei
Povoador concede à vila o
seu primeiro Foral e manda
reconstruir a fortaleza.
Depois das lutas com
Castela, no séc. XIV, D.
Fernando ordena a
reconstrução do castelo e
das muralhas da cerca, obra
concluídaem 1376, e
da qual ficou inscrição no
antigo Arco do Salvador: "O
mui
nobre rei D. Fernando mandou
fazer esta obra a Lourenço
Pais, de Santarém,
juíz
por el-rei, e foi acabada na
era de 1414 (1376) anos e
desta obra foi mestre
Estêvao
Domingues, pedreiro, que
isto fez e lavrou."
Da Cerca, que tinha três
portas principais e foi
definitivamente destruída no
séc. XIX quase na
totalidade, resta hoje troço
de muralha a nascente do
Castelo.
A configuração actual do
monumento foi a que resultou
de importantes obras de
restauro de torres e
muralhas na década de 40 e
do arranjo da
Alcaidaria trinta
anos depois.
in
"Castelo de Torres Novas",
ed.
Serviços Culturais da Câmara
Municipal de Torres Novas.
Vila Nova da Barquinha –
(Concelho do Distrito de
Santarém)

Origem do nome:
«Américo Costa em
Dicionário Corográfico
de Portugal Continental
e Insular – 1949»: “Esta
povoação traz “no nome
da sua história” como
diz Leite de
Vasconcelos, pois refere
ainda esta autor “leva a
crer que no local se
atravessa o rio” –
Etnografia Portuguesa,
Vol. Ll pág. 566”.
«Xavier Fernandes em
Topónimos e Gentílicos
(1944)»: “O território
do actual concelho da
Barquinha apenas
principia a figurar na
história propriamente
dita com os princípios
da Nacionalidade, isto
é, após o século Xll,
mas sem qualquer ligação
com a vila sua sede,
pois é muito moderna.
Com razão o faz ver
Leite de Vasconcelos
quando diz que, nos
princípios do século
XVlll, ainda não é
citada a Barquinha (Vila
Nova é um acrescente
posterior, em razão do
municipalismo
concedido), e nos meados
do mesmo século se diz
dela em corógrafos
“pouco menos que nada”,
prova de insignificância
manifesta … …
O da Barquinha só muito
mais tarde surgiria, com
a povoação, pois como
diz Leite de Vasconcelos
ela tem “no nome a sua
história”, pois tudo
leva a crer que o local
se atravessa o rio”,
isto é, a Barquinha deve
o seu aparecimento a uma
barca de passagem. Mas
este aparecimento não
deve crer-se dos
princípios do século
XVlll, se bem que ainda
no século XVl se não
refere, pois que já em
1712 se cita com a sua
ermida de Santo António,
que é o título paroquial
.. …
Em 1836, foi a Barquinha
erecta em concelho que
em 2 de Junho de 1839 se
fixou, chamando-se Vila
Nova da Barquinha, nome
dado à povoação ou vila.
Este concelho foi
extinto em 21 de Junho
de 1895, mas restaurado
em 13 de Janeiro de
1898”.
Vila Nova da Barquinha
http://www.ribatejo.com/ecos
Povoação portuguesa do
distrito e diocese de
Santarém, e da comarca da
Golegã, com 1.492 habitantes
(dados de 1987). Sede de
concelho. Situada na margem
direita do Tejo, pertenceu
aos Templários. É sede de
concelho a partir de 1836.
Constituído por 4
freguesias, o concelho tem
11.553 habitantes (dados de
1987). Possui indústrias de
fiação, rolhas e cerâmica.
Ficam na sua área o famoso
castelo de
Almourol, o centro
militar de Tancos e a grande
propriedade agrícola da
Quinta da
Cardiga.
in
"Moderna Enciclopédia
Universal",
ed.
Círculo de Leitores
Quadro Histórico
A história do concelho da
Barquinha é,
inevitavelmente,a
história do Tejo: o comércio
marítimo, a pesca de
sobrevivência, o apogeu, a
decadência. E é ainda a
história de três concelhos
outrora prósperos que se
fundiram, afinal, num só.
Vila Nova da Barquinha,
antes de ser criada vila e
sede de concelho, em 1836,
era um pequeno lugar do
concelho de Atalaia. Havia
então três concelhos
prósperos na região: Praia
do Ribatejo (Paio de
Pelle),
Tancos e Atalaia.
Atalaia foi tomada aos
mouros em 1147, tendo estado
despovoado até 1212, altura
em que D.Afonso II lhe deu
foral com privilégios para
provocar o seu povoamento.
Foram-lhe concedidos mais
dois forais, em 1315 por D.
Dinis e em 1514 D. Manuel.
Atalaia fez parte do
concelho da Golegã, quando
em 1895 foi extinto o
concelho da Barquinha.
Praia do Ribatejo (Pay
Pelle)
foi doada por D. Afonso
Henriques aos Templários,
como comenda, tendo depois
passado pare a Ordem de
Cristo. O primeiro foral
foi-lhe dado por D.
Gualdim
Pais, em 1180, altura em que
ali mandou construir um
castelo. D. Manuel
concedeu-lhe novo foral em
1519. A
major parte da
população desta localidade
eram pescadores, tendo todos
um paqueno pedaço de
terra: "(...)
Todo o termo desta vila se
compõe de pequenos lugares e
bastantes pobres aqui não há
um grande proprietário, não
há comerciantes, quase todos
entretanto têm o seu pedaço
de terra(...). Quase todos
já de antiquíssimos tempos
se têm empregado no serviço
da pesca, de que tiram muito
maiores vantagens do que na
cultura de terras bastante
áridas e estéreis(...). A
pesca destes homens é às
vezes no rio Zêzere e muito
principalmente no Tejo; como
ela porém nestes sítios não
lhes daria todos aqueles
interesses a que eles
aspiram, então emigram para
certas partes do Tejo, onde
chega a maré, sendo o local
de pesca destes homens
ordinariamente entre Vila
Franca de Xira e Salvaterra
de Magos(...). Costumam
vir anualmente de Ovar e de
suas imediações de 80 a
lOO
homens que somente aqui
permanecem o tempo
necessário, e mesmo porque
esta gente é mais apta e
está mais acostumada a tal
serviço. Diz depois que a
colheita de azeitona era a
que mais abundava e nela se
empregam os mesmos
pescadores, pois quase
sempre acontece acharem-se
neste tempo aqui; o sexo
feminino igualmente se
emprega neste serviço como
em todos os outros da
agricultura em que podem ser
admitidos e para o que são
superabundantes(...)"(1)
A povoação de Tancos remonta
aos primeiros tempos da
monarquia. O famoso Castelo
de Almourol, localizado
nesta área, foi reedificado
por D.Gualdim Pais, em
1160. Em 1170 deu-lhe foral,
bem como aos seus moradores.
Pertencentes ao concelho de
Atalaia, foi no reinado de
D. Manuel
desanexeda, obtendo
regalias de foral.
A graduação de Vila fora-lhe
concedida em 1517 por via do
seu crescente povoamento.
"Ofereceu Tancos noutros
tempos face brilhante em
indústria comercial, e os
seus habitantes se souberam
aproveitar das
circunstâncias favoráveis
que então o permitiam. Tinha
um excelente porto, e era um
ponto de comunicação das
províncias do norte e
Alentejo com a capital
fazendo-se por aqui as
diferentes
transações dos
objectos de comércio; o
Norte da Estremadura/Beiras
mandavam azeite, madeiras,
came
de porco, frutas,
etc.(...)
A sorte de Tancos era então
próspera e vantajosa(...)
mudaram-se entretanto as
circunstâncias e com elas a
sua sorte. Começou a fazer
Abrantes os negócios do
trigo do Alentejo, e para
ali foi tudo propendendo
neste ramo, ou por
comodidade de transportes ou
por mais industriosos os
seus habitantes. A Barquinha
começou a absorver o
comércio de azeite e
inteiramente o das madeiras
e também o do pão (...).
Tancos foi decaindo
progressivamente(...)
(2). A sua população,
praticamente toda entregue
desde sempre ao comércio
fluvial, não soube virar-se
para a agricultura, e a
consequente insuficiência de
rendimentos provocou a
emigração
macica
e o seu consequente
despovoamento (2ª metade do
séc. XVIII).
Mais tarde, em 1866, com a
construção do polígono de
Tancos (à altura a Escola
Prática de Engenharia e um
Batalhão de
Pontoneiros), e
posteriormente com o
desenvolvimento do vizinho
Entroncamento, esta região
voltou a ver aumentar a sua
população e a melhorar a sue
economia.
Com a decadência do comércio
de Tancos, e gozando
simultaneamente das
"algumas" aptidões da sua
terra, Vila Nova da
Barquinha (Barca de seu
primeiro nome), viu
florescer um verdadeiro
empório comercial nos seus
limites.
Desanexeda de Atalaia
em 1938,
foi elevada a sede de
concelho um ano depois, pela
Rainha D. Maria: "(...)
Houvesse por bem
conceder-line para
distintivo honorífico da
mesma vila, licença para
poder usar de Brasão de
Armas que,
perpectuando a
memória da época em que foi
elevada à categoria de
Cabeça do Concelho, fosse
alusivo à navegação do Tejo,
e ao comércio e fontes
principals da
prosperidade e riqueza
daquela terra (...). Me
apraz conceder um Brasão de
Armas, que será um escudo
sem corôa, partido em
pelas, na primeira em campo
azul uma Bandeira de Ouro em
mar de prata e azul, e na
segunda em campo da prata
uma Oliveira de
côr
própria entre duas
vazilhas de
tonda
negra, ficando no centro de
dous
ramos de Carvalho e letras
de prata e legenda
-
Vila Nova da Barquinha
(...)" (3).
Importante porto comercial,
cujo tráfego ficava sujeito
a grandes impostos (cujos
rendimentos eram usados em
melhoramentos da terra)
também esta importante
região viu
decaír
a sua economia com o advento
do vizinho caminho de ferro.
(1)
in
"Ribatejo Histórico e
Moumental" – de
Francisco
Câncio,
Vol.
III, 1939.
(2) Idem
(3)
Idem
in
DIAGNÓSTICO SÓCIO-CULTURAL
DO DISTRITO DE SANTARÉM -
ESTUDO 1, Santarém, 1985,
pág. 504-505.
Almourol
Apontamento do 1900 do
Jornal do Comércio
(Lisboa).
“Sem dúvida um dos dez
mais belos Castelos de
Portugal. Fica situado
numa pequena ilha do rio
Tejo, onde Gualdim Pais,
mestre da Ordem dos
Templários, reedificou
em 1160, numas ruínas
possivelmente árabes o
Castelo que ainda existe
nos nossos dias. É um
exemplar notável de
arquitectura militar. A
este Castelo prendem-se
lendas amorosas de
mouras bonitas e
encantadas e cristãos”.
Numa pequena ilha
ancorada no leito do rio
Tejo, encontramos o
belíssimo Castelo de
Almourol. Basta
descermos à margem
vindos de Tancos, para
nos deslumbrarmos com a
curiosa ilha que tem
assento um maravilhoso
Castelo, onde Florbela
Espanca e Fernando
Pessoas gostavam de
encontrar suas musas,
seguindo as pegadas de
Luís Vaz de Camões e da
4ª Marquesa de Alorna
(D. Leonor de Almeira
Portugal de Lorena e
Lencastre, a nossa Cirne
da Arcádia) entre outros
poetas e escritores;
ainda hoje o nosso
Prémio Novel José
Saramago, afirma que: É
um lugar onde as ideias
vêm ao encontro do
escritor” ...
Mas voltamos a Almourol:
Para o visitar, a única
solução é entrar num dos
pequenos barcos que
fazem a travessia e
experimentar a sensação
de “atracar” numa ilha
de areia e vegetação,
onde o tradição popular
diz que existe um
tesouro escondido. E
para os mais românticos,
uma bela moura encantada
à espera de um cristão
que a desencante com
palavras mágicas (???) e
que a saiba beijar ...
O caminho de areia
conduz-nos à entrada
deste castelo que,
segundo a lenda, durante
a época da Reconquista
(séculos lX e X) tinha
um dono, de origem goda,
chamado D. Rodrigo, com
fama de ser bom
guerreiro, mas rude e
cruel.
Um dia, ao regressar de
uma batalha, matou, sem
razão, a mãe e a irmã de
um jovem mouro, levando
este para o Castelo e
fazendo dele pajem à
força.
Porém o jovem mouro quis
vingar-se, envenenando a
mulher de D. Ramiro. Ao
querer vingar-se também
de sua filha, Beatriz,
acabou por se apaixonar
por ela e ser
correspondido.
D. Ramiro prometeu a mão
de sua filha a um
castelão, mas de nada
valeu, porque os dois
jovens fugiram, não se
sabe para onde. D.
Ramiro não resistiu ao
desgosto e morreu pouco
tempo depois.
Diz o povo: “Que Beatriz
e o pagem, em noite de
São João/sobre os
muros elevados/aparecem abraçados/ao
lado do castelo”.
O castelo foi
conquistado aos mouros
no reinado de D. Afonso
Henriques e logo entre à
Ordem dos Templários,
que tinham a seu cargo a
defesa da zona do Tejo.
Foi mandado reconstruir
por Gualdim Pais, mestre
da Ordem dos Templários,
em 1171 e só deixou de
pertencer à Ordem quando
ela foi extinta em 1312.
Este Castelo desempenhou
um papel fundamental nos
tempos da Reconquista
cristã, tendo sido
abandonado depois desta
ter terminado.
No século XlX, foi feita
a sua manutenção sem
qualquer preocupação de
rigor, tendo
descaracterizado o
monumento inicial. Já
neste século, foi feita
uma nova recuperação que
retirou alguns dos
elementos românticos,
embora já não tivesse
sido possível recuperar
a traça medieval
original.
A muralha, de planta
quadrangular, é
acompanhada por 9
torreões circulares que
guardam a bonita torre
de menagem, com três
pisos e acesso por
escada de madeira. Dizem
que existia um túnel do
Castelo para o Convento
de Almourol, situado na
margem norte. As
cortinas de muralhas
estão defendidas por
merlões (construídos no
século XlX) e seteiras
quadradas. O adarve,
suportado por cachorros,
e com acesso por várias
escadas, proporciona-nos
uma ampla vista sobre
toda a paisagem
circundante.
Alexandre Herculano
diz-nos: “Já teve o nome
árabe de “Almorolan”,
uma das relíquias que o
Tejo guarda no seu
leito. É uma fortaleza
solitária rodeada de
vegetação numa pequena
ilha no meio do rio. Se
suas pedra falassem,
teriam muitos mistérios
e histórias para contar:
histórias de paixões,
duelos e conquistas,
onde entram gigantes,
cavaleiros, princesas,
mouros e cristãos ... e
também o enorme épico
Camões... É uma
verdadeira ilha dos
encantos ...”.
O mistério que aureola
este Castelo – como já
referimos numa ilhota do
rio Tejo, entre Vila
Nova da Barquinha e
Constância (um dos
pousos preferidos do
grande Luís Vaz de
Camões), erguido pelo
admirável mestre dos
Templários, Gualdim de
Pais, a partir dos
fundamentos romanos -
ultrapassa as parcas
memórias que o têm por
protagonista.
O relevo de sua esbelta
silhueta no elemento
aquário circundante
poderá talvez propiciar
esse tipo de evocações,
porém alguns achados
arqueológicos efectuados
no decorrer das
campanhas de restauro
realizadas em épocas
diversas - sobretudo as
medalhas esmaltadas com
representações de cenas
de cavalaria –
aproveitam à contestação
de que o lendário de
Almourol não é, em
definitivo, apenas o
ex-libris da imaginação
e “espírito inventivo de
nossos avós”.
A principal fonte desse
lendário extenso e
perene é o “Palmeirim de
Inglaterra”, da autoria
de Francisco de Morais,
que, em síntese, nos faz
o seguinte relato:
“ Duas formosas damas de
nobre linhagem – de seu
nome Miraguarda e
Polinarda – foram um dia
ao Castelo do gigante
Almourol, que habitava
aquela fortaleza.
Conhecedor das leis de
cavalaria, recebeu as
duas damas de acordo com
elas. Andava por esse
tempo quebrando lanças
pelo mundo, em honra de
Polinarda, sua dama, o
esforçado cavaleiro
Palmeirim, que, tendo
notícias do sucesso,
decide regressar a
Portugal com o firme
propósito de a raptar.
Viu, no entanto,
frustrados os seus
intentos porque se lhe
opôs o Cavaleiro Triste,
apaixonado de Miraguarda.
Desafiado para uma justa
de armas, Palmeirim
aceita o desafio. E,
durante horas sem fim
cada um dos combates por
sua dama. Rotas as
cervilheiras, desfeitas
as armas, os dois
cavaleiros decidem
suspender o combate para
sararem as feridas. É
para que basta para que
Dramusiando, outro
gigante, chegue em
socorro de Palmeirim,
desbaratando Almourol e
o Cavaleiro Triste, que
abandonam as suas
protegidas, o que,
finalmente, permite a
Palmeirim encontrar nos
braços de Polinarda o
remédio das suas
atribulações”.
Trabalho e pesquisa de
Carlos Leite Ribeiro –
Marinha Grande -
Portugal
|
|

Envie
esta Página aos Amigos:



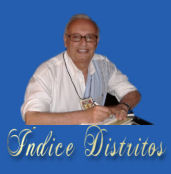


Por favor, assine o Livro de Visitas:

Todos os direitos reservados a
Carlos Leite Ribeiro
Página criado por Iara Melo
http://www.iaramelo.com
|