|
Distrito de
PORTALEGRE
Trabalho e
Pesquisa de
Carlos Leite
Ribeiro
Concelhos de: Alter do Chão,
Arronches, Avis, Campo Maior,
Castelo de Vide, Crato,
Elvas,
Fronteira, Gavião, Marvão,
Monforte, Nisa, Monforte, Nisa,
Ponte de Sôr,
Portalegre (Capital e Concelho
do Distrito de Portalegre),
Sousel.
Distrito de Portalegre,
pertencente na sua maior
parte à província
tradicional do Alto
Alentejo, completando-se com
alguns concelhos
pertencentes ao Ribatejo.
Limita a norte com o
Distrito de Castelo Branco,
a leste com a Espanha, a sul
com o Distrito de Évora e a
oeste com o Distrito de
Santarém. Área: 6065 km².
Sede de distrito:
Portalegre.
Apontamento do ano de 1900
(Jornal do Comércio):
“O distrito de Portalegre é
formado de uma parte da
antiga Província do
Alentejo, tem uma superfície
de 6.230,60 Km2 e uma
população de 124.431
habitantes. Compreende 15
concelhos e 72 freguesias.
Povoações principais:
Portalegre, Elvas e
Monforte. A serra principal
é a São Mamede (1.025 metros
de altitude. É banhado pelo
Rio Tejo, que o separa do
distrito de Castelo Branco,
e pelos rios Sever, Nisa,
Figueiró (afluente da margem
esquerda do Tejo, pelo rio
da Raia e seus afluentes,
pelo Guadiana, que o separa
da Espanha numa curta
extensão, e pelo Caia
(afluente do Guadiana).
Produtos agrícolas, criação
de gado, grandes montados de
azinho”.
Portalegre – (Capital e Concelho do Distrito de
Portalegre)

Origem do Nome:
“Frei Amador Arrais
conta-nos que a cidade foi
edificada com o material que
se aproveitou da cidade de
Medobriga, fundada por
Brigo, 4º rei de Espanha.
Mais nos diz que tudo isto
se passou cerca de 1900
antes de Cristo. Segundo a
lenda teria sido um filho
Baco, de nome Lysias, que um
dia, achando lindas estas
paragens, mandou edificar
uma fortaleza e um templo
que consagrou a Dionísio ou
Baco. Tais construções
teriam existido no sítio
onde está a ermida de São
Cristovão, sítio que domina
a cidade actual. Ali perto,
o arroio que corre, ainda
hoje é chamado o ribeiro de
Baco.
Embora faltem os elementos
necessários para o provar, o
que parece averiguado é que
Portalegre já existia no
tempo dos romanos, ainda que
com outra localização, não
longe da actual.
Segundo a mesma lenda,
Lysias, ao fundar a
povoação, deu-lhe o nome de
Amaya ou Ameya. A origem de
tal nome deve ter vindo de
uma filha do fundador
citado, chamada Maya. Ambos
foram sepultados no referido
templo.
Os romanos não mudaram o
nome e a Amaya ou Ameya
tornou-se em ruínas e ficou
sem população, devido às
lutas constantes da Idade
Média.
Em 1259, D. Afonso lll
mandou-a reedificar em
sítio, onde existiam umas
vendas que eram conhecidas
por Portelos. Deve ter vindo
daqui e da beleza do local o
nome de Portalegre.
As vendas de Portelos
supõe-se que existiram no
local onde mais tarde se
edificou a Igreja de São
Bartolomeu, que também já
não existe. À volta desse
sítio se foram construindo
edifícios com os materiais
que existiam da extinta, ou
quase, Amaya.
Aconteceu, porém, coisa
idêntica com a nova
povoação, pois as lutas
entre mouros e cristãos
continuaram e no seu horror
e na sua violência a
destruíram. Assim,
transformada em ruínas, os
habitantes que sobreviveram
tiveram que a abandonar.
Em 1290, D. Dinis mandou
construir um forte castelo,
que já também não existe,
duas cercas de possantes
muralhas, que tinham doze
torres e oito portas. Estas
tinham os nome de: Teresa,
Postigo, de Alegrete, de
Elvas, de Évora, do Espírito
Santo, de São Francisco, e
do Bispo ou de Crato,
algumas das quais ainda
existem. As muralhas estão
igualmente em bom estado de
conservação.
O mais notável é que D.
Dinis veio a tirar a prova
de resistência da
fortificação. A população de
Portalegre tomou o partido
de seu irmão D. Afonso, o
qual se orgulhava do
senhorio da localidade. O
rei teve de pôr cerca à
então vila, cerco que durou
cerca de cinco meses,
acabando pela rendição dos
sitiados. D. João lll criou
o bispado, em 1549.
Há uma versão que diz ter
vindo o nome da cidade de
Portalegre de “Portus Alacer”.
Portus era um sítio entre a
Penha de São Tomé e o Cabeço
do Mouro, e, Alecer veio da
bela situação da povoação.
(Casimiro Mourato -
1954) “.
“Portalegre derivou de porto
alegre. Porto significou
(como já no latim portus)
passagem e neste sentido
também se empregou e emprega
em português a significar
passo ou terra entre montes.
O adjectivo alegre de certo
qualificou a alegria da
passagem. Como se sabe, a
paisagem é idílica naquele
“porto alegre”, enquadrado
pela serra de São Mamede e
alturas de Marvão e Castelo
de Vide. Nota-se que as
pessoas de fora dizem “Purtalegre”;
mas “Pôrtalégre” é a
proníncia popular, o que
ajuda a confirmar a formação
“porto alegre”. ( Prof. Dr.
Vasco Botelho de Amaral -
1949) .”.
Apontamento do ano de 1900,
tirado do “Jornal do
Comércio”:
“Portalegre é cidade,
capital de distrito e cabeça
de concelho. Tem uma
população de 11.893
habitantes e é servida pelo
caminho de ferro Companhia
Real. Tem 10 freguesias com
18.510 habitantes. Tem
fábricas de lanifícios,
moagens, cortiça.
O distrito de Portalegre tem
uma superfície de 6.230,60
Km2 e uma população de
124.431 habitantes.
Compreende 15 concelhos e 72
freguesias. Os concelhos
são:Alter do Chão,
Arronches, Avis, Campo
Maior, Castelo de Vide,
Crato, Elvas, Fronteira,
Gavião, Marvão, Monforte,
Niza, Ponte de Sôr,
Portalegre e Sousel. A serra
principal é a de São Mamede
com a altitude de 1.025
metros. É banhada pelo rio
Tejo, que o separa do
distrito de Castelo Branco,
e pelos rios Sever, Niza,
Figueiró (afluentes do Tejo
da margem esquerda); pelo
rio Raia e seus afluentes, e
pelo rio Guadiana, que o
separa de Espanha numa curta
extensão, também pelo Caia,
afluente do Guadiana.
Tem produtos agrícolas,
criação de gado, grandes
montados de azinheiras.”.
Capital do distrito do mesmo
nome, Portalegre é uma
cidade com condições
próprias que lhe dão um
encanto singular.
Situada numa das mais belas
regiões de Portugal,
edificada num planalto da
serra de São Mamede, tem
simultaneamente
características da serra
verdejante e da campina
alentejana, que se conjuram
num variado conjunto
paisagístico.
Rica em água e rodeada de
quintas, hortas e pomares, é
actualmente uma cidade com
15 mil habitantes,
fortemente industrializada e
também dedicada ao comércio.
A sua origem perde-se na
lenda recolhida por Frei
Amador Arrais, que foi o
terceiro bispo de
Portalegre. Conta ele que a
cidade foi fundada, 1900
anos antes de Cristo, por
Lysias, filho de Baco (o
deus do vinho), que, achando
o sítio muito aprasível,
mandou construir nele uma
fortaleza e um templo
dedicado a Baco,
instalando-se aqui com a sua
gente. Tais construções
teriam existido no local da
actual Ermida de São
Cristóvão, onde ainda se
encontram os restos mortais
de Lysias, num cofre de
madeira com epitáfio escrito
em letra grega, descoberto
no século XVlll, durante as
obras de ampliação e
colocado actualmente num
nicho, no lado direito do
altar-mor.
Segundo a lenda, Lysias, em
memória de sua filha Maya,
aqui tragicamente falecida.
Os Romanos não lho mudaram e
a urbe chegou a ter nessa
época a elevada categoria de
município romano.
Mas acabou por ficar
despovoada e em ruínas
durante as lutas medievais.
Repovoada após a
Reconquista, Portalegre viu
erguer-se muito próximo,
poucos anos após a morte do
santo, o Convento de São
Francisco, para o qual
contribuíram todos os
moradores das redondezas,
tendo o convento atraído
mais população.
A então vila, em 1259,
recebeu foral de D. Afonso
lll; D. Dinis cercou-a com
uma cintura dupla de
muralhas, consciente da sua
estratégica posição
fronteiriça.
Primitivamente, a população
circunscreveu-se ao recinto
das muralhas, mas, com o
andar dos tempos, foi-se
dilatando. Construíram-se
então ruas para lelas, mas,
como não havia muito espaço,
os habitantes começaram a
ocupar o lado da
Misericórdia (lado norte).
Em 1549, D. João lll ,
intercedeu junto do papa
Paulo lll para a sua
elevação a diocese, que foi
criada nesse mesmo ano. No
ano seguinte, D. João lll
elevou Portalegre a cidade.
Em 1556, foi lançada a
primeira pedra da nova Sé,
consagrada a Nossa Senhora
da Assunção.
A imponente construção, que
ainda hoje é o principal
monumento da cidade, ficou
concluída no tempo de Frei
Amador Arrais, que mandou
fazer os retábulos da
capela-mor e o de Nossa
Senhora do Carmo e à sua
própria custa lajeou e
ladrilhou todo o pavimento
do templo. A Sé foi
posteriormente enriquecida
com vários melhoramentos,
como o grandioso orgão e uma
valiosa colecção de
paramentos.
Na parte antiga, dentro do
recinto das velhas muralhas,
nas ruas dos Besteiros e do
Castelo, ficavam as moradas
dos nobres em prédios de
acanhadas proporções, alguns
dos quais ainda se podem
admirar, embora mais ou
menos modificados.
Um dos mais belos monumentos
da cidade é o convento de
São Bernardo, adaptado a
quartel, que possui um
magnífico pórtico barroco.
Num dos seus pátios centrais
pode admirar-se uma
grandiosa fonte de mármore
com 16 bicas, encimada uma
figura de Neptuno
artisticamente trabalhada.
A sepultura de D. Jorge de
Melo, fundador do convento,
é considerada a mais
sumptuosa e soberba de
Portugal, com os seus 12
metros de altura por 6 de
largo.
Tanto o túmulo como a fonte
são atribuídos ao grande
mestre João de Castilho.
Em miradouros privilegiados,
como o de São Cristóvão, o
da serra de São mamede ou do
da Senhora da Penha, o
visitante pode admirar toda
a grandeza da cidade e
estender o olhar pelos
campos povoados de “montes”
(chamados “alentejanos”).
A SERRA DE SÃO MAMEDE:
A serra estende-se por
muitos quilómetros, formando
o famoso triângulo
turístico: Portalegre –
Castelo de Vide – Marvão.
Os percursos são aprazíveis,
e as estradas nada más. A
paisagem surpreende a cada
curva, porque a frescura e o
silêncio da serra, os
pinhais e os soutos têm o
seu contraponto nos vales
salpicados de casinhas
brancas e singelas ermidas
rodeadas de pomares e
hortas.
Alguns contrafortes da serra
dispõe de condições ideais
de defesa, encostas
escarpadas, terreno
acidentado e abundância de
recursos de água.
Assim, se justifica a
existência de vilas como
Marvão (que tem um magnífico
e panorâmico castelo) e
Castelo de Vide, que
exerceram durante séculos o
seu papel na defesa das
regiões fronteiriças.
Neste percurso
deparam-se-nos vales frescos
e aprazíveis, como o de
Aramenha, onde apetece parar
de deixar o tempo correr.
Compreende-se facilmente
que, desde a Antiguidade, os
povos se tenham fixado
nestas paragens.
Mas além do triângulo
turístico, existe um
circuito mais pequeno, de
cerca de 14 Km. Geralmente
chamado “volta à serra”. É
um belíssimo percurso que
atravessa as encostas da
serra, chamada de
Portalegre, coberta de
vegetação muito complexa.
Portalegre
http://www.geocities.com/thetropics
Perde-se na obscuridade da
história a origem da cidade
de Portalegre. Segundo uma
lenda contada por Frei
Amador Arrais, Bispo de
Portalegre:
Passeava um dia Maya, filha
de Lísias, com Tobias, até
que um vagabundo, Dolme, a
cobiça e a rapta,
assassinando Tobias que se
movia em defesa de Maya.
Lísias capitão de Baco
desesperado pelo
desaparecimento da filha ,
parte à sua procura mas
encontra-a morta.
Lísias estaria então
acampado no mesmo sitio onde
ainda hoje passa o Ribeiro
de Baco. Lísias viria então
a morrer de súbita alegria,
após ter vagueado muito
tempo chamando pela filha,
quando um dia julga ve-la
estender-lhe os braços numa
ilusória aparição. Seria
então em homenagem a Maya
que se teria fundado a
cidade de Ammaia no mesmo
sítio onde hoje está
Portalegre.
Sabe-se hoje porém que
apesar de ter existido, a
cidade Romana de Ammaia,
encontrava-se onde hoje está
a povoação de Aramenha e que
toda esta lenda que sempre
se contou sobre a cidade de
Portalegre não passa de
fantasias apoiadas numa
lápide Romana, ainda hoje
existente no Museu Municipal
e que terá sido trazida de
Aramenha para Portalegre
quando da sua fundação,
tendo na altura servido de
base a uma coluna na, ainda
existente, ermida do
espírito santo. Nessa lápide
pode ler-se (traduzido):
«Ao imperador Lúcio Aurélio,
verdadeiro Augusto, filho do
divino Antonino, Pontífice
Máximo, investido no poder
tribunício, cônsul pela 2ª
vez, pai da Pátria, dedicou
o município de Ammaia».
Remetendo ao mais antigo
cronista da cidade - O padre
Diogo Pereira Sotto Maior -
e apesar de ele ter relatado
outras teses sobre o
aparecimento da cidade a
mais provável seria a
seguinte:
«Dizem que esta cidade foi
primeiro situada em üas
vendas que estavam por cima
dos Portelos, junto à ermida
de San Bartolomeu e contra a
Porta da devesa que se
chamavam as Vendas dos
Portelos e que daqui tomou
depois o nome de
Portalegre…E porque sua
vista é alegre e aprazível
aos olhos de quem nele os
punha, vieram chamar-lhe
porto alegre, donde depois
vem a chamar-se Porto
alegre, derivado de Portelos.»
Certo é, porém, que em 1259,
pouco mais de meio século
volvido sobre a formação do
reino de Portugal, D. Afonso
III concede a Portalegre o
seu foral de vila, mandando
reconstruir a antiga
povoação de Portelos,
arrasada pelas escaramuças
entre cristãos e Muçulmanos,
dando-lhe o nome de Portus
Alacer (Portus - um local de
trânsito de mercadorias e
Alacer - devido à sua alegre
e pitoresca situação). Pela
importância do seu aspecto
estratégico, D. Dinis, em
1290, rodeia-a, de forte e
dupla muralha (alguns troços
ainda hoje existentes) e
manda erguer o seu castelo,
sobranceiro à planície
extensa, sentinela vigilante
para a defesa da integridade
do território Português.
Para além das duas cercas de
muralha e das doze torres
existiam também sete portas:
Poterna, ao fundo da Rua da
Figueira (desaparecida),
Crato (conhecida hoje por
arco do Bispo), Évora ou
Porta Falsa, ao fundo da Rua
do Arco (desaparecida),
Elvas, ao fundo da rua com o
mesmo nome (desaparecida),
Alegrete ou S. Francisco
(conhecida hoje por arco de
St António)(por esta porta
entrou Filipe II de Espanha,
I de Portugal tendo se
dirigido à sé onde Foi
recebido pelo Bispo D.
Filipe de Noronha e pelo
Clero), Postigo, ao cimo da
rua de S. Tiago e Pirão
(desaparecida) e devesa ou
Espírito Santo.
Por carta de 18/11/1299, D.
Dinis decidiu que Portalegre
seria sempre “de El Rei e de
seu filho primeiro
herdeiro”.
Em 1387 D. João I grato pela
atitude dos Portalegrenses
ao pugnarem pela sua causa,
a da independência, durante
as cortes de Coimbra,
deu-lhe o titulo de Leal,
tendo sido Portalegre a
segunda a faze-lo, logo a
seguir ao Porto.
Em 1549, por diligências de
D. João III, o Papa Paulo
III expedia a bula que
criava a nova diocese de
Portalegre, tendo
posteriormente sido elevada
a cidadepor carta de
privilégios de D. João III
datada de 23 de Maio de
1550. Ainda hoje se celebra
todos os anos o dia da
cidade a 23 de Maio.
Com a elevação a cidade ,
muitos nobres e burgueses
construíram a sua casa fora
de muros. Essas construções
formam um dos conjuntos mais
notáveis de moradias
seiscentistas e
setecentistas do País. A
burguesia empreendedora que
nessa época se fixou na
cidade desenvolveu variadas
indústrias especialmente a
têxtil.
Em 1640, Portalegre é uma
das primeiras cidades a
reconhecer a independência
de Portugal no dia 2 de
Dezembro.
No dia 18 de Julho de 1835 é
elevada a sede de distrito.
As cores da cidade são o
amarelo (nobreza, fé,
fidelidade, constância e
liberdade) e o negro (terra,
firmeza e honestidade).
O Presente
Nos últimos anos o
aparecimento de novas
industrias e a instalação de
diversos cursos superiores
tem incrementado a vinda de
mais pessoas para a cidade
num claro caminho para o
desenvolvimento.
Apesar da instalação de
grandes superfícies
comerciais o centro da
cidade com especial relevo
na Rua do Comercio e na Rua
Direita tem conseguido
manter elevados parâmetros
de qualidade pondo há
disposição de todos um
grande numero de lojas.
Um cinema em funcionamento,
um grupo de teatro, dois
museus, uma agitada vida
nocturna, um parque de
exposições, diversas
piscinas naturais e
artificiais, um parque
desportivo, galerias de
arte, para além de múltiplos
acontecimentos de carácter
temporário e pendular
conferem a Portalegre um
lugar de destaque em toda a
região.
De destacar a realização de
diversas provas de Todo o
Terreno, as festas do dia da
cidade a 23 de Maio, uma
feira de velharias mensal,
as ancestrais romarias de
Verão nas povoações vizinhas
e a grande proximidade de
diversas localidade de
reconhecido interesse como
Marvão, Castelo de Vide,
Crato, Monforte, Arronches,
Alter do Chão, entre outras,
que a transforma em grande
centro turístico de toda uma
vasta região.
À disposição dos visitantes
estão um Hotel, um parque de
campismo, uma Pousada de
Juventude, uma estalagem,
diversas pensões e algumas
casa de Turismo de Habitação
que vão com certeza
proporcionar dias
inesquecíveis.
Continuando Portalegre a
manter a nobreza dos tempos
antigos, presente nas
seculares edificações e na
sua característica forma
urbana Portalegre é sem
dúvida uma cidade a caminho
do futuro.
Portalegre
http://www.herancasdoalentejo.net
“ A origem de Portalegre
prende-se com o reinado de
D. Afonso III, o qual
ordenou a reconstrução da
povoação de Portelos,
destruída pelas lutas entre
muçulmanos e cristãos,
concedeu-lhe o privilégio de
vila e o respectivo foral.
Ganhou assim, em 1259, o
nome de Portus Alacer (local
de transito de
mercadorias/bela
localização), derivando ao
longo dos tempos para
Portalegre. Ainda no séc.
XIII, o rei D. Dinis manda
construir uma muralha em
defesa da vila, a qual tinha
sete portas, das quais ainda
existem as portas da Devesa
, do Bispo e a de Sto.
António. Durante importantes
crises nacionais destacou-se
pela sua fidelidade e
constância. Daí que as cores
da vila sejam o amarelo e o
preto, simbolizando, segundo
muitos, a fidelidade e a
firmeza do seu povo. Dos
monumentos e locais de
interesse de Portalegre
destacam-se a Sé Catedral
(séc. XVI), O Mosteiro de
São Bernardo (séc. XVI), o
Museu Municipal, a casa
Museu José Régio, o Museu de
Tapeçarias, Guy Fino, o
Castelo, e inúmeros Solares
Setecentistas.
Portalegre está inserido no
Parque Natural da Serra de
S. Mamede, que tem o seu
ponto mais alto a 1025
metros.
Alter do Chão – (Concelho de
Portalegre)

Fundada pelos romanos em 204
antes de Cristo, foi mais
tarde destruída pelo
imperador Adriano, por
rebelião dos seus
habitantes. Povoação muito
importante nesse tempo, pois
situava-se na Via
Lisboa-Mérida, chamando-se
então Elteri ou Eltori. D.
Afonso lll mandou
reconstruía-la em 1246 e
deu-lhe foral, renovado por
D. Dinis em 1293. O senhorio
da vila pertenceu a D. Nuno
Álvares Pereira, por doação
de D. João l.
A antiga Coudelaria Real foi
uma das instituições, talvez
a mais importante, a
contribuir para a divulgação
do nome de Alter do Chão.
Fundada nos fins do reinado
de D. João V, em 1748, por
iniciativa do príncipe D.
José, destinava-se a
fornecer cavalos de boa
qualidade produzidos em
Portugal. Iniciada a
produção com 40 éguas
andaluzes, depressa o número
de cabeças ultrapassou as
duas centenas. Daqui saiu o
cavalo “Gentil”, modelo do
cavalo da estátua de D. José
(Terreiro do Paço – Lisboa).
A raça conseguiu manter-se
pura até às Invasões
Francesas. Nessa época,
juntaram-lhe éguas
francesas, assim como
cavalos ingleses e alemães,
e a coudelaria entrou em
decadência. Diminuição da
corpulência e falta de ardor
assinalavam o enfraquecidos
da raça. Na tentativa de a
recuperar e pensando obter
cavalos de corrida,
utilizaram-se garanhões
árabes, o que tornou a
cabeça dos descendentes um
pouco mais pequena.
Nos fins do século XlX
voltaram a juntar-se cavalos
espanhóis, numa tentativa de
conseguir de novo
rusticidade e envergadura.
Já no século XX
reintroduziram-se cavalos
orientais, agora com a
intenção de se obterem
cavalos militares. Porém,
pela década de 1930, a raça
dos cavalos de Alter estava
praticamente extinta. Em
1942, a administração da
coudelaria, transformada em
estação pecuária, passou a
depender do Ministério da
Economia e, desde então, a
raça tem vindo a ser
reestruturada e aumentado o
número de cabeças.
Origem do nome:
«Xavier Fernandes em
Topónimos e Gentílicos
(1944): “A respeito desta
vila e sede de concelho do
distrito de Portalegre, em
Abril de 1935 aparecerem
anónimas as seguintes
referências: “ E assim
surgiu das ruínas da velha
Abeltéria a vila de Alter do
Chão, cujo nome dizem ser
corrupção do da antiga
cidade. Romana. Porém, como
desta surgiram duas vilas –
Alter do Chão e Alter
Pedroso – é mais provável
que o nome Alter venha do
adjectivo alter, que
significa um de dois ou uma
de duas partes, pois que
Alter do Chão é uma das duas
partes da cidade de
Abeltéria, sendo a outra
parte Alter Pedroso, hoje
pequena povoação anexa a
Alter do Chão, donde dista
três quilómetros. Do Chão é
a tradução portuguesa da
palavra latina planus,
porque desde remota data se
chamou Alter Planus a esta
parte mais plana da velha
cidade, em oposição à outra
parte, que, por ser mais
alta e pedragosa, se chamou
Alter Petrosus, Alter
Pedroso”.
A segunda parte destas
referências foi
criteriosamente contestada
pelo Dr. Artur Bívar, que
assim se manifestou: “Esta
etimologia (a que se diz
filiar o topónimo Alter no
adjectivo latino alter) não
tem probabilidade nenhuma.
Historicamente, não, por, se
a cidade esteve em ruínas
desde a destruição no tempo
do imperador Adriano até D.
Afonso ll a mandar
reedificar e povoar, ficando
então as duas povoações, era
latim de mais aquele
incorrupto Alter no século
Xlll. Nesse tempo, já o
alter latino nos tinha dado
foneticamente o nosso outro,
como em francês autre e em
italiano altro. E só ali que
teria ficado fixo, tal qual
era em latim, só com a
deslocação do acento para a
a última sílaba ? Além
disso, se no século Xlll a
primeira sílaba de alter
ainda não estivesse
alterada, estava-o
seguramente a segunda, na
linhagem comum, porque outro
saiu de alter pelo acusativo
alterum e, com a deslocação
do acento suposta, teria
dado Altero e não Altér. E
com quem concordaria, in
mente aquele adjectivo alter
? Com vila ? Então deveria
ser altera ou altera. Com
oppidum ? Então devia ser
altero ou altero”.
Efectivamente e perante tão
sensatos e fundamentados
embargos, tal suposto étimo
tem de ser abandonado. Alter
proveio sim, do locativo
Abelterii, cidade, através
das formas intermédias sim,
do locativo Abelterii,
cidade, através das formas
intermédias e pré-históricas
Avelteri e Aelter, como
mostrou Leite de
Vasconcelos”.
Alter do Chão
http://www.herancasdoalentejo.net
Conhecida na época romana
como Elteri, a existência da
vila de Alter do Chão
remonta a 204 DC. Como
testemunho desta era
ergue-se ainda hoje a ponte
de Vila Formosa (Monumento
Nacional), que ligava Alter
do Chão a Ponte de Sôr e
Chança. Em plena Idade
Média, no século XVI, a vila
ganhou prosperidade devido
aos têxteis. Grande parte
dos belos edifícios de Alter
do Chão são desta época. Já
o castelo da vila foi
construído dois séculos
antes, em 1359, pelo rei D.
Pedro, eterno amante de Dª.
Inês de Castro. Alberga hoje
uma galeria de arte e uma
biblioteca. A apenas 4
quilómetros a noroeste da
vila fica a afamada
Coudelaria de Alter do Chão,
numa herdade de 300
hectares. Foi em 1748 que o
rei D. João V da Casa de
Bragança fundou esta
instituições centenária, a
qual importou éguas da
Andaluzia de forma a
produzir cavalos de raça
Lusitana, hoje tão
apreciados em todo o mundo.
Alter do Chão
http://www.portugalweb.net/castelos/alentejo
Diz-se que Alter do Chão foi
fundada no ano 204 a.C.
quando estava povoada pelos
romanos. Uma prova disso é a
ponte romana de Vila
Formosa, elevado com seis
arcos ornamentados com
olhos, para evitar as
inundações. A ponte tem
cerca de 9 metros de altura
e 116 de comprimento, e
devido à sua, até hoje não
tem sofrido nenhuma
reparação. Posteriormente, a
vila seria destruida por
ordem do imperador Adriano
por se rebelar contra Roma.
No reinado de Dom Sancho II,
em 1232, é outorgado pelo
Bispo da Diócese da Guarda,
Dom Vicente, o Primeiro Foro
de Alter.
Mais tarde, em 1249, Dom
Afonso III concedeu o foro,
o qual foi renovado por Dom
Dinis e Dom Pedro I, em
1359, ano no qual foi
construido o castelo,
recebendo um novo foro no
ano de 1512 por Dom Manuel.
Foi senhor da povoação o
condestável Dom Nuno Álvarez
Pereira por doação de Dom
João I, figurando assim
Alter incorporada à Casa de
Bragança.
O seu famoso castelo, com
cinco torres e portal
gótico, foi construido em
1359, por Dom Pedro I. O seu
aspecto austero contrasta
com a colorida praça que
surge aos seus pés, o Largo
Doze Melhores de Alter,
enfeitado com flores.
A vila possui belas casas
dos séculos XVI e XVII (como
o elegante palácio do Álamo
que agora alberga o
Escritório de Turismo, uma
galeria de arte e uma
biblioteca), e as suas ruas
reflectem a vida tranquila
duma população, quase
enteiramente dedicada à
agricultura.
Mas Alter é sobretudo
conhecida pelo seu
Acavalherado, fundado em
1748 para produzir cavalos
de raça lusitana para a
Equitação Real. Estábulos de
aspecto atraente, exibidos
em branco e ocre do
Acavalherado Real, estão
rodeados por 300 hectares de
terra onde o famoso cavalo
lusitano Alter Real ainda
pode ser admirado.
O Acavalherado prosperou até
as invasões francesas (1807
- 15), e depois sofreu um
longo período de decadência;
anos de dedicação têm
contribuido para a sua
recuperação e a Escola
Portuguesa de Arte Eqüestre
está lá para demonstrar os
excelentes resultados
obtidos.
Em 1748, Dom João V
construiu o famoso
Acavalherado Real. Nele
encontram-se os famosos
cavalos de raça de Alter do
Chão, que são conhecidos em
qualquer lugar.
A região tem uma paisagem
invejável, onde abundam aves
como a Abetarda, o Sisão, o
Tartaranhão Caçador, o
Milhano Preto e a Cegonha
Branca.
Além de mais, estão os
vistosos conventos, fontes,
templos ou palácios, e
outros lugares como os
Jardins da Casa do Álamo,
edificada no século XVI,
cujos formosos silhares de
azulejos e a perfeição dos
tetos pintados, causam uma
grande admiração.
Devido à sua natureza rural,
Alter do Chão dedica-se
essencialmente à produção de
cereais e de cortiça.
http://castelosdeportugal.no.sapo.pt
Este magnifico e lindo
castelo parado no tempo
oferece-nos ainda hoje no
seu aspecto primevo todo um
conjunto de encantamentos.
Emergindo dum remoto
passado, em que avulta a
importância assumida como
cidade romana, de que se tem
achado numerosos testemunhos
materiais, e após ter
atravessado, em mal
conhecidos, termos de
decadência, os tempos das
dominações germânicas e
àrabe-berbere, Alter do Chão
entrou novamente na
história, e em marcha
ascensional, nos fins do
primeiro quartel do século
XIII, quando o domínio
português se firmou na
planície transtagana onde
assenta. Em 1249
concedeu-lhe D. Afonso III
um foral, que D. Dinis
confirmou em 1293. Porém, ao
contrario do que
repetidamente se tem
escrito, não foi esse
diploma que em primeira mão
concedeu aos moradores a
fruição de direitos e
liberdades municipais,
porquanto já bem antes, em
1232, o bispo eleito da
diocese de Idanha, mestre
Vicente, lhes conferira o
direito de se regerem por
foros e costumes análogos
aos de Abrantes, intentando
assim atrair povoadores.
Entre os fastos de
Alter do Chão, figura o
facto de ter feito parte da
ampla doação outorgada por
D. João I ao Condestável
Nuno Alvares, cujo glorioso
nome ficou desde então
vinculado à história desta
vila; mas outros podem ser
também memorados.
Embora não
propriamente fronteiriça,
pois situa-se e uns quarenta
quilómetros da fronteira, em
este-oeste, Alter do Chão
estava ligada a ela por
estradas medievais, que no
século XVI vieram a
inclui-la no transito de
Filipe I, quando nos começos
de 1581 esse primeiro
monarca da união dinástica
luso-castelhana marchou de
Elvas para Tomar, cidade
onde iam reunir-se as Cortes
que convocara, e em 1662 a
puseram infelizmente na
vitoriosa marcha das
invasoras tropas castelhanas
de D. João de Áustria, sendo
portanto possível que, ao
renascer para a vida
histórica, algum dos
primeiros monarcas
portugueses, contemporâneos
dos seus iniciais mas
promissores progressos,
empreendesse dota-la de
fortificações; disso porém
não há conhecimento, pois é
já dos começos do século XIV
o castelo que ainda
presentemente adorna, embora
já não em função de defesa,
a progressiva vila, e cuja
construção foi ordenada por
D. Pedro I em 22 de Setembro
de 1359, conforme se memora
numa lápide colocada sobre a
porte de entrada. Abre-se
esta numa das grandes cinco
torres que guarnecem os
cinco ângulos da muralha
irregularmente pentagonal, e
uma das quais é cilíndrica.
Todas as torres, bem como a
muralha, sobre a qual corre
o adarve, são ameadas.
Incluída Alter do
Chão nos bens da opulenta
Casa de Bragança, o seu
castelo serviu, como outros,
de prisão, no tempo de D.
Fernando II, sendo essa uma
das acusações que lhe foram
feitas na sentença que em
1483 o condenou a morte,
como conspirador contra a
pessoa do rei D, João II.
Incorporado nos
Bens Nacionais, o castelo
foi vendido em beneficio do
estado nos fins do século
XIX, passando a ser
propriedade particular,
Adquirido há anos pela
Fundação da Casa de
Bragança, esta instituição
fez beneficiar de restauro
as ruínas provenientes da
habitual acção do tempo,
coadjuvada pelo também
habitual descuido.
Presentemente bem pode
dizer-se que ele constitui,
não só honroso padrão da
fidelidade patriótica das
gentes de Alter da Chão, mas
também um interessante
exemplar das edificações
casteleiras trecentistas.
Na Coudelaria de Alter
garante-se a pureza do
cavalo lusitano, enquanto
que o Kartódromo de
Portalegre garante
divertimento e sensações
fortes.
Puro-sangue lusitanos
http://www.pousadasjuventude.pt/edicoes1/pousadas
A Coudelaria de Alter, em
Alter do Chão,
correspondente à antiga
Coudelaria Real, foi fundada
por D. João V em 1748, em
muito por influência da sua
mulher, D. Maria Ana de
Áustria, com o objectivo de
fornecer cavalos para a
Picaria Real. Esta
coudelaria nunca deixou de
funcionar, embora tenha
atravessado períodos algo
conturbados, e é hoje um
bastião de qualidade e a
garantia da continuidade do
cavalo lusitano, o Ferro
Alter Real. Existem visitas
guiadas ao complexo, que
incluem passagens pelas
cavalariças, pelos
picadeiros e pelo museu,
onde pode ver-se a exposição
“O Homem e o Cavalo - uma
relação milenar”, bem com
uma colecção incomparável de
coches e carruagens, arreios
e selas, entre muitos outros
objectos.
Os cavalos nascidos na
Coudelaria de Alter são
enviados para uma ilha no
rio Tejo, perto da Azambuja,
logo após o desmame, onde
vivem na mais completa
liberdade até aos três anos
de idade. Adquirir um
espécime de tamanha
qualidade não é tarefa
fácil. A importância dessa
troca comercial é de tal
ordem que só se pode
realizar durante um dia por
ano, a 24 de Abril, feriado
municipal em Alter do Chão
por se tratar do dia de S.
Marcos, e através de leilão
público, para evitar
favoritismos e tráfico de
influências, o que atesta
bem a favor da elevadíssima
procura existente.
Foi, aliás, um cavalo Alter
Real, o “Gentil”, o
escolhido pelo Marquês de
Marialva para servir de
modelo a Machado de Castro,
para a estátua equestre de
D. José I no Terreiro do
Paço, em Lisboa.
As características desta
raça enquanto Cavalo de Alta
Escola são exibidas pela
Escola Portuguesa de Arte
Equestre, cujas
apresentações ao público
decorrerem, regularmente, no
Palácio de Queluz. Na
Coudelaria de Alter funciona
ainda a Escola Profissional
Agrícola de Alter do Chão,
com os cursos de Técnico de
Gestão Cinegética e Técnico
de Gestão Equina.
Arronches – (Concelho do
Distrito de Portalegre)

Foi conquistada aos mouros
em 1166 por D. Afonso
Henriques e, reconquistada
por D. Sancho ll, que a doou
aos Cónegos Regrantes de
Santa Cruz de Coimbra.
Recebeu foral de D. Afonso
lll em 1255, confirmado em
1272. D. Manuel l
outorgou-lhe foral novo em
1512, renovado por D. Pedro
ll em 1678. Vários reis lhe
concederam privilégios e foi
em Arronches que se reuniram
as cortes que decidiram
sobre o casamento de D.
Afonso V, com D. Joana de
Castela.
As fundações da Igreja
Matriz são atribuídas a São
Teotónio, que teria lançado
a primeira pedra em 1236. O
templo sofreu, porém,
completa remodelação no
século XVl e a fachada
principal foi reerguida após
o terramoto de 1755.
Origem do nome:
«Do, “Dicionário Geográfico
– 1747”»: “Em latim Aruncis.
Dizem muitos ser fundada
pelo moradores de Aroche.
Vila na província de
Andaluzia, imperando Caio
Calígula, os quais lhe
puseram o nome da sua
pátria; e corre por
tradição, que depois lhe
chamaram Arronchela, como
também o diz Rodrigo Caro,
no seu livro das
Antiguidades de Sevilha”.
«Xavier Fernandes em
Topónimos e Gentílicos
(1944)»: “Tem-se afirmado
que esta vila e sede de
concelho do distrito de
Portalegre corresponde a uma
povoação que se chamou
Aruncis e Arronchela. É,
todavia, forçado explicar a
actual designação por
qualquer destes nomes, que
só dificuldade e talvez por
contaminação por qualquer
destes nomes justificariam a
forma Arronches. Por outro
lado, uma tradição local,
reproduzida por vários
autores, atribui a fundação
do antigo povoado aos
habitantes de Aroche (vila
da Andaluzia (Espanha),
tomada pelo rei português D.
Afonso lll), no tempo do
tristemente famigerado
imperador Caio Calígula.
Segundo alguns pretendem,
Arronches teria resultado da
transformação do nome da tal
vila espanhola, hipótese que
não perfilhamos por nos
parecer insustentável,
qualquer que seja o aspecto
sob que a consideremos”.
Arronches
http://portugalweb.net/castelos/alentejo
Dizem que deve ter sido uma
antiga povoação romana
edificada junto à ribeira de
Caia, fundada no tempo de
Caio Caligula, no ano I da
era de Cristã. D. Afonso
Henriques conquistou-a aos
Mouros em 1166, perdida de
novo, e recuperada por D.
Sancho II, em 1235. No
entanto, só em 1242, com a
reconquista de D. Paio Peres
Correia, ficou
definitivamente integrada
nos domínios portugueses. Na
altura do Interregno, foi a
vez dos castelhanos tomarem
Arronches, que viria a ser
reconquistada por D. Nuno
Álvares Pereira, em 1384.
No caso da vila de
Arronches, é utilizada a
designação de Fortaleza com
aqueles dois sentidos, se
assim o podemos entender. De
facto, todo o aglomerado
medieval se encontra no
interior da fortaleza e, é
delimitado pelo próprio
contorno da Fortificação
Abaluartada.
A Fortificação Abaluartada
pode ser definida como a
fortificação à defesa com
armas de fogo e que tem o
baluarte como elemento
caracterizante. Estão
ausentes os torreões, as
ameias e a torre de menagem
medieval.
A fortificação abaluartada,
que envolve o antigo
aglomerado medieval da vila
de Arronches, não apresenta
o seu perímetro amuralhado
completo. Em algumas zonas
desapareceu uma vez que,
muitas casas, foram
construídas aproveitando a
própria estrutura da
muralha.
No que diz respeito à
técnica de construção, os
troços de muralha existentes
permitem-nos perceber que
foi utilizada a técnica da
"pedra seca", isto é, as
pedras encontram-se
aparelhadas umas ás outras
sem o recurso a argamassas
de ligação. No entanto, em
determinados pontos dos
troços de muralha
existentes, verifica-se que
foi aplicado o cimento, como
forma de preservação
A fortificação abaluartada
que circunda a vila de
Arronches necessita de
urgente plano de recuperação
e de valorização para que
não se vá perdendo a memória
de um passado onde a própria
vila é protagonista
Em 1661, a vila sofreu a
invasão de D. João de
Áustria, para ser abandonada
pelos espanhóis à
aproximação do exército
português. Em 1712, cercada
de novo pelos castelhanos,
conseguiu vencê-los,
rendendo-se estes à primeira
investida das nossas forças.
Arronches teve forais dados
em 1255 por D. Afonso III,
confirmado pelo mesmo
monarca, em 1272, em 1512
por D. Manuel I, e em 1678
por D. Pedro II, sendo este
último diploma um "foral
novíssimo", concessão de que
poucas povoações usufruíram.
Esta importância de
Arronches já tinha ficado
demonstrada em 1475, quando
D. Afonso V aqui reuniu
cortes para tratar do seu
casamento com a princesa
espanhola D. Joana. E antes
ainda, quando D. Afonso IV e
D. João I concederam
notórios privilégios á vila.
Arronches foi uma importante
praça de armas, com um
castelo restaurado por D.
Dinis em 1310. A fortaleza
tida em grande conta pelos
nossos monarcas, pelo que
Luís de Camões, em várias
estâncias de "Os Lusíadas",
se refere, justamente, à
"forte Arronches".
Lenda da Pedra da Moura
http://www.eb1-arronches.rcts.pt
Um pouco mais abaixo do
sitio onde a ribeira de
Arronches se junta com o rio
Caia , fica uma grande
pedra, chamada a pedra da
Moura . É assim chamada
porque se conta que nela
está uma moura encantada.
Vivia aqui um rei mouro ,
pai de uma linda princesa
que deveria casar-se com um
nobre cavaleiro escolhido
pelo pai , mas a princesa
não queria porque estava
apaixonada por um príncipe
mouro que andava em guerra .
O pai, furioso, encantou-a
naquela pedra. E conta-se
que na noite de S. João, a
princesa moura se senta na
pedra a cantar lindas
canções dedicadas ao seu
jovem guerreiro.
E diz-se que quem passar
nessa noite junto da pedra,
fica encantado, também.
Ninguém acredita nesta
lenda, mas o que é certo é
que ninguém se atreve a
passar por lá na noite de S.
João.
Lenda contada pela
Professora Júlia.
Avis – (Concelho do Distrito
de Portalegre)

Antiga sede da Ordem Militar
de São Bento de Avis, a sua
fundação remonta ao reinado
de D. Afonso ll, carta de
1211. Foi fundada por D.
Fernão Anes, mestre da ordem
militar que a partir de
então se passou a chamar de
Avis. Conta a tradição que o
castelo foi edificado em
segredo, para que os mouros
vizinhos o não notassem, os
cavaleiros construíam de
noite e pela manhã tapavam
com ramos o que já tinham
feito. Só quando os muros
atingiram altura suficiente
para os defender é que
começaram a trabalhar
livremente, perante os muito
surpreendidos mouros.
Origem do nome:
«Xavier Fernandes em
Topónimos e Gentílicos
(1944)»: “O topónimo não foi
tirado da designação
posterior da Ordem de
Calatrava, fundada pelos
monges de Cister, mas, pelo
contrário, a referida Ordem
é que tomou o nome de Avis
por lhe ter sido doado este
lugar por D. Afonso ll, em
1211 notando-se que o
respectivo castelo foi
construído no tempo deste
mesmo rei, sendo-lhe
posterior a fundação da
vila”.
Avis
http://www.associacaogente.pt
Segundo Armando de Sousa
Pereira, existem provas que
demonstram que o lugar de "Abis"
já existia antes da fundação
de Portugal (seria uma
aldeia berbere que se
dedicava à agro -
pastorícia). Os topónimos:
Rua da Mesquita, Rua da
Moraria; Travessa da
Moraria..., segundo este,
comprovam a ocupação
muçulmana aquando da doação
de Afonso II do lugar de "Abis"
à Ordem de S. Bento (ou
freires de Évora) no ano de
1211.
A Ordem, que após a doação
de Afonso II se passou a
chamar de Avis, alargou os
seus poderes territoriais no
Norte Alentejano, a partes
do Ribatejo (por exemplo,
Coruche) e a algumas áreas
do Sul (como Barrancos).
A ligação da Ordem de Avis à
Coroa de Portugal no século
XIV, com a nomeação do filho
bastardo de D. Pedro I, D.
João para Mestre da Ordem,
vai associar o nome de Avis
à segunda dinastia que
reinou dos séculos XIV a XVI.
Entretanto, com a perda de
importância das Ordens
Militares, Avis deixa de ter
relevo no contexto nacional,
ficando como memórias desses
tempos áureos, um conjunto
monumental que, constitui
hoje a maior parte do seu
centro histórico .
Já nos séculos XIX e XX,
surgem no contexto da
política nacional, algumas
figuras locais de
importância (embora
relativa): José Paes de
Vasconcellos Abrantes,
deputado pelo Partido
Progressista e Jaime Pimenta
Prezado, deputado pela União
Nacional.
Ainda, nas décadas de
setenta e oitenta do século
passado, o envolvimento
social e político de boa
parte da população de Avis
no processo da reforma
agrária, voltaria a trazer á
tona o nome desta
localidade. Uma das figuras
de maior relevância ( não só
no Alentejo, mas também a
nível nacional) no
desenrolar deste processo,
seria o então principal
responsável pela Cooperativa
Primeiro de Maio, José Luís
Correia da Silva.
Chancelaria das ORDENS
HONORÍFICAS PORTUGUESAS
ANTIGAS ORDENS MILITARES
Ordem de Avis
História
http://www.ordens.presidencia.pt
Tem origem na antiga Ordem
Militar de S. Bento de Aviz,
cuja fundação, por seu
turno, está ainda envolta em
lendas, tendentes a
demonstrar uma maior
antiguidade que a da Ordem
Militar de Calatrava, a cuja
observância se cingiu a
partir do final do século
XIII.
É, porém, opinião dominante
entre os autores modernos,
que a antiga ordem militar
de Avis terá tido origem
numa confraria de cavaleiros
criada por, ou sob a
protecção de D. Afonso
Henriques, em data posterior
à conquista de Évora em
1166, por Geraldo o «Sem-Pavor»,
entre os anos 1174-1175,
tendo por finalidade
assegurar a defesa da cidade
contra as investidas dos
mouros.
Cerca de 1187, teria
recebido os estatutos e
ter-se-ia submetido à
obediência da ordem
castelhana de Calatrava,
tendo assim passado a ser
conhecida com a Milícia de
Évora da Ordem de Calatrava
até que, cerca de 1223-24,
tendo-se os freires de Évora
mudado para Avis, sob o
mestrado de Fernão Rodrigues
Monteiro, passaram a ser
conhecidos como Ordem
Militar de Avis.
Em 4 de Janeiro de 1551,
culminando um longo processo
de crescente sujeição ao
poder régio, o Papa Júlio
III, acedendo ao pedido do
rei D. João III, concedeu in
perpetuum a união dos
mestrados das 3 ordens
militares à Coroa de
Portugal, pela Bula
Praeclara cahrissimi.
Reformada em 1789, pela
rainha D. Maria I, a ordem
enquanto ordem
monástico-militar, com dupla
sujeição ao Papa e ao rei de
Portugal seu Administrador,
viria a ser extinta em 1834,
continuando como ordem
honorífica na sequência da
entrada em vigor da Carta
Constitucional.
Reformada em 1894, viria a
ser extinta, em 1910,
conjuntamente com as
restantes ordens honoríficas
da Monarquia derrubada pela
Revolução de 5 de Outubro.
Em 1918, sob o consulado
sidonista foi restabelecida
como ordem honorífica, tendo
como grão-mestre o
Presidente da República.
Esta ordem tem 5 graus,
ordenados por ordem
ascendente:
Cavaleiro ou Dama;
Oficial;
Comendador;
Grande-Oficial;
Grã-Cruz.
2006 © Chancelaria .
Presidência da República
Mestre de Avis (mais tarde
D. João l)
http://www.aac.uc.pt
Em 1357: Nasce D. João,
filho bastardo de D. Pedro I
- 1363: Apenas com 6 anos, é
agraciado com o Mestrado de
Avis. - Em 1383: D. João
mata o Conde de Andeiro,
valido de D. Leonor Teles,
viúva do Rei D. Fernando
(meio-irmão de D. João) e
que se prepara para entregar
o trono português ao Rei de
Espanha; D. João, Mestre de
Avis, é nomeado regente e
defensor do Reino. - 1384:
D. Nuno Álvares Pereira
derrota os castelhanos na
batalha de Atoleiros. -
1385: D. João é aclamado Rei
nas Cortes de Coimbra, dando
início à segunda dinastia
portuguesa, dita de Avis;
com o Condestável D. Nuno
Álvares Pereira, em
Aljubarrota arrasa as
pretensões castelhanas à
Coroa portuguesa; para
comemorar a vitória, manda
edificar o Mosteiro da
Batalha. - 1386: Inicia a
unificação interna do país,
tentando sempre o equilíbrio
das Finanças da Coroa;
tentando sempre o equilíbrio
entre os interesses da
nobreza e da burguesia
comercial; firma a aliança
anglo-portuguesa que ainda
hoje vigora - 1387: Casa com
D. Filipa de Lencastre -
1415: Participa na tomada de
Ceuta, iniciando assim a
expansão ultramarina
portuguesa. Escreverá depois
O Livro da Montaria. - 1433:
Morte de D. João I, Mestre
de Avis.
Campo Maior – (Concelho do
Distrito de Portalegre)

Povoação de origens romanas,
foi conquistada aos mouros,
em 1219, pelos Peres de
Badajoz e integrada na Coroa
Portuguesa, em 1297, pelo
Tratado de Alcanizes.
Origem do nome:
«Do, “Arquivo Histórico de
Portugal – 1890”»: “Reinado
de D. Dinis passou a vila à
posse da Coroa Portuguesa,
dando-lhe logo o monarca
foral, que tem a data de
1219, ordenando que no ponto
mais alto se edificasse um
castelo, que se tornou uma
das praças destinadas à
defesa da Fronteira. Dessa
construção lhe resultou o
nome que usa.
Era costume e apenas
construída uma fortaleza,
edificarem-se muitas
habitações em torno das
muralhas; os povos
procuravam este abrigo por
causa das continuas lutas em
que andavam empenhados, uma
vezes com vizinhos, outras
com árabes. Havendo questão
sobre o lado para onde mais
convinha estender a
povoação, decidiu-se que
fosse “campo maior”, o que
se levou a efeito; ficando
este nome para o novo
bairro, passou daí a toda a
vila”.
«Sobre Campo Maior (Ensaio)
– inserto em Brados do
Alentejo – 1932»: “Dizem os
doutos que nenhum
historiador nos fala do
princípio da fundação de
Campo Maior, nem no que
respeita ao tempo da sua
existência, geográfica e
política. Todavia, como
distante da vila há uma
ermida chamada de São Pedro,
junto da qual se descobrem
vestígios de alicerces e
edifícios que, segundo conta
a tradição, são restos
dalguma fortaleza romana,
podemos inferir que é remota
a sua origem.
De resto deixado pelos
mouros, encontram-se
referências nos escritores
que afirmam ter sido a vila
conquistada à gente do
profeta (árabes) por Peres
de Badajoz, no ano de 1219.
Aparecem apenas algumas
vagas notícias, de modo como
se originou e formou o seu
nome.
Diz a lenda que “pretendendo
algumas famílias que viviam
separadas e dispersas pelos
campos, para sua maior
segurança, uniu-se e formar
povoações alguns dos seus
chefes ou cabeças, tendo
convencionado buscar
terrenos acomodados aos seus
dirigidos, partindo de seus
rústicos lares com este
destino e nesta diligência,
um deles que havia seguido
caminho diferente, começou a
gritar pelos companheiros
chamando-os e dizendo-lhes:
aqui é o campo maior.
Acudiram os companheiros e
achando lugar próprio para
seus intentos, nele fixaram
as suas moradas, dando
princípio à povoação que
tomou o nome por que fora
designado o terreno”.
«Xavier Fernandes em
Topónimos e Gentílicos
(1944)»: “ O primeiro
elemento, Campo, é
vulgaríssimo na nossa
toponímia; encontram-se às
dezenas freguesias e simples
lugarejos com igual
designação. O segundo
elemento, é o conhecidíssimo
adjectivo maior, de origem
latina”.
Campo Maior
http://www.jornalfontenova.com
A origem do nome de Campo
Maior conta com várias
lendas e uma delas diz que a
povoação foi fundada por
vários chefes de família que
viviam dispersos no campo e
resolveram agrupar-se para
uma maior protecção.
Descobrindo um espaço
aberto, um diz para os
outros: "Aqui o campo é
maior". A mesma história é
contada de outra forma,
tendo como pretexto a
procura de um local para a
construção de um castelo.
Vestígios de proveniência
diversa, como por exemplo o
povoado pré-histórico de
Santa Vitória permitem
concluir que o actual
território do concelho de
Campo Maior foi habitado
desde há vários milhares de
anos.
Certamente foi uma Povoação
Romana, dominada por Mouros
durante meio milénio e
conquistada por cavaleiros
cristãos da família Pérez de
Badajoz em 1219, que
posteriormente ofereceram a
aldeia pertencente ao
concelho de Badajoz à Igreja
de Santa Maria do Castelo.
Em 31 de Maio de 1255, D.
Afonso X, rei de Leão,
eleva-a a Vila.
O Senhor da Vila, o Bispo D.
Frei Pedro Pérez concede, em
1260, o primeiro foral aos
seus moradores assim como o
seguinte brasão de armas :
Nossa Senhora com um
cordeiro, e a legenda "Sigillum
Capituli Pacensis".
Em 31 de Maio de 1297,
através do Tratado de Paz de
Alcanizes assinado em
Castela por D. Fernando IV,
rei de Leão e Castela e D.
Dinis, passa a fazer parte
de Portugal, juntamente com
Olivença e Ouguela.
Campo Maior vai pertencer
sucessivamente a D. Branca,
irmã de D. Dinis, em 1301; a
D. Afonso Sanches, filho
ilegítimo do mesmo rei, em
1312, e novamente ao rei D.
Dinis em 1318.
O seu castelo que se ergue a
leste da vila foi
reedificado por D. Dinis em
1310, e foi no século XVII e
XVIII que se levantaram
fortificações tornando Campo
Maior numa importante praça
forte de Portugal.
Como reflexo da influência
castelhana em Campo Maior,
durante a Revolução de
1383-85, a guarnição militar
e os habitantes da vila
colocam-se ao lado do rei de
Castela, tornando-se
necessário que o Rei D. João
I de Portugal e D. Nuno
Álvares Pereira se desloquem
propositadamente ao Alentejo
com os seus exércitos para a
cercarem durante mais de um
mês e meio e ocuparem pela
força, em fins de 1388.
D. João II deu-lhe novo
brasão: um escudo branco,
tendo as armas de Portugal
de um lado, e de outro S.
João Baptista, patrono da
vila.
Em 1512, o rei D. Manuel I
concede foral à vila de
Campo Maior.
Desde os fins do Século XV,
muitos dos perseguidos pela
Inquisição em Castela
refugiam-se em Portugal. A
população de Campo Maior vai
aumentar substancialmente à
custa da fixação de
residência de muitos desses
foragidos.
A comunidade judaica ou
rotulada como tal era tão
numerosa na vila no século
XVI que nas listas dos
apresentados em autos de fé
realizados em Évora pela
Inquisição, Campo Maior
aparece entre as terras do
Alentejo com maior número de
acusados de judaísmo.
A guerra com Castela a
partir de 1640 vai produzir
as primeiras grandes
transformações. A
necessidade de fortificar a
vila que durante os três
últimos séculos se
desenvolvera acentuadamente
para fora da cerca medieval,
a urgência em construir uma
nova cintura amuralhada para
defesa dos moradores da vila
nova dos ataques dos
exércitos castelhanos, vai
obrigar o rei a enviar
quantias avultadas em
dinheiro, engenheiros
militares, operários
especializados e empregar um
numeroso contingente de
pessoal não qualificado. Os
contingentes militares são
então numerosos. Calcula-se
que na segunda metade do
século XVII, em cada quatro
pessoas residentes na vila,
uma era militar. Campo Maior
foi, durante algum tempo
quartel principal das tropas
mercenárias holandesas
destacadas para o Alentejo.
A vila torna-se naquele
tempo o mais importante
centro militar do Alentejo,
depois de Elvas.
Em 1712, o Castelo de Campo
Maior vê-se cercado por um
grande exército espanhol
comandado pelo Marquês de
Bay, o qual durante 36 dias
lança sobre a vila toneladas
de bombas e metralha, tendo
conseguido abrir uma brecha
num dos baluartes. O invasor
ao pretender entrar por aí,
sofre pesadas baixas que o
obrigam a levantar o cerco.
No dia 16 de Setembro de
1732, pelas três da manhã,
uma violenta trovoada
abate-se sobre a vila e o
paiol, contendo 6000 arrobas
de pólvora e 5000 munições,
situado na torre grande do
castelo é atingido por um
raio, desencadeando-se de
imediato uma violenta
explosão e um incêndio que
arrastou consigo cerca de
dois terços da população.
D. João V determina a rápida
reconstrução do castelo. A
vila vai erguer-se
lentamente das ruínas e aos
poucos refazer-se para
voltar a ocupar o lugar de
primeira linha nos momentos
de guerra e de local de
trocas comerciais e
relacionamento pacífico com
os povos vizinhos de
Espanha, nos tempos de paz.
No século XVIII termina a
construção das actuais
Igrejas da Misericórdia e da
Matriz, e lança-se a
primeira pedra para a
fundação da Igreja de S.
João. A vila que até então
só tivera uma freguesia
urbana é dividida nas duas
actuais, Nossa Senhora da
Expectação e São João
Baptista, em 1766.
Os primeiros anos do século
XIX são em Campo Maior de
grande agitação. Um cerco,
em 1801, pelos espanhóis, e
uma revolução local, em
1808, contra os franceses
que então invadiram Portugal
o comprovam.
A sublevação campomaiorense
contra a ocupação
napoleónica vai sair
vitoriosa devido ao apoio do
exército de Badajoz que
permanece na vila durante
cerca de três anos.
Em 1811 surge uma nova
invasão francesa que fez um
cerco cerrado durante um mês
à vila, obrigando-a a
capitular. Mas a sua
resistência foi tal que deu
tempo a que chegassem os
reforços luso-britânicos sob
o comando de Beresford, que
põe os franceses em
debandada, tendo então a
vila ganho o título de Vila
Leal e Valorosa, título este
presente no actual brasão de
Campo Maior.
As lutas entre liberais e
absolutistas em Campo Maior
são também acontecimentos
assinaláveis.
A «cólera morbis» mata, em
1865, durante cerca de dois
meses e meio, uma média de
duas pessoas por dia.
Em 1867, tentam extinguir
Campo Maior como sede de
concelho, agregando-lhe
Ouguela e anexando-o ao
concelho de Elvas. Tal
decisão provoca um
levantamento colectivo da
povoação, que em 13 de
Dezembro, entre numa
verdadeira greve geral. A
Rua da Canada deve o seu
topónimo ao facto de ser
palco de alguns confrontos
neste contexto.
O concelho é definitivamente
acrescido da sua única
freguesia rural, em 1926 -
Nossa Senhora dos Degolados.
Num percurso por Campo Maior
e envolvência não se pode
perder a visita atenta a
algumas ruas com exemplo
notáveis da arquitectura
civil, nomeadamente dos
séc.s XVII e XVIII, em
particular nos seus
trabalhos em ferro forjado.
Depois o castelo, o
pelourinho, o Palácio do
Visconde de Olivã e seus
jardins, a Igreja matriz, a
de S. João Baptista, a do
Senhor dos Aflitos, a Capela
dos Ossos, o Museu de Arte
Sacra, a Igreja e Convento
de Santo António, a Igreja
da Misericórdia, a Casa do
Assento, as portas da Vila
(Santa Maria), a aldeia
histórica de Ouguela, o seu
castelo e a Igreja Matriz, o
santuário de Nossa Senhora
da Enxara, o rio Xévora, São
Joãozinho, o povoado
pré-histórico de Santa
Vitória, as barragens do
Caia e de Abrilongo, o Museu
do Café ou a Igreja de
Degolados são pontos de um
roteiro a não perder.
Campo Maior
http://www.cm-campo-maior.pt
Origem do nome: A lenda diz
que a povoação foi fundada
por vários chefes de família
que viviam dispersos no
campo e resolveram
agrupar-se para uma maior
protecção. Descobrindo um
espaço aberto, um diz para
os outros: "Aqui o campo é
maior".Vestígios de
proveniência diversa
permitem concluir que o
actual território do
concelho de Campo Maior foi
habitado desde a época
Pré-Histórica.
Certamente foi uma Povoação
Romana, dominada por Mouros
durante meio milénio e
conquistada por cavaleiros
cristãos da família Pérez de
Badajoz em 1219, que
posteriormente ofereceram a
aldeia pertencente ao
concelho de Badajoz à Igreja
de Santa Maria do Castelo.
Em 31 de Maio de 1255, D.
Afonso X, rei de Leão,
eleva-a a Vila.
O Senhor da Vila, o Bispo D.
Frei Pedro Pérez concede, em
1260, o primeiro foral aos
seus moradores assim como o
seguinte brasão de armas :
N. Sr.ª com um cordeiro, e a
legenda “Sigillum Capituli
Pacensis”.
Em 31 de Maio de 1297,
através do Tratado de Paz de
Alcanizes assinado em
Castela por D. Fernando IV,
rei de Leão e Castela e D.
Dinis, passa a fazer parte
de Portugal, juntamente com
Olivença e Ouguela.
Campo Maior vai pertencer
sucessivamente a D. Branca,
irmã de D. Dinis, em 1301 ;
a D. Afonso Sanches, filho
ilegítimo do mesmo rei, em
1312 ; e novamente ao rei D.
Dinis em 1318.
O seu castelo que se ergue a
leste da vila foi
reedificado por D. Dinis em
1310, e foi no século XVII e
XVIII que se levantaram
fortificações tornando Campo
Maior numa importante praça
forte de Portugal.
Como reflexo da influência
castelhana em Campo Maior,
durante a Revolução de
1383-85, a guarnição militar
e os habitantes da vila
colocam-se ao lado do rei de
Castela, tornando-se
necessário que o Rei D. João
I de Portugal e D. Nuno
Álvares Pereira se desloquem
propositadamente ao Alentejo
com os seus exércitos para a
cercarem durante mais de um
mês e meio e ocuparem pela
força, em fins de 1388.
D. João II deu-lhe novo
brasão: um escudo branco,
tendo as armas de Portugal
de um lado, e de outro S.
João Baptista, patrono da
vila.
Em 1512, o rei D. Manuel I
concede foral à vila de
Campo Maior.
Desde os fins do Século XV,
muitos dos perseguidos pela
Inquisição em Castela
refugiam-se em Portugal. A
população de Campo Maior vai
aumentar substancialmente à
custa da fixação de
residência de muitos desses
foragidos.
A comunidade judaica ou
rotulada como tal era tão
numerosa na vila no Século
XVI que nas listas dos
apresentados em autos de fé
realizados em Évora pela
Inquisição, Campo Maior
aparece entre as terras do
Alentejo com maior número de
acusados de judaísmo.
A guerra com Castela a
partir de 1640 vai produzir
as primeiras grandes
transformações.
A necessidade de fortificar
a vila que durante os três
últimos séculos se
desenvolvera acentuadamente
para fora da cerca medieval,
a urgência em construir uma
nova cintura amuralhada para
defesa dos moradores da vila
nova dos ataques dos
exércitos castelhanos, vai
obrigar o rei a enviar
quantias avultadas em
dinheiro, engenheiros
militares, operários
especializados e empregar um
numeroso contingente de
pessoal não qualificado. Os
contingentes militares são
então numerosos. Calcula-se
que na Segunda metade do
Século XVII, em cada quatro
pessoas residentes na vila,
uma era militar. Campo Maior
foi, durante algum tempo
quartel principal das tropas
mercenárias holandesas
destacadas para o Alentejo.
A vila torna-se naquele
tempo o mais importante
centro militar do Alentejo,
depois de Elvas.
Em 1712, o Castelo de Campo
Maior vê-se cercado por um
grande exército espanhol
comandado pelo Marquês de
Bay, o qual durante 36 dias
lança sobre a vila toneladas
de bombas e metralha, tendo
conseguido abrir uma brecha
num dos baluartes; o invasor
ao pretender entrar por aí,
sofre pesadas baixas que o
obrigam a levantar o cerco.
No dia 16 de Setembro de
1732, pelas três da manhã,
desencadeia uma violenta
trovoada, o paiol, contendo
6000 arrobas de pólvora e
5000 munições, situado na
torre grande do castelo é
atingido por um raio,
desencadeando de imediato
uma violenta explosão e um
incêndio que arrastou
consigo cerca de dois terços
da população.
D. João V determina a rápida
reconstrução do castelo. A
vila vai erguer-se
lentamente das ruínas e aos
poucos refazer-se para
voltar a ocupar o lugar de
primeira linha nos momentos
de guerra e de local de
trocas comerciais e
relacionamento pacífico com
os povos vizinhos de
Espanha, nos tempos de paz.
No Século XVIII termina a
construção das actuais
Igrejas da Misericórdia e da
Matriz, e lança-se a
primeira pedra para a
fundação da Igreja de S.
João. A vila que até então
só tivera uma freguesia
urbana é dividida nas duas
actuais, Nossa Senhora da
Expectação e São João
Baptista, em 1766.
Os primeiros anos do Século
XIX são em Campo Maior de
grande agitação. Um cerco,
em 1801, pelos espanhóis e
uma revolução local, em
1808, contra os franceses
que então invadiram Portugal
o comprovam.
A sublevação campomaiorense
contra a ocupação
napoleónica vai sair
vitoriosa devido ao apoio do
exército de Badajoz que
permanece na vila durante
cerca de três anos.
Em 1811 surge uma nova
invasão francesa que fez um
cerco cerrado durante um mês
à vila, obrigando-a a
capitular. Mas a sua
resistência foi tal que deu
tempo a que chegassem os
reforços luso-britânicos sob
o comando de Beresford, que
põe os franceses em
debandada, tendo então a
vila ganho o título de Vila
Leal e Valorosa, título este
presente no actual brasão da
vila.
As lutas entre liberais e
absolutistas em Campo Maior
são também acontecimentos
assinaláveis.
A «cólera morbis» mata, em
1865, durante cerca de dois
meses e meio, uma média de
duas pessoas por dia.
Em 1867, tentam extinguir
Campo Maior como sede de
concelho, agregando-lhe
Ouguela e anexando-o ao
concelho de Elvas. Tal
decisão provoca um
levantamento colectivo da
povoação, que em 13 de
Dezembro, entre numa
verdadeira greve geral.
O concelho é definitivamente
acrescido da sua única
freguesia rural, em 1926 –
Nossa Senhora dos Degolados.
Campo Maior
http://artedeopinar.weblog.com.pt
Remonta à origem dos tempos
a presença humana no
território onde hoje se
situa o concelho de Campo
Maior.
Diversas evidências
comprovam este facto, desde
cerâmicas, moedas,
inscrições, até mesmo
machados de pedra
encontrados ao longo dos
tempos e que vêm revelar uma
existência desde as épocas
mais recuadas.
Porém muito pouco se sabe
desses tempos,
desconhecimento que se
estende até ao fim da
presença Muçulmana em Campo
Maior, em meados do Séc.
XIII. Foi nesta altura, mais
precisamente em 1219, em
pleno reinado de Afonso IX,
Rei de Leão, que a então
aldeia de Campo Maior foi
conquistada aos mouros por
uma família do então
concelho de Badajoz, a
família Peres.
Mais tarde, por volta de
1255, esta localidade, por
determinação de Afonso X,
rei de Leão, foi doada á
igreja de Santa Maria de
Castela de Badajoz, da qual
era na altura bispo D.Fr.
Pedro Peres pertencente este
também á família já
referida. Ainda em 31 de
Maio desse mesmo ano é
elevada a vila pelo rei
Afonso X.
Em 1297 Campo Maior,
conjuntamente com Elvas e
Olivença, passa a pertencer
à coroa Portuguesa por troca
com outras povoações, no
denominado tratado de
Alcanizes, firmado pelo rei
de Leão e Castela D.Fernando
IV e el-rei de Portugal
D.Diniz. É-lhe então
conferido por D.Diniz o
título de vila portuguesa e
um foral com inúmeros
privilégios, por volta do
ano de 1309. Em 1310 é
mandado reedificar o castelo
e amplia-lo, tornando Campo
Maior numa das maiores
fortalezas portuguesas.
No Séc. XV a vila crescia já
para lá das muralhas. A Rua
Direita, fora das muralhas,
já existia em 1483, e por
volta de 1500 a maior parte
dos terrenos onde se
encontram actualmente a Rua
da Soalheira, a Rua
Quebra-Costas, a Rua do
Poço, a Rua da Paterna, a
Rua Direita e a Rua da
Estalagem Velha já estavam
ocupadas com habitações.
Em 1512 através da carta de
foral concedida por D.Manuel,
a vila é incorporada no
património da coroa com o
privilégio de não lhe ser
possível sair dela, de modo
a assegurar a sua fidelidade
ao Rei de Portugal.
Anos mais tarde uma epidemia
de peste abate-se sobre
Campo Maior, obrigando a
população a abandonar a vila
e a refugiar-se num local a
que ainda hoje se chama
Choças.
No Séc. XVI, já se
encontravam habitações para
lá dos Cantos de Baixo em
direcção à Avenida. A rua de
São Pedro já existia em 1530
e a então denominada Rua da
Canada em 1561.
Os séculos que se seguem
irão ser de Guerras,
tragédias e profundas
alterações na vila de Campo
Maior.
Em 1640, devido à guerra com
Castela e ao crescimento
desmesurado da vila para lá
das muralhas, surge a
necessidade de uma nova
fortificação, com cerca de 4
Km de perímetro, para defesa
das habitações destas novas
ruas. Manda então El rei
João IV para Campo Maior
elevadas somas de dinheiro,
assim como engenheiros
militares e operários
especializados, dando também
emprego a numerosas pessoas
da vila no trabalho de
edificação das novas
muralhas "à francesa". É
nesta altura grande o
contingente militar situado
em Campo Maior. Calcula-se
que uma em cada quatro
pessoas residentes na vila
era militar.
Em 1712 a vila é sitiada
tendo sido destruída grande
parte das muralhas, mas
tendo resistido heroicamente
a brava população.
Em meados do ano de 1732 uma
nova desgraça se abate sobre
a vila. Desta vez uma
trovoada faz cair um raio
numa das torres do castelo,
torre esta que servia de
paiol, funcionando como uma
bomba. A explosão e incêndio
que se seguiram dizimam 2/3
da população da vila. D João
V ordena a reconstrução do
Castelo por forma a evitar
invasões espanholas, ficando
este de dimensões mais
reduzidas.
A vila erguer-se-á
lentamente das ruínas para
voltar a ocupar um local de
destaque nos momentos de
guerra.
No Séc. XVII é terminada a
construção da igreja da
Matriz e Misericórdia.
Dois séculos mais tarde, ou
seja em pleno século XIX,
Campo Maior é cercada
primeiro pelos espanhóis, em
1801, e depois pelos
Franceses, em 1811,
resistindo com bravura.
É nesta altura e como
resultado das lutas internas
em Espanha, que Carlistas e
Republicanos se refugiam em
Campo Maior entre 1834 e
1873.
Por volta de 1858 é
inaugurado o actual
cemitério.
Em 1859 os três últimos
condenados à morte são
executados no pelourinho da
vila e sete anos mais tarde
são mandadas calcetar as
ruas de S.Pedro e das
Pereiras. No ano seguinte é
inaugurada a Ermida de
S.Joãozinho. É nesse mesmo
ano que se realizam os
primeiros bailes de máscaras
no Teatro do Castelo.
Em 1867 é feita uma
tentativa de extinção de
Campo Maior enquanto
concelho, tentando agregar
este e Ouguela ao concelho
de Elvas. Esta decisão
provoca um protesto
colectivo por parte da
população e em 13 de
Dezembro desse mesmo ano a
vila entra numa greve geral,
sendo relembrado este dia
pela mudança do nome da Rua
da Canada para Rua 13 de
Dezembro.
Quatro anos mais tarde a
Câmara Municipal divide a
defesa da Godinha em porções
de cinco alqueires que
sorteia e entrega a mais de
1300 chefes de família. Em
1881 é inaugurada a praça de
touros de Nª Sr. da Enxara.
A partir de 1926 com o
Estado Novo, é que Campo
Maior fica definitivamente
sede de concelho, englobando
a freguesia de Degolados.
Castelo de Vide – (Concelho
do Distrito de Portalegre)

A região de Castelo de Vide
foi povoada em épocas
remotas, o que é comprovado
pela existência de núcleos
dolménicos nos arredores,
alguns classificados de
monumentos nacionais. Nesta
povoação recebeu D. Dinis os
embaixadores de Aragão
quando das negociações para
o seu casamento com D.
Isabel, mais tarde
cognominada Rainha Santa.
Este monarca concedeu-lhe
foral em 1310 e D. Manuel l
outorgou-lhe foral novo em
1512.
Origem do nome:
«Xavier Fernandes em
Topónimos e Gentílicos
(1944)»: “ Leite de
Vasconcelos, sábio mestre
que foi a nossa primeira
autoridade nestes assuntos,
escreveu uma nota no
semanário de Estremoz
“Brados do Alentejo”, de 20
de Outubro de 1940. O mestre
disse o bastante para
excluir as duas últimas
versões, mas, se quisesse,
podia ter dito mais alguma
coisa, pois considerar o
último elemento componente
de Castelo de Vide como
sendo o imperativo de videre
é disparate que não resiste
a dois minutos de análise,
senão vejamos:
1ª – Seria então um
hibridismo toponímico – caso
único em topónimos
portugueses – composto por
justaposição;
2ª – Equivaleria
semanticamente a Castelo de
Vê (tu), expressão que
brigaria, não apenas com as
leis morfológicas dos
compostos, mas com a sintaxe
e até com a lógica, o que
mostra que este segundo
embargo pode desdobrar-se em
três.
Logo a 3ª versão não é só
foneticamente inadmissível;
é-o também, se a
considerarmos sobre outros
aspectos, linguísticos e
lógico.
Quanto à 2ª versão –
explicar o nome Castelo de
Vide, porque o castelo
divide – é outra hipótese,
que cai facilmente perante a
história, a lógica e também
a linguística.
Resta a 1ª versão, que é a
única aceitável e para a
qual pode haver explicação
satisfatória, qualquer que
seja o ponto de vista sob
que queiramos considerá-la.
O antigo topónimo Vila da
Vide e a antiga grafia
Castello Da Vide bastam para
atestar a existência do
substantivo vide, seja lá
qual for a explicação
histórica que queiram ou
possam dar-lhe.
Quanto à mudança da
preposição contraída da para
de, é ainda um argumento a
favor da 1ª versão, pois são
inúmeros os nossos topónimos
compostos, em que o último
elemento aparece precedido
por artigo (Angra do
Heroísmo, Caldas da Rainha,
Celorico da Beira, Figueira
da Foz, Figueiró dos Vinhos,
Sever do Vouga, Viana do
Castelo, Vieira do Minho,
Vila Nova do Corvo, Vila
Nova dos Reguengos, etc.,
etc.), Sendo esse elemento
sempre um substantivo, o que
se pode estabelecer como
princípio fixo em harmonia
com a própria função dos
determinativos particulares.
É ainda Leite de Vasconcelos
quem ensina (Lições de
Filologia Portuguesa, 1ª
edição, pág. 343) que, em
topónimos compostos, a
tendência geral da língua é
mudar do, dos, da, das, em
de, mas que esta
simplificação não se faz de
um jacto. Por isso Castelo
de Vide foi Castelo da Vide,
conforme ficou dito.
Quanto ao resto, só
investigações demoradas e
talvez principalmente locais
poderão esclarecer o caso,
que já não interessa à
filologia, mas à história da
vila e do seu brasão.
Todavia, não repugna
acreditar que, tendo sido
aproveitada para a
designação actual, Castelo
de Vide, uma parte da
designação antiga, Vila da
Vide, e existindo já esta
parte antes da Construção do
castelo, o discutido nome
vide, tenha sido escolhido
para caracterizar o nome da
terra, em virtude de
qualquer acontecimento ou
episódio sucedido em tempos
muito remotos e de que não
há memória, nada tendo que
ver a sua explicação com o
castelo. De casos congéneres
não faltam exemplos na
toponímia.
Mas, se assim não foi,
teremos de optar por outra
explicação e esta é-nos dada
por J. J. Nunes, que foi
competentíssimo professor da
Faculdade de Letras de
Lisboa. No Boletim da Classe
de Letras (vol. Xlll, 1920)
da Academia das Ciências de
Lisboa e sob o título “a
vegetação na toponímia
Portuguesa”, escreveu o
mesmo ilustre professor o
que para aqui transcrevemos
em seguida:
“Compreende-se facilmente
que as plantas que mais
abundavam ou o arvoredo em
maior quantidade se
encontrava nos arredores de
sítios habitados deviam ter
exercido influência bastante
notável na sua nomenclatura
e sido um dos factores que
mais contribuíram para dar
aos lugares os seus nomes;
não é a vegetação que
desempenha um papel
importantíssimo na vida dos
seus habitantes
alimentando-os com os seus
produtos?
Hoje, ainda que, devido à
civilização e facilidade de
comunicações, o homem não
está adstrito exclusivamente
ao terreno que o cerca
quanto não depende a sua
importância de serem ou não
susceptíveis de cultura os
seus contornos ? Não admira,
pois, que em toda a parte a
vegetação figure em
quantidade superior a outro
qualquer entre os elementos
que contribuíram para a
toponímia: árvores de grande
corpulência e de vida várias
vezes seculares, como
simples arbustos e ainda
plantas de duração quase
efémera, em consequência
certamente do seu
predomínio, resultante da
sua abundância, deram o seu
nome aos povoados, em cujas
cercanias se encontravam”.
Efectivamente, Avelar,
Carrasqueira, Carvalhos,
Carvalhosa, Castanheira de
Pêra, Faial, Figueira,
Figueiró dos Vinhos,
Funchal, Juncal, Olival,
Oliveira, Pinheiro,
Pinheiros, Rego da Murta,
Sabugal, Tomar e tantíssimos
outros exemplos que
confirmam o que ficou
transcrito, pois são todos
topónimos em cuja formação
entraram nomes vegetais.
Porque não há-de ter
sucedido o mesmo com Castelo
de Vide ?”.
Castelo de Vide
www.alentejodigital.pt
Castelo de Vide é uma vila
com cerca de 5000
habitantes, situada no Alto
Alentejo, distrito de
Portalegre. Castelo de Vide
é sede de concelho e situada
aproximadamente a 550 metros
de altitude, a 16 Km da
fronteira Espanhola.
O concelho de Castelo de
Vide abrange uma área de 264
Km quadrados que se
encontram repartidos por 4
freguesias ( Sº João
Baptista, Santa Maria da
Devesa, Santiago Maior,
localizadas na sede de
concelho, e, Nª. Sª. da
Graça á localidade de Povoa
e Meadas ).
O nosso concelho faz
fronteira com os concelhos
de Nisa, Portalegre e
Marvão.
Castelo de Vide fica situada
no interior de Portugal,
perto de Espanha. Em frente
da vila de Castelo de Vide
fica a serra de S. Paulo,
integrada no Parque Natural
da Serra de S. Mamede.
História:
Castelo de Vide foi tomada
aos Mouros por D. Afonso
Henriques que a doou a
Gonçalo Mouzinho, cavaleiro
nobre do tempo de seu pai.
Em 1180 dava-lhe foral
particular Pedro Eanes. D.
Afonso III doou-a a seu
filho, o infante D. Afonso,
juntamente com Portalegre e
Marvão. Nas lutas que este
teve com o seu irmão, o rei
D. Dinis, Castelo de Vide
foi um dos pontos de
discórdia pois o infante
desejava muralhá-la no que o
rei não consentia. as
discórdias entre os dois
irmãos só terminaram em 1282
e D. Afonso cedeu a vila à
coroa.
D. Dinis fez então algumas
obras de defesa.
Dizem uns, que fundou o
castelo, outros porém,
opinam que o rei se limitou
a edificar a torre de menage
e a fazer algumas
reparações. É possível
realmente que no local já
existissem quaisquer obras
defensivas, que tenham sido
aproveitadas por D. Dinis.
Desta altura data a
importância histórica da
vila.
Origem do nome:
A origem do nome de Castelo
de Vide é geralmente
atribuído a um vide ou vides
que nasceram e abundaram no
sítio do primitivo burgo
onde depois se edificou o
castelo; outros, porém
consideram que esta vila se
chamasse Vila Devide ou
Divide por estar muito
próxima da raia. Para os que
aceitam a primeira hipótese
o vocábulo Videtem tem
origem na videira que figura
no brasão de armas; para os
segundos, esse vocábulo deve
atribuir- se à posição
elevada em que a vila se
encontra e da qual se
descobrem horizontes amplos
que abrangem os dois lados
da fronteira.
O que Castelo de Vide tem
para lhe oferecer:
Castelo de Vide é uma terra
de muitos sabores, de muitas
cores e de muitos
encantos...entre o intenso
verde da serra ergue-se uma
vila que muito tem para lhe
mostrar, se aprecia a flora
pode deliciar-se com as
cores e os cheiros da muitas
espécies aqui existentes:
narcisos, crocus, arenárias,
castanheiro, carvalho,
pinheiro,... e muitas outras
plantas que o vão encantar.
Ao nível da fauna, Castelo
de Vide é uma zona
privilegiada pela quantidade
de animais que aqui podemos
observar: Cegonha branca,
águia de asa redonda,
perdiz, abutre do egipto,
raposa, javali, lebre,
coelho, veado,... e tantas
outras espécies que nos
cativam pela sua beleza.
Se pretende almoçar ou
jantar não pode deixar de
saborear os nossos pratos
típicos: Sopa de sarapatel,
sopa de batata com pimentos,
escabeche, cachafrito,
alhada de cação, molhinhos
com tomatada, pézinhos de
coentrada e peixinhos da
horta... são muitos sabores
que o vão deixar com água na
boca... os nossos doces são
uma delícia, por isso prove
a nossa boleima de maçã,
bolo de castanha, bolo
finto, bolo de massa e as
queijadas.
Se gosta de perder o olhar
no horizonte e observar o
que é bonito, Castelo de
Vide tem paisagens
fascinantes: o Penedo
Monteiro, a Praça Alta,
Cipresteiro e muitas outras,
mas terminar o seu passeio
pela nossa terra não se
esqueça de subir à senhora
da Penha e depois desfrute
da linda paisagem que se
estende à sua frente e pode
ter a certeza que jamais
esquecerá tanta beleza...
Como recordações para os
amigos e familiares pode
levar uma peça do nosso
artesanato: trabalhos em
madeira e cortiça,
trapologia (patch work),
bonecos de barro, bordados e
ferro forjado... não se
esqueça que as recordações
falam por si e fazem-lhe
lembrar momentos únicos...
por isso veja o nosso
artesanato e leve consigo um
pedacinho da nossa terra.
Somos um povo de brandos
costumes, muito acolhedor e
festivo, por isso aqui ficam
as festas da nossa terra:
Carnaval trapalhão, Semana
Santa, Páscoa, as romarias
da Srª da Luz, Nossa Senhora
da Alegria e Nossa Senhora
da Penha.
Castelo de Vide convida...
não se esqueça de
aparecer!...
Castelo de Vide
http://www.cm-castelo-vide.pt
"CASTELO DE VIDE: vilazinha
medieval, cidadezinha
moderna", como um
historiador local a definiu,
reúne um conjunto de
valências que a tornam
singular e admirável.
Da história, herdou vastos e
ricos patrimónios. Se, por
um lado, a arquitectura
civil soube ir sedimentando,
casa sobre casa, século após
século, um casario
harmonioso e singular, por
outro, a arquitectura
militar, colocando pedra
sobre pedra, defendeu os
moradores e as sucessivas
guarnições acasteladas
através de sólidas e
imponentes muralhas,
baluartes e torres - hoje
miradouros de paisagens que
desafiam os próprios limites
da visão humana.
Desde as ruelas sinuosas e
calçadas floridas do Burgo e
Judiaria Medievais até às
Praças modernas e sóbrias,
destacam-se elementos
artísticos e símbolos que
perpetuam e monumentalizam a
memória de culturas, de
personalidades e de
vivências, trazendo a cada
momento do presente os
mistérios e o fascínio do
passado.
Este conjunto patrimonial,
integralmente classificado
como monumento nacional,
resulta hoje num Centro
Histórico Notável,
circunscrito por cerca de
2,5 km de muralhas,
proporcionando roteiros e
ambientes maravilhosos e
recebendo anualmente
milhares de visitantes que a
ele ocorrem vindos de todo o
mundo.
Mas aqui a natureza também
foi pródiga. Nestes campos
vivem espécies vegetais e
animais de origem
mediterrânica, atlântica e
continental, que coexistem
numa paisagem de qualidade e
intensa de contrastes. Esta
riqueza ambiental permitiu
classificar o lugar em área
protegida, parte integrante
do Parque Natural da Serra
de São Mamede, onde os
percursos convidam ao
encontro e à descoberta da
natureza.
A magia e a beleza deste
Lugar completam-se com a
forte herança cultural,
enraizada por sucessivas
gerações de homens e
mulheres, anónimos ou
ilustres, que a comunidade
local ainda orgulhosamente
preserva. No ciclo das
festividades anuais assumem
um valor inigualável alguns
momentos, que consubstanciam
séculos de tradições, de
usos e costumes:
manifestações duma
personalidade colectiva de
pessoas afáveis e
hospitaleiras habituadas a
receberem forasteiros e a
despedirem-se como amigas.
Aqui, onde o tempo é vida,
ninguém é indiferente às
matizes da paisagem
envolvente, à textura da
pedra, aos sabores e aromas
que transportam os segredos
que a história confeccionou.
Aqui, onde o tempo é tempo,
vale a pena conhecer e
desfrutar, demoradamente,
caindo na doce nostalgia e
quietude que a vila oferece
e guardar o Lugar na
memória.
Castelo de Vide, terra
fundada na medievalidade,
vive hoje preservando os
seus marcos identitários ao
mesmo tempo que assume um
desenvolvimento integrado e
sustentado dos seus recursos
endógenos, ambicionando
manter padrões de
modernidade e planificando
um futuro próspero para as
gerações vindouras.
Ao Mundo Global que hoje
trilha por estes caminhos
virtuais, fica, pois, aqui
este convite à realidade,
apresentado por palavras e
imagens infinitamente
incompletas face ao
deslumbramento desta
"vilazinha medieval,
cidadezinha moderna".
Crato – (Concelho do
Distrito de Portalegre)

Vila muito antiga, foi
edificada no mesmo local
onde em épocas remotas
existiu uma cidade
cartaginesa. O primeiro
foral que lhe foi outorgado
dato do ano de 127º. Em
1512, D. Manuel l
concedeu-lhe foral novo.
A Ordem dos Hospitaleiros de
São João de Jesuralém, que
aqui esteve instalada, deu
grande incremento e
importância à povoação. No
palácio que existia no
interior do castelo,
actualmente em ruínas, foi
celebrado, em 1518, o
casamento de D. Manuel l com
D. Leonor. Mais tarde, em
1525, também aqui tiveram
lugar os esponsais de D.
João lll com D. Catarina.
Origem do nome:
«Dicionário Geográfico do
Padre Luís Cardoso – 1751”»:
“ Segundo Ptolomeu e outros
autores foi fundada muitos
anos antes da vinda de
Cristo Senhor Nosso, pelos
cartagineses, quando vieram
à nossa Lusitânia, segundo
relata a Monarquia Lusitana,
Catraleuca, derivada de seus
fundadores.
Entre os bispos que
assistiram ao Concelho
Hiberitano que se celebrou
no ano de 300, que foram
dezanove, se acharam três
portugueses, um dos quais se
chamava Secundino, que se
assina: Bispo Catraleucente,
e conforme Ptolomeu, já
alegado, este bispo era da
cidade de Catraleuca, hoje a
vila do Crato, que pouca
corrupção conserva o
princípio do dito nome”.
«Arquivo Histórico de
Portugal»: “Foi no tempo de
D. Afonso Henriques que se
reedificou a vila, segundo
diz Vilhena Barbosa, foi
igualmente nessa época que
ficou definitivamente
adoptado o nome de Crato.
Entretanto Pinho Leal diz
que Cravo é palavra grega
que significa forte,
formidável, e com respeito a
Castraleuca e Castraleucos
diz que uma é Castelo Branco
e que outra seria o Crato e
que os árabes lhe
corromperam o nome”.
Elvas – (Concelho do
Distrito de Portalegre)

A sua fundação é atribuída
aos romanos, de cuja
presença subsistem inúmeros
vestígios na região.
Conquistada aos mouros por
D. Afonso Henriques em 1166,
foi perdida e
definitivamente recuperada
em 1230, por D. Sancho ll,
que lhe concedeu foral,
confirmado por D. Manuel l,
em carta datada de Almeirim
do ano de 1507. Mais tarde,
em 1512, o mesmo monarca
outorgou-lhe foral novo.
Elvas foi cenário das cortes
convocadas por D. Pedro l,
em 1361. De 1570 a 1881 foi
sede de uma diocese, extinta
após as desinteligências
ocorridas entre o bispo e o
deão, na Sé, incidente que
inspirou o poema
herói-cómico “O Hissope” de
Cruz e Silva. Cenário de
alguns dos factos mais
importantes da nossa
História ligados à
independência, teve papel
importante nas lutas que
puseram fim à dominação
espanhola.
Origem do nome:
«Do, Arquivo Histórico de
Portugal – 1890»: “A origem
de Elvas não parece
duvidosa, e segundo o
testemunho de Tito Lívio era
habitada pelos celtas, que
ocupavam esta parte da
Bética, quando Marco Elvio
ou Caio (nota: Caio parece
que era um título honorífico
entre os romanos, dado a
capitães do exército que
comandavam, e correspondiam
ao Senhor ou Don). Marco
Elvio, depois governador de
grande parte da Lusitânia,
entrou com poderoso
exército, em 212 antes de
Cristo, passando os rios
Guadiana e o Caia, venceu os
celtas e ocupou a actual
Elvas, dando à povoação o
seu nome de Elvic como à
próxima ribeira onde esteve
acampado o nome de Caia. O
castelo é provável que fosse
inicialmente de construção
romana”
«Xavier Fernandes em
topónimos e Gentílicos
(1944)»: “ Perdem-se na
bruma dos tempos as origens
desta cidade alentejana do
distrito de Portalegre.
Conforme alguns têm escrito,
os primeiros habitantes do
local teriam sido
celtiberos, a que se
juntaram alguns helvécios,
vindos das montanhas da
Suiça, a respeito dos quais
se diz que vieram à
Península pelas alturas do
ano 3.009 da criação do
Mundo, isto é, quase dez
séculos antes do começo da
era cristã. Outros autores
dizem que Elvas foi fundada
cerca de 2104 antes de
Cristo, pelos hebreus, que
lhe deram o nome da cidade
de Elba, pertencente à sua
tribo de Ásser. Há ainda
quem pretenda que Elvas
tivesse tido mesmo por
fundador o citado romano
Marco Elvio ou Helvio,
procônsul e primeiro
governador da Hispânia
Ulterior, parecendo, porém,
que maiores razões assistem
aos que o apontam, não como
fundador, mas como
reedificador. Esta última
opinião não contradiz a
daqueles que afirmam ter
sido Elvas fundada pelos
helvécios, que vieram à
Península quase dez séculos
antes de Cristo,
constituindo uma das tribos
da invasão céltica. O cónego
Dr. Aires Varela, no
capítulo Xl da sua obra
Teatro Histórico das
Antiguidades de Elvas,
também afirma que foram os
celtas os fundadores de
Elvas.
Muito mais tarde, no segundo
decénio do século Vlll da
nossa era, Elvas caiu no
poder dos árabes e então
aparece o seu nome arabizado
em três formas – Ieláh,
Belch,e Jelch. Elidrisi,
xerife e escritor mouro do
século Xl, celebrou a
povoação de Jelch, da
província de Al-Kassr.
As divergências de opiniões,
que se possam notar na
indicação das origens
históricas de Elvas, não
devem prejudicar a
determinação do étimo do
mesmo nome, embora – que
saibamos – não tenha ainda
sido esclarecido devidamente
por qualquer autor.
O topónimo Elvas deve, pois,
filiar-se na forma latina
Elvii, anteriormente
mencionada, a par de Helvii,
que aparece registada em
bons dicionários latinos, já
com nome da conhecida e
atraente cidade alentejana”.
Elvas
http://www.geocities.com/Athens
Tomada aos árabes em 1166
por D. Afonso Henriques, foi
perdida depois;
reconquistada em 1200 por D.
Sancho I, novamente voltou
ao poder dos muçulmanos; D.
Sancho II retomou-a em 1226,
abandonando-a logo a seguir,
mas em 1229, ano em que lhe
concedeu foral, ficou
definitivamente incorporada
no território português.
Em 21 de Abril de
1513, D. Manuel I
confere-lhe o título de
cidade e em 1570, D.
Sebastião elevou-a a Sede
Episcopal, extinta em 1882.
Celebraram-se no
Castelo de Elvas, em 1361,
umas Cortes que ficaram
históricas por nelas ter
falado, pela primeira vez, o
povo.
A história de Elvas
está ligada à Independência.
Em 1336, o Rei de Castela
Afonso IX, sogro de D.
Afonso IV, cercou Elvas mas
não conseguiu tomá-la
(Batalha do Salado).
Quando das guerras
entre D. Fernando e Castela,
a Praça de Elvas teve papel
de relevo. Em 1381, D. João
Rei de Castela, concentrou
tropas e cercou Elvas sem
resultado. No ano seguinte
D. Fernando veio de Lisboa
para Elvas reunir-se às
tropas aqui concentradas
para atacar os castelhanos,
mas não chegaram a bater-se.
Fez-se a paz e combinou-se o
casamento de D. Beatriz,
filhas de D. Fernando, com
D. João I, de Castela.
Quando D. Leonor Teresa
proclamou, depois da morte
de D. Fernando, D. João de
Castela Rei de Portugal,
Elvas amotinou-se. O povo,
com Gil Fernandes (grande
patriota elvense) a
comandá-lo, assaltou o
Castelo, prendeu o alcaide,
que era Pedro Álvares, irmão
de Nuno Álvares, e pô-lo
fora. Gil Fernandes salvou-o
de ser morto pelo povo
enfurecido.
Depois de aclamado
D. João I, o Rei de Castela
cercou Elvas, que foi
defendida pelo seu alcaide,
que era Gil Fernandes,
valentemente. O cerco durou
25 dias mas os castelhanos
tiveram que retirar-se.
Depois da Batalha de
Aljubarrota, foi de Elvas
que partiu o Condestável
para a batalha de Valverde,
que ganhou (1385).
Ao perdermos a
Independência, no século XVI,
o Duque de Alba ocupou a
cidade por traição.
Elvas teve uma
importância capital na
Guerra da Restauração. Aqui
foi D. João IV proclamou
Rei, em 3/12/1640. A seguir
foi nomeado Governador da
Praça João da Costa (Mestre
de Campo). Em meados de 1641
e em Setembro do mesmo ano
foi Elvas atacada pelo
General Monterey, que foi
repelido. Da última vez foi
o Governador ao seu
encontro, extra muralhas, e
Moterey teve que retirar
depois de curto combate. Em
1644 novo cerco e ataque a
Elvas pelo General Torrecusa,
com 15.000 homens e nova
heróica e indomável
resistência de Elvas.
Mas o maior feito
heróico, a que o nome de
Elvas está ligado, á
"Batalha de Linhas de
Elvas", que teve altas
consequências morais e
materiais para os
portugueses, vindos da
esplêndida vitória alcançada
no dia 14 de Janeiro de
1659.
O Comandante das
poderosas tropas castelhanas
era Luís de Haro que
investiu contra a Praça de
Elvas e a cercou três meses.
A guarnição elvense (11.000
homens, reduzidos por
numerosas epidemias)
resistia sempre aos 14.000
homens, 2.500 cavalos e
numerosas artilharia
castelhana.
Logo de início, o
seu Comandante André de
Albuquerque, conseguiria
passar as linhas castelhanas
com outros oficiais e fora
juntar-se ao exército de
socorro organizado pelo
Conde de Vila-Flor.
Compunha-se de 8.000
infantes (2.500 regulares),
2.900 cavalos e 7 peças de
artilharia. Saíram de
Estremoz dia 11 e chegaram
frente a Elvas dia 13. Na
manhã de 14 o General
Castelhano D. João Pacheco
que saiu a reconhecer as
nossas tropas, pensou que
não atacaríamos nesse dia.
D. Luís de Haro ordenou ao
exército que reforçava a
linha fronteira, que fosse
para os quartéis. O nevoeiro
que existia dissipou-se e o
dia aparece cheio de sol. Os
portugueses, que já na
véspera se haviam preparado
para a batalha, tiveram
ordem de atacar. Mil homens
escolhidos, na frente,
comandados pelo Mestre de
Campo, General Diogo Mendes
de Figueiredo; 3.000
infantes, 1.200 cavalos
comandados pelo Conde de
Mesquitela e André de
Albuquerque, na vanguarda; e
ainda o grosso de tropas,
800 cavalos e artilharia,
comandada por Afonso Furtado
de Mendoça.
D. Luís de Haro
tentou remediar o mal feito,
mas as nossas tropas
entraram nas suas linhas,
conquistaram um fortim e ao
fim de algumas horas de luta
renhida, tomaram mais fois
fortins. Na luta perdeu a
vida André de Albuquerque,
muitos oficiais e soldados.
Os castelhanos foram
abatidos com imensas baixas
e retiraram em desordem
deixando inúmeros despojos.
Também na Guerra da
Sucessão Elvas teve,
igualmente, um importante
papel, pois aqui concentrou
o Marquês de Minas as suas
tropas para atacar a
Espanha, onde tomámos
Placência e Alcântara.
Em 1706 e 1711 foi
atacada pelo Marquês de Bay,
mas repeliu sempre os
ataques com grandes perdas
para o inimigo.
Na curta guerra de
1801, os espanhóis cortaram
a ligação de Elvas com o
exército português, e o seu
Governador, D. Francisco
Xavier de Noronha, foi
convidado a render-se. Este
respondeu, bravamente, que
enquanto houvesse pedra
sobre pedra nos baluartes,
um soldado que pudesse
disparar um tiro e fosse
vivo o General Comandante,
ninguém falaria em
capitular. O inimigo
retirou-se.
Entre D. Pedro e D.
Miguel, Elvas escolheu ser
miguelista (1823-1827).
Em Elvas se fez a
paz entre alguns
contentores: D. Dinis com o
seu irmão D. Afonso, em
1292; D. Fernando com o rei
de Castela D. João I, em
1382.
Também se celebraram
casamentos ilustres:
D. Beatriz, filha de D.
Fernando, com D. João de
Castela, em 1383;
infante D.João, filho de D.
João III, com D. Joana,
filha do Imperador Carlos V,
1552;
D. Teodósio, Duque de
Bragança, com D. Ana de
Velasco, em 1603;
do filho destes, D. João
(mais tarde D. João IV) com
D. Luísa de Gusmão (1633);
e D. José, Príncipe do
Brasil (mais tarde Rei de
Portugal) com D. Maria Anna
de Bourbom, em 1719.
O Forte de Nossa Senhora da
Graça
http://www.geocities.com
Construído no cimo do monte
da Graça, um dos pontos mais
altos desta zona do
Alentejo, obrigou à
demolição de uma antiga
ermida aí existente e que
fora mandada reedificar pela
bisavó de Vasco da Gama.
Nessa ermida, denominada
Santa Maria da Graça,
existia uma imagem da Virgem
que foi transferida em
procissão para a igreja
paroquial de Alcáçova. A
propósito deste
acontecimento, o Senado de
Elvas, em vereação de Agosto
de 1763 deliberou «que todas
as pessoas que vivessem na
Rua da Cadeia, Rua da
Carreira e Praça, limpassem
as ditas ruas e armassem as
janelas para passar a
procissão de Nossa Senhora
que se transladava da ermida
para a freguesia de Alcáçova
e quem o não fizesse pagasse
dois mil reis de cadeia»
Mais tarde, após a
construção do Forte, esta
imagem voltou ao monte da
Graça, ocupando o lugar de
honra na capela que aí se
fez e donde veio a
desaparecer com as invasões
francesas, tendo sido, há
alguns anos, localizada numa
igreja de Vila Boim, donde
nunca mais foi possível
retirá-la, apesar das
tentativas feitas.
Os trabalhos de construção
da fortaleza, a 368 metros
de altitude, começavam em
Julho de 1763, por
iniciativa do Conde de Lippe,
que havia sido colocado à
frente do nosso exército na
campanha iniciada no ano
anterior. Vinha de
Inglaterra, a pedido do rei
de Portugal, D. José I, para
dirigir a defesa do reino,
tendo-lhe sido dado o posto
de marechal-general com o
tratamento de Alteza
Sereníssima. O seu nome foi
dado ao forte, tendo D.
Maria I, quando subiu ao
trono, alterado a designação
de Forte de Lippe para Forte
de Nossa Senhora da Graça.
Esta obra exigiu ao povo da
região os maiores
sacrifícios. Logo no
princípio dos trabalhos as
carretas dos lavradores
foram embargadas para o
transporte de pedra e
madeira, o que
impossibilitou de satisfazer
os seus próprios
compromissos. No dizer de um
contemporâneo «essa opressão
tornou-se grandíssima em
Elvas e seu termo com a
falta para outros serviços
de 3 a 4 mil homens que
andavam trabalhando na obra
do forte. E, para cúmulo,
andavam a prender todos os
moços de lavradores para
servirem como soldados.»
Em Setembro de 1763 a
construção continuava com
muita força de gente;
trabalhavam nas obras 6 mil
homens e 4 mil bestas; só em
acarretar água empregavam-se
1500 bestas. E todos os dias
chegavam, sem cessar, novas
levas de gente às quais, nos
sábados, se pagava.
Neste mesmo ano, os
condenados pelo Conselho de
Guerra a trabalhos forçados
revoltam-se, fugindo oito da
prisão e sendo um morto pela
sentinela.
Dois anos depois eram presos
um capitão de Mineiros de
nacionalidade inglesa e três
soldados da sua companhia
por roubarem pólvora.
O Hospital Militar, por sua
vez, em face dos milhares de
pessoas que trabalhavam na
construção do forte, estava
completamente repleto de
doentes.
Durante o século XVII o
monte de Nossa Senhora da
Graça não beneficiou de
qualquer obra de
fortificação, o que deu azo
aos espanhóis, durante o
sítio de Elvas (1658-1659)
instalar lá uma posição de
artilharia que fustigou
duramente a cidade.
O Forte da Graça é
constituído por três corpos
distintos: as obras
exteriores, o corpo
principal e o reduto
central. O fosso que
circunda o «hornaveque» tem
10 metros de largo e o «o
caminho coberto», circundado
por um parapeito que fecha
toda a fortificação, tem um
perímetro de cerca de 1350
passos.
Lenda de Elvas
Conta a lenda, a propósito
de Elvas que “certo
cavaleiro português foi a
Badajoz no dia em que ali se
realizava a procissão de
Corpo de Deus, e arrancara
das mãos do espanhol, que
levava o alçado, um
estandarte nosso que estava
em poder dos habitantes
daquela cidade fronteiriça".
E acrescenta a lenda, "que o
audacioso português, não
podendo entrar em Elvas, por
ter encontrado fechadas
todas as portas, arremessara
o estandarte para dentro das
muralhas exclamando: “morra
o Homem mas fique a fama!”
caindo seguidamente em poder
dos espanhóis, que o
capturaram e levaram para
Espanha, onde o mataram".
Duas versões, da mesma
lenda, elevam a qualidade do
Homem e do Soldado português
que por amor a uma causa
sacrifica a própria vida.
A primeira versão, diz-nos
que o Governador da
Praça-Forte de Elvas, por
brincadeira e conhecendo a
valentia do soldado, lhe
prometera o posto de general
e o Governo da praça se
fosse capaz de ir a Badajoz
arrancar aos espanhóis o
estandarte que era nosso e o
trouxesse consigo. Já na
segunda versão, o governador
que não via com bons olhos o
namoro da sua filha com
determinado oficial seu,
ter-lhe-á dito que só daria
a mão de sua filha a um
fidalgo ou oficial, que se
tivesse tornado ilustre por
um grande feito de armas. E
referiu, o governador a
hipótese de recuperar o
estandarte roubado a
Portugal.
Num e noutro caso se saem os
audaciosos cavaleiros
vencedores do feito, mas o
governador nega-lhes a
entrada na cidade ao
fechar-lhes as portas da
mesma, sendo ambos mortos
por Castela, não sem que
antes tivessem recuperado o
ditoso estandarte.
Ainda de Elvas, para
recordar, não sem um misto
de tristeza e indignação
pelos castigos que aí foram
infligidos aos presidiários
militares, a cerca de um
quilómetro da cidade,
localiza-se a célebre
Praça-Forte de Elvas, de
nome mais actual Forte da
Graça que, de "Graça" não
tinha "Graça" nenhuma, como
está explícito na leitura de
uma inscrição existente numa
das paredes interiores do
Forte: "Neste Forte onde
impera a disciplina e a
concepção duma possível
regeneração a seguir pelos
incorporados, há o propósito
de indicar-lhes o caminho
que desvirtuaram, mas ainda
a tempo de ser trilhado como
homens livres, honrados e
úteis à sociedade."
Fronteira – (Concelho do
Distrito de Portalegre)

Foi fundada no ano de
1226, pelo mestre da Ordem
de Avis, Fernão Rodrigues
Monteiro. D. Manuel l
concedeu-lhe foral em 1512.
Nas arredores desta
localidade travou-se a
Batalha dos Atoleiros, entre
os partidários do mestre de
Avis ( D. João l) e os do
rei de Castela.
Origem do nome:
«Do, Arquivo Nacional
(Direcção de Rocha Martins )
1936»: “ Fundada pelos
cavaleiros de Avis, cerca de
1226, era uma vila cercada
de muralhas torreadas,
destruídas hoje, em grande
parte. Tem um castelo com
duas torres, tendo
desaparecido as restantes
sete que guarneciam a
fortaleza.
Alguns autores dizem que
o fundador da vila foi D.
Dinis, pelo ano de 1290, e
que perguntando-se-lhe onde
queria ele que ela fosse
edificada, o monarca,
apontando para o lugar onde
actualmente está, respondeu:
“na fronteira”, donde lhe
proveio o nome”
«Xavier Fernandes em
Topónimos e Gentílicos
(1944)»: “ é o mesmo nome
comum fronteira, aproveitado
para topónimo, explicando-se
a escolha da designação com
o facto de terem sido os
seus habitantes encarregados
de vigiar os vizinhos
temerosos, por o povoado
servir então de fronteira, o
que há muito não sucede,
como é sabido”.
Gavião – (Concelho do
Distrito de Portalegre)

Crê-se que a povoação já
existisse no tempo dos
romanos. D. Manuel l, em
1519, concedeu-lhe foral.
Origem do nome:
«Xavier Fernandes e,
Topónimos e Gentílicos
(1944)»: “Parece que, na
maioria dos casos, o
topónimo é o mesmo nome
comum duma conhecida ave de
rapina. Nos restantes casos,
pode ser um derivado de
Gabilonem, caso oblíquo de
Gabilo. Sucede porém, que
ainda não se disse a última
palavra sobre o étimo do
nome da ave de rapina,
tendo-se até admitido que
esse étimo seja também
germânico (gótico), podendo
assim acontecer que, em
todos os casos, o vocábulo
seja originariamente o
mesmo”.
Gavião
http://homepage.oninet.pt
Gavião, à borda d`agua , bem
aproximada do Tejo que por
aqui se torna num espelho
transparente da natureza, do
homem e da vida. Região que
dá vida a quem vive do
azeite e da cortiça e de
ricos rebanhos. Região que
sorri a quem gosta de raras
harmonias de azuis e de
verdes, ou de um dia bem
passado à caça, por encostas
e vales cobertos de fileiras
de oliveiras a perder de
vista. Também para alguns
que cansados de tanta
pressa, desejam apenas o
sossego e gozar os prazeres
da água e do sol que a
barragem de Belver lhes
oferece.
E num subido monte,
sobranceiro ao Tejo,
ergue-se, elegante e bem
conservado, o castelo da
vila de Belver, também ele
há tanto tempo encantado por
esta festa da Natureza.
Ambiente tranquilo de casas
simples, num espaço onde se
misturam muros, beirados,
chaminés, terreiros livres,
jardins floridos, baloiços,
torres de pequenas capelas e
um sério pelourinho, sinal
da lei e da justiça do
passado.
Espalhados, por aqui e por
ali, ofícios de outros
tempos, cantarias desenhadas
e saliências brasonadas.
Perto a praia fluvial do
Alamal, local paradisíaco
pelo quadro natural que a
envolve.
No Gavião podemos visitar:
O Pelourinho, e a sua
Igreja, edifício típico, com
fachada baixa, porta com
guarnições de granito e
janelão sobreposto. Ao pé
fica a Barragem de Belver,
uma das mais antigas do país
que controla a água por um
sistema de comportas. Aqui
praticam-se desportos
náuticos como o windsurf, a
vela e a pesca. Nesta zona a
paisagem começa a variar da
paisagem típica Alentejana
para a beirã do xisto e das
oliveiras. Também podemos
visitar o Castelo de planta
circular, erguido na
fronteira árabe do Tejo em
1194 por D Afonso Pais,
Prior da Ordem do Hospital
no tempo de D Sancho I e
reedificado em 1390 por D.
Nuno Álvares Pereira.
Pertenceu à ordem de S. João
de Jerusalém. A Capela de
São Brás, do Castelo e é
outro monumento que vale a
pena visitar. Capela de
muita devoção do Infante D.
Luís, filho de D. Manuel à
qual ofereceu relíquias que
se encontram no seu
sacrário, e onde existe um
belo retábulo de castanho
mostrando S. Brás apoiado
num porco. Podemos ainda
apreciar na margem do Tejo
todo o arvoredo da quinta do
Alamal com a sua praia
fluvial que faz as delícias
dos campistas. Belver foi
uma das doze vilas do
priorado do Crato.
Gavião
http://www.inatel.pt/tempolivre
O rio Tejo divide o concelho
de Gavião e deixa Belver, a
única freguesia do Alentejo
para lá do espelho de água.
Neste ponto a paisagem ganha
um recorte particularmente
deslumbrante. Do castelo
assente sobre rocha, o leito
escorre lá bem em baixo,
junto à praia fluvial do
Alamal. Do outro lado, a
placidez do rio remata a
imponência da fortaleza, num
extraordinário conjugar de
forças.
Uma visita ao concelho de
Gavião, pode muito bem
começar pelo castelo de
Belver, não só pela sua
inequívoca beleza, mas como
pela sua importância
histórica, que vem desde o
longínquo ano de 1212, data
da conclusão da construção
do forte. Como não podia
deixar de ser, serviu
primeiramente, para defender
o território já conquistado
aos muçulmanos e, mais
tarde, como contenção aos
avanços de Castela.
Originalmente e durante
cerca de um século a
fortaleza pertenceu à Ordem
dos Hospitalários.
Hoje o edifício de formato
ovalado, torre de menagem ao
centro e capela
renascentista, mantém uma
imponência que lhe advém da
sua beleza arquitectónica,
mas também da sabedoria e
altivez inscritas nas
muralhas de uma construção
que viveu momentos únicos do
início da nação portuguesa.
Sobre a muralha o carreiro
prossegue acentuado de
quando em quando por ameias
e ladeado por seteiras, por
onde os defensores
disparavam as setas para
impedir a conquista do
castelo. Uma cisterna e os
pisos superiores da torre de
menagem, usados na promoção
de eventos culturais,
compõem o resto do conjunto.
Depois desça, atravesse a
ponte e suba a encosta para
a voltar a descer em
direcção ao Alamal. Aqui
fica uma das poucas praias
fluviais portuguesas com
direito a bandeira azul.
Estacione mesmo ao lado da
pousada do INATEL, siga para
esplanada para usufruir da
vista, ou, caso não esteja
cansado, não perca um
passeio ao longo da margem
do rio, por um passadiço de
madeira com curvas e
contracurvas e escadas que
sobem e descem ao sabor da
vegetação. O passeio não é
longo e é muito fresco e
agradável. De volta ao
Centro Integrado de Lazer do
Alamal – que reúne, ainda,
óptimas condições para a
prática de desportos
fluviais e BTT - aproveite
para fazer um passeio de
canoa. Não há nada melhor do
que observar um rio e a
paisagem circundante do seu
leito. Caso o faça entre
Setembro e Abril, pode ser
que tenha a sorte de ver os
lindíssimos Corvos Marinhos
de Faces Brancas.
Homem e Natureza em harmonia
Apesar do concelho de Gavião
e das suas cinco freguesias
– Gavião, Atalaia, Belver,
Comenda e Margem – não ser
parco em interesses
patrimoniais, é a natureza
plena de força com o rio, os
montados, os olivais e uma
geografia que varia entre a
planície e as encostas já
algo graníticas, que lhe
conferem a graça. A
simplicidade das casas das
povoações surge num ambiente
calmo e agrícola. A reforçar
os traços singelos surgem um
pouco por toda a região as
igrejas e capelas de
arquitectura rural
religiosa, como é o caso da
Capela de Nossa Senhora do
Pilar, construída nos finais
do século XVII, em Belver.
Ainda nesta freguesia resta
o percurso que lhe dará
acesso, a partir da povoação
de Torre Fundeira, à Anta do
Penedo Gordo. O caminho
estreito com uma extensão de
cerca de um quilómetro
levá-lo-á a este túmulo
classificado como Imóvel de
Valor Concelhio, desde 1996.
Numa área onde abundam as
ribeiras, não é de estranhar
a abundância de moinhos de
água. Comece por visitar o
único ainda em
funcionamento, em Vale de S.
João e continue ao longo da
Ribeira de Margem. Ambos os
locais situam-se na
freguesia da Comenda onde
deverá ir também à ponte
antiga de pedra sobre a
ribeira da Venda, de origem
romana. Com uma alvenaria em
argamassa mista e um
tabuleiro coberto por uma
calçada constituída por
enormes blocos de pedra,
este é um excelente local
para descansar e fazer um
piquenique, no parque de
merendas implantado aqui
para esse mesmo fim.
Conscientes do interesse da
sua região, cerca de 15
instituições juntaram-se
para criar, em Abril de
2003, o Parque Arqueológico
e Ambiental do Médio Tejo
tem como objectivo
preservar, inventariar,
estudar e divulgar vestígios
de acampamentos de
caçadores-recolectores,
transformações ambientais,
os primórdios da pastorícia
e da agricultura, a evolução
urbana ao longo de mais de
três mil anos, entre outros.
A entrada mais próxima de
Gavião faz-se pelo Museu de
Arte Pré-Histórica e do
Sagrado do Vale do Tejo,
situado em Mação. Nas suas
actividades promovem
passeios, acompanhados por
monitores, um dos quais à
Ribeira da Atalaia, numa
tentativa de explicar os
vestígios de ocupação do
Homem de Neandertal e dos
Homens Modernos.
É de terra e de rio que
vivem as populações, do
vinho, azeite e cortiça, da
criação de gado bovino e da
pesca no rio e se não
bastasse a singela simpatia
das gentes, o reforço de uma
visita futura surge na
riqueza da gastronomia onde
imperam as enguias, o sável
e o achigã, ou a lebre com
couve e o javali.
Paula Carvalho Silva [texto]
José Frade [Fotos]
Guia
Situado no Norte Alentejano,
bem no centro do país, o
concelho de Gavião, que
ocupa uma superfície de
quase 300 mil quilómetros
quadrados, pertence ao
distrito de Portalegre e tem
a Norte o concelho de Mação,
a Sul os concelhos de Crato
e Ponte de Sôr, a poente
Abrantes e a nascente Nisa.
Ir
Siga pela A1, saia em Torres
Novas em direcção a Abrantes
e percorra a IP6 até ao
desvio para Belver e Gavião.
Dormir
Inatel Gavião, no Alamal,
tel. 241639090/1: Na antiga
quinta do Alamal, comprada
pela Câmara de Gavião foi
construído um Centro
Integrado de Lazer do qual
faz parte um edifício do
século XIX reconstruído e
transformado em estrutura
hoteleira com 20 quartos
duplos (com casa de banho
privativa, aquecimento
central, telefone e TV) e
mais três na Casa, dotada de
um forno para grelhados. Um
casal paga na estação
média-baixa 45 euros por
diária, com pequeno -
almoço.
Ao lado do edifício
principal fica um parque de
campismo em socalcos, logo
em baixo uma lagoa, a praia
e a esplanada.
Qta. do Belo-Ver, Belver,
tel. 241639040: Sete
quatros, court de ténis e
piscina.
Qta. do Carvalhal, em
Gavião, tel.
918682711/241638888:
Passeios a cavalo e piscina
num turismo rural com quatro
quartos disponíveis.
Comer
Kabra’s, em Ortiga, já no
concelho de Mação, mas
apenas a dois quilómetros da
barragem de Belver, tel.
241573346/962835313: Belas
enguias com açorda de ovas
de peixe e magníficos
secretos de porco preto, num
ambiente familiar e rústico.
Não se assuste com o aspecto
exterior do restaurante,
porque o interior é muito
agradável. Ao fim-de-semana
convém reservar mesa.
O Alamal, tel. 241631057:
Óptimo para os petiscos de
fim-de-tarde, enquanto cai o
pôr-do-sol.
Marvão – (Concelho do
Distrito de Portalegre”

Povoação conquistada aos
mouros em 1166, mas só
povoada, por D. Sancho ll, a
partir de 1226.
Origem do nome:
«Do, Domingo Ilustrado –
1890»: “O actual nome de
Marvão provem-lhe de Maruam
ou Marvan, mouro africano,
senhor de Coimbra que a
mandou povoar e deu-lhe seu
nome, porque a haviam
destruído dos árabes quando
invadiram a Península,
fazendo grande matança nos
Cristãos. O primeiro monarca
português, aquele grande e
destemido guerreiro tomou a
vila aos mouros, em 1166, e
D. Dinis mandou-a cingir de
muralhas, e construir o seu
castelo, em 1299”:
«Xavier Fernandes em
Topónimos e Gentílicos
(1944)»: “Marvão representa
o antigo nome de homem,
Maruan (do século X), e o
segundo elemento componente,
- vão, parece ser o gótico,
Wans, deficiente, livre de
alguma coisa, vazio. Em
nomes germânicos, é muito
comum o primeiro elemento,
que já ficou anteriormente
explicado, noutros topónimos
em que também entra”.
Marvão
http://motoclubemarvao.no.sapo.pt
"Mui Nobre e Sempre Leal
Vila de Marvão"
Implantada na Serra de
Marvão a uma altitude de
865m, a vila de Marvão forma
com a cidade de Portalegre e
com a vila de Castelo de
Vide o denominado triângulo
turístico do Norte Alentejo.
Presume-se que a origem da
vila, no seu primitivo
Burgo, é mourisca, como se
deixa ver pelo próprio nome,
de descendência árabe devido
ao refugio em 876 de um
ilustre membro da família
Marwan que se dizia ser
audaz e temível, nunca se
dando por vencido, e que
ganhou grande reputação por
entre os populares; por
isso, a montanha sobre a
qual se ergue a vila, então
chamada de "Amaiense",
passou a chamar-se de "Amaya
Ibn Marwan", nome este que
perdeu o apelativo à cidade
romana de Ammaia depois da
reconquista cristã, ficando
o topónimo Marwan, mais
tarde transformado em
Marvão; o povo da região dá
ao vocábulo a significação
simples e o sentido
pejorativo de Mal - Vão,
cuja origem se pretende
filiar no costume de se
mandarem para ali os
prisioneiros de guerra e
militares condenados a
desterro. No entanto, o
castelo e a sua fortaleza
são de origem bem
portuguesa.
Marvão é vila e sede de
concelho. A área actual do
concelho tem por limites, a
norte o rio
Sever, que constitui a raia
internacional de Portugal e
Espanha e separa o concelho
de Marvão do vizinho
concelho de Valência de
Alcântara, a nascente a raia
convencional que separa os
dois países, a sul o
concelho de Portalegre e a
poente o concelho de Castelo
de Vide.
O concelho de Marvão é
constituído por 4
freguesias: Santa Maria, São
Salvador de Aramenha, Santo
António das Areias e Beirã.
Pode considerar-se dividido
em três zonas
características: uma parte
montuosa e acidentada que
ocupa quase toda a freguesia
de São Salvador de Aramenha,
com férteis e produtivos
vales abundantemente regados
onde predominam as culturas
lenhosas (soutos de
castanheiros e castinçais),
as culturas hortícolas e
bons pomares; uma segunda
zona, nas freguesias de
Santo António das Areias e
Beirã, com largas manchas de
afloramentos graníticos onde
predominam as culturas de
cereais, as pastorícias,
lavouras e queijeiras; e uma
terceira zona, com elevado
património histórico, onde
se instalou a vila sede de
concelho.
Actualmente, a vila de
Marvão vive essencialmente
do turismo. Sempre difícil
foi povoar o lugar, pois,
quem escolheria o topo de
uma fraga, sem água nem
terras, para construir uma
vida? Integrado no reino de
Portugal por D. Afonso
Henriques em 1166, o
aglomerado estava
completamente em ruínas. D.
Sancho II concedeu-lhe foral
em 1226, atribuindo regalias
especiais, como isenção de
tributos e contribuições,
aos moradores que quisessem
fixar-se e construir casas
no local. D. Dinis mandou
reconstruir o castelo e a
cerca de muralhas em 1299 e
foi D. Maria II quem deu a
Marvão o título de "Mui
Nobre e Sempre Leal Vila de
Marvão". Forçando ainda o
povoamento, institui-se um
couto de homiziados em 1378
e concedem-se vários
privilégios ao longo do
século XV, como a libertação
de moradores que quisessem
fixar-se de acções judiciais
por crimes que tivessem
cometido (extinto em 1790).
Às tradicionais funções
defensivas aliam-se, no
século XVI, as de carácter
jurídico e administrativo: o
foral atribuído por D.
Manuel em 1512 constituía o
extenso concelho de Marvão
com sede na povoação. Ainda
no século XVI, a vila atinge
um pico demográfico com
cerca de 1450 habitantes em
1527. Nos dias de hoje, são
pouco mais de 185 os
habitantes residentes
intramuros.
"Visite Marvão, Burgo
Medieval!"
Castelo do Marvão
http://castelosdeportugal.no.sapo.pt
Talvez um dos mais
emblemáticos e agrestes
castelo Portugueses,
surpreende-nos pela sua
austeridade e extraordinária
beleza.
No mais alto dos píncaros da
serra de Marvão, duas
dezenas de quilómetros a
nornordeste de Portalegre,
tem assento a vila que à
serrania deu o nome, e que,
se porventura corresponde à
povoação lusitana denominada
Medobriga, entrou na
história quando, nos meados
do primeiro século da era
cristã, decorrendo as lutas
travadas na Península entre
César e Pompeu, tropas
daquele, sob o comanda do
propretor Caio Longino, a
conquistaram.
Situada a poucas
centenas de metros da ponte
da Portagem, pela qual
transpunha o Sever a rodovia
integrada no sistema vial
com que mais tarde os
Romanos dotaram a Península,
e que, vinda de Cáceres, se
dirigia a Santarém, muito
natural é que eles se
interessassem por aquele
alto que comandava o curso
do referido afluente do
Tejo.
Do que ali se
passou em tempo dos
sucessivos dominadores da
região, Romanos, Suevos,
Visigodos e Árabes, nada se
sabe com Segurança, e só dos
tempos muçulmanos, uma
tradição, com seu ar de
lendária, atribui a certo
chefe denominado Marvam a
conquista da povoação e a
origem do persistente
topónimo.
De qualquer modo,
Marvão era ainda Muçulmana
quando já as hostes do
primeiro Rei português se
tinham assenhoreado de
Alcácer do Sal, e mesmo
penetrado no coração do
Alentejo. A conquista de
Marvão pelos Portugueses é
geralmente atribuída a 1166,
ano que nalguns escritos
aparece transformado em
1116, por evidente lapso.
Aquela data corresponde
realmente à conquista e
temporária posse de Cáceres,
Montanches e Serpa,
precedida no ano anterior
pela de Trujilho e pela
reconquista definitiva de
Évora; porém, quanto a
Marvão, não se conhece
qualquer documentação que
integre a sua conquista
nessa série de operações
militares. Todavia em 1214
era já firmemente
portuguesa, pois se indica
na demarcação no termo de
Castelo Branco.
Acentuando-se os seus
progressos e o interesse
português por essa praça
fronteiriça, recebeu Marvão
foral em 1226.
Meio século depois, nos
primeiros tempos do reinado
de D. Dinis, Marvão, cujo
senhorio, conjuntamente com
os de Portalegre, Arronches
e Castelo de Vide, Afonso
III outorgara a um dos seus
filhos, Afonso Sanches,
figura de algum modo na
discórdia então travada
entre este infante e aquele
Rei, seu irmão primogénito.
Nos fins do século
XIV, Marvão tomou parte
entre as primeiras terras
portuguesas que secundaram o
Mestre de Avis, D. João, no
levantamento nacional
subsequente à morte de D.
Fernando; e, séculos
volvidos, um idêntico
sentimento patriótico fez
ecoar em Marvão o grito de
revolta de 1808, com a
primeira invasão francesa.
Povoação fortificada, Marvão
conserva quase intactas as
suas velhas edificações
militares, que no seu
conjunto representam o
somatório de reconstruções e
ampliações, paralelas à
história da vila, e cujos
inícios remontam,
possivelmente, a um passado
já romano e ao de
construções muçulmanas. Esse
conjunto é constituído por
uma muralha interior,
torreada, que cerca o
terreiro do castelo, e
adossada à qual se ergue a
torre de menagem cuja
construção é atribuída a D.
Dinis. Envolvendo esse
núcleo há uma segunda
muralha, ameada e torreada,
e por fim uma barbacã.
Finalmente, partindo
daquela, alonga-se a muralha
que circuita a vila, e na
qual, em tempos da
Restauração, foram
acrescentados alguns
baluartes de configuração
adequada à setecentista arte
militar.
Por este conjunto
cuidadosamente tem velado a
louvável Liga dos Amigos do
castelo de Marvão, que assim
simultaneamente torna
perdurante a memória do
patriótico passado da sua
terra.
Monforte – (Concelho do
Distrito de Portalegre)

Vila conquistada pelo rei D.
Afonso Henriques em 1139,
foi povoada por D. Afonso
lll, em 1257. D. Manuel l
concedeu-lhe foral novo em
1512. Monforte foi fundada
no alto de um forte monte,
o que deu
origem ao seu nome. O
castelo, com quatro
baluartes, fossos e
cisterna, possuía uma cerca
de muralhas envolvendo toda
a vila. Essa cerca foi
desmantelada depois das
convenções que se seguiram à
últimas guerras travadas com
a Espanha.
Origem do nome:
« Vilhena Barbosa em As
Cidades e Villas da
Monarchia Portugueza que têm
Brasões d’Armas – 1860»:
“Está fundada esta vila
sobre um monte alto e de
difícil acesso
principalmente do lado do
norte, e desta sua posição
tirou o nome de Monforte,
abreviatura de Monte forte.
O autor da Corografia
Portuguesa descreve a
configuração da vila do modo
seguinte: “É semelhante a
uma galé; na proa está a
torre de menagem do castelo,
com mais de três torres e
quatro baluartes, cisterna,
cava, e cerca bem
fortificada; a proa é a
torre em que está o relógio,
para a parte sul, ficando
toda ela cercada de muros
com quatro portas”.
«Do, Arquivo Histórico de
Portugal – 1890»: “É de
antiga origem – porém, a
época da sua fundação é
ignorada, e bem assim o nome
de seu fundador. É a vila
cercada de muralhas, e tem o
seu castelo, torre de
menagem, e mais quatro
torres. A povoação assenta
em um alto, segundo o uso
das antigas, sempre que
queriam fortificar qualquer
povoação”.
«Xavier Fernandes em
Topónimos e Gentílicos
(1944)»: “O nome desta vila
está em condições idênticas
às de Mon-Beja, isto é,
resultou do encurtamento da
expressão Monte Forte, o que
parece indicar um passado
heróico com cercos, combates
ou aventuras guerreiras”.
Monforte
http://www.cm-monforte.pt
Monforte, povoação antiga
conquistada aos mouros por
D. Afonso Henriques (1139),
recebeu o 1º Foral em 1257
concedido por D. Afonso III
, e o 2º em 1512 por D.
Manuel I. O Castelo bastante
primitivo, foi reconstruído
por D. Dinis em 1309.
Este Concelho é "rico" em
vestígios Pré-Históricos
(Antas e Castros), e da
Época Romana dos quais se
destaca a famosa "Villa"
Lusitano-Romana de Torre de
Palma (Séc. I a VI D.C.).
Monforte
http://www.gt.estt.ipt.pt
Elementos Históricos:
Sobre Monforte não existe
uma data precisa sobre a sua
origem ou fundador. Esta
vila está situada no alto de
um monte, onde provavelmente
já existiria uma povoação
antes da chegada dos Romanos
a esta região. Julga-se com
a chegada dos Romanos a esta
região se tenha construído
um “opiddium” (povoado
fortificado). Os muçulmanos
ocuparam-no até 1139, altura
em que foi conquistado por
D. Afonso Henriques.
Em 1168 os moradores desta
vila recebem uma carta de
concessão de privilégios
pelas mãos de D. Afonso
Henriques.
Mais tarde esta vila viria a
cair em mãos dos muçulmanos
que estariam instalados no
castro de Ayamonte (actual
cabeço de Vaiamonte).
Em 1257, D. Afonso III
concede a primeira Carta de
Foral à Vila e termo de
Monforte onde foram
concedidos amplos
privilégios aos moradores
desta vila como forma de
povoar esta região.
Em 1309 D. Dinis manda
construir uma nova fortaleza
sobre as ruínas do antigo
Castro (construíram-se
quatro torres, incluindo a
de menagem, e uma nova cerca
de muralhas reforçadas por
um largo e profundo fosso)
para desta forma proteger
esta povoação e para dar
mais segurança aos seus
habitantes.
Em 1358 são concedidos
amplos poderes aos moradores
da Vila de Monforte que
foram sempre confirmados por
todos os monarcas
portugueses. Durante a Crise
de 1383-85 esta vila foi
ocupada por Martim Anes
Barbuda, que aqui se
refugiou após a batalha dos
Atoleiros e que a manteve
sobre seu domínio durante
alguns dias.
D. João I doou esta vila ao
Condestável D. Nuno Álvares
Pereira, em data incerta
(1391-1395), pelos serviços
prestados durante a Crise de
1383-85.
D. João I concedeu aos
habitantes desta vila amplos
privilégios que foram sempre
confirmados até D. João III.
Por volta de 1515 o
Padre Fernão Zebreiro
Moutoso lança as bases do
convento do Bom Jesus de
Monforte, propriedade das
Santíssimas Freiras
Franciscanas da Ordem
Terceira, este convento só
foi reconhecido oficialmente
em 1520 através da Bula
Papal de Leão X.
Em 1542 Monforte passa a
pertencer à casa de
Bragança, como dote de D.
Isabel mulher do Duque D.
Teodósio I.
No séc. XVII, no reinado de
D. João IV, construíram-se
quatro baluartes no castelo.
Em 28 de Junho 1662 D. João
de Áustria conquista a vila
de Monforte para os
Espanhóis, mas a 11 de Julho
de 1662 e reconquistada
pelos Portugueses que
aproveitaram a retirada das
tropas Espanholas para
Badajoz. Esta praça forte
sofreu várias investidas do
Exercito Espanhol durante a
Guerra da Sucessão de
Espanha.
Em 1801 Monforte sofre uma
violentíssima investida
pelas forças Espanholas que
destruíram o Castelo
Primitivo, ficando apenas de
pé alguns panos de muralha e
uma torre de Menagem. A 9 de
Setembro de 1887, nasce
nesta vila António Sardinha
(António Monforte) grande
poeta e doutrinador
político, fundador do
Integracionismo Lusitano.
A 26 de Setembro de 1895 o
concelho de Monforte é
extinto administrativamente
durante 3 anos passando
Monforte a fazer parte do
concelho de Arronches, a 13
de Janeiro de 1898 é
restaurado o concelho de
Monforte, com as seguintes
freguesias: Monforte,
Assumar, Santo Aleixo,
Vaiamonte e Prazeres.
A 10 de Janeiro de 1925
morre António Sardinha,
vitima de Septicemia.
Tipo de Arquitectura: O
castelo medieval de Monforte
é de cariz militar.
Em 1309, por ordem do rei D.
Dinis, é construída uma nova
fortaleza em Monforte (com
quatro torres, incluindo a
de menagem, e uma nova cerca
de muralhas reforçadas por
um largo e profundo fosso),
sobre a fortaleza primitiva
No séc. XVII, no reinado de
D. João IV, construíram-se
quatro baluartes no castelo.
Do castelo, que tinha
primitivamente, quatro
torres, incluindo a de
Menagem, Torre do relógio,
quatro baluartes, cisterna,
fossos e cerca de muralhas,
com quatro portas, restam
apenas ruínas.
Relação histórica e
cultural com castelos
vizinhos: O castelo de
Monforte, juntamente com o
de Veiros, Campo Maior,
Ouguela, tinham como
objectivo a defesa da
região, impedindo as
invasões espanholas ao reino
de Portugal. Também tiveram
um importante papel na
Reconquista Cristã.
Outras Informações: Feriado
Municipal: 15 de Agosto.
Outros Locais de Interesse:
Igreja da Madalena, séc. XV
Capela do Senhor dos Passos,
sécs. XVII / XVIII
Convento do Bom Jesus, séc.
XVI
Igreja da Ordem Terceira,
séc. XVIII
Igreja Matriz, séc. XVIII
Capela dos Ossos, séc. XVIII
Igreja de Nossa Senhora da
Conceição, sécs. XVII /
XVIII
Igreja de São João Baptista,
séc. XVIII
Igreja do Calvário, sécs.
XVIII / XX
Capela do Senhor da Boa
Morte, séc. XIX
Villa Romana, de Torre de
Palma
Festas:
As Festas de Nossa Senhora
do Parto realizam-se em
Monforte, no dia 15 de
Agosto. Destacam-se nestas
festas as touradas à vara
larga e tourada picada os
arraiais a actuação de
grupos musicais e o torneio
de Futebol de Salão (onde
participam algumas das
melhores equipas do
distrito, nesta modalidade).
Nestas festas também há a
destacar as largadas de
toiros.
Nisa – (Concelho do Distrito
de Portalegre)

Contemporânea dos primeiros
tempos da Nacionalidade,
pois já existia como
concelho em 1232, no reinado
de D. Sancho ll, foi
destruída e incendiada pelas
tropas de D. Afonso, irmão
de D. Dinis, durante as
lutas que separaram estes
dois príncipes. Feita a paz,
D. Dinis mandou reconstruir
a vila e rodeá-la de
muralhas. Em 1512, D. Manuel
l outorgou-lhe foral novo. A
3 Km da vila actual
situam-se as ruínas da
antiga Niza, destruída e
abandonada no século XlV,
desconhecendo-se se este
facto se deva a uma ordem de
D. Dinis, indignado porque a
povoação tomou partido do
seu irmão na luta contra a
Coroa, ou por os habitantes
terem reconhecido as más
condições do terreno. Ali se
encontram ainda algumas
capelas, além de diversos
vestígios.
Origem do nome:
«José Leite de Vasconcelos
em Matéria Filológica –
Etimologia de Nisa – 1937»:
“Este nome, na origem, é
como tantos outros, nome de
pessoa; no nosso caso, nome
de mulher, feminino de Nisus,
que se lê numa inscrição de
Faro, publicada no Corpus,
ll, 5144. Nisus é
latinização do grego Nisos,
que foi por acaso o nome de
um rei de Mégara.
A-par-de Nisa que é
pressuposta forma
latinizada, temos nise numa
inscrição de Beja, publicada
na mesma colecção, ll, 5186
(059). Não admire o leitor
alto-alentejano de lhe dar
como estirpe de Nisa uma
grega. Com a conquista
romana da Lusitânia vieram
para cá muitos gregos, uns
como profissionais, por
exemplo do sacerdócio pagão,
e de Medicina. Possuo
coleccionados dezenas de
nomes gregos. Até se dá a
notável coincidência de
serem do sul, de Portugal as
lápides em que figuram Nisus
e Nise (=Nisa), e de ser
também meridional a vila de
Nisa.
Pois que há vários
testemunhos de influência
romana no concelho de Nisa
(lápides com inscrições,
etc.), pode entender-se que
houve em uma nesga do
território, nisorro ou na
época romana uma villa
rústica (quinta), ou já na
época portuguesa, ou pouco
antes, um monte ( em sentido
alentejano), pertença, em
qualquer dos casos, de uma
mulher Nisa. Este monte ou
esta villa rústica prosperou
e tornou-se a Nisa moderna,
ou se não foi bem assim,
propagou-se o nome, por
qualquer circunstância, ao
referido território”.
«Xavier Fernandes em
Topónimos e Gentílicos
(1944)»: “O nome desta
conhecida vila alentejana
aparece muitas vezes escrito
erradamente, isto é, com “z”
em vez de “s”. Tal grafia
não deve ser adoptada, pois
na origem do vocábulo nada
há que a justifique.
Nisa veio de Nissa e, quer
seja o nome da referida vila
do distrito de Portalegre,
quer designe várias antigas
cidades gregas, quer seja
mitónimo, quer ainda
antropónimo feminino, que
também pode ser, deve ser
sempre escrito com “s”,
única forma aceitável à luz
da etimologia e por isso
mesmo recomendada pela nossa
ortografia oficial.
Vem a propósito dizer que
também existe a forma Niza,
com “z”, mas esta é um nome
comum, que se designa
determinada peça de
vestuário. Tem origem turca
e não se relaciona com Nisa,
nome próprio. …
Ocorre-nos referir aqui a
uma nota encontrada
posteriormente e na qual se
afirma que o topónimo Nisa
proveio da forma feminina de
Nisus, que por sua vez é a
latinização do grego Nésos,
nome dum rei de Mégara.
Na página 64 do “Cadastro da
População do Reino – 1527”,
lê-se Vjla de Njsa, o que
constitui mais um indício de
que é errada a grafia do
vocábulo com “z””.
Nisa
http://www.cm-nisa.pt/nisa_historia.htm
Atendendo ás últimas
investigações sobre a
fundação da Vila de Nisa da
responsabilidade do Prof.
Carlos Cebola, podemos
avançar com factos novos que
vieram trazer uma nova
versão da mesma o que muito
enriqueceu o nosso
conhecimento sobre a
história de Nisa. Neste
sentido os factos
apresentados são fruto dessa
investigação.
Em 1199 D. Sancho I doa a
Herdade da Açafa á Ordem do
Templo, este território era
delimitado, de modo muito
sumário a norte pelo Rio
Tejo e a sul detinha parte
do território dos actuais
concelhos de Nisa, Castelo
de Vide e parte do
território espanhol junto á
actual fronteira. Estas
doações tinham como
objectivo fixar moradores em
zonas ermas e despovoadas e
consequentemente defender o
território.
Os Templários edificaram uma
fortaleza que os defendesse
dos infiéis e sinalizava a
posse desses territórios. Ao
mesmo tempo o monarca
anuncia a vinda de colonos
franceses, que chegaram de
forma faseada, sendo o
último grupo destinado ao
povoamento do território da
Açafa.
Instalaram-se junto das
fortalezas construídas pelos
monges guerreiros e aí
ergueram habitações,
fundaram aglomerados
populacionais a que deram o
nome das suas terras de
origem. É neste sentido que
surge possivelmente o de
Nisa, ou seja sendo os
primeiros habitantes
oriundos de Nice, ergueram
aqui a sua “ Nova Nice” ou
melhor dizendo, a Nisa a
Nova, que encontramos nos
documentos, e quando surge o
termo Nisa a Velha, este
refere-se á sua antiga terra
de origem, a Nice francesa.
Assim terão nascido Arêz (de
Arles), Montalvão (de
Montauban), Tolosa (de
Toulouse), cidades do Sul de
França.
O primeiro Foral foi dado á
Vila de Nisa entre 1229 e
1232, pelo Mestre Dom Frei
Estêvão de Belmonte.
Em 1512 D. Manuel I atribuiu
novo Foral á Vila,
aparecendo a palavra Nisa
escrita com dois “ss “, ou
seja Nissa, provavelmente
sob a influência da palavra
Nice.
Em 1343, D Afonso IV estava
em guerra aberta com o seu
genro, Afonso XI de Castela,
o que colocava em risco toda
esta zona fronteiriça, daí o
Mestre da Ordem ter
solicitado ao Rei a
construção de uma muralha
para protecção da população,
pedido este que foi aceite.
D João I atribui o título de
“ Notável” á Vila de Nisa e
D. João IV por carta régia
de 13 de Outubro eleva Nisa
á Categoria de Marquesado,
de que fez mercê a D. Vasco
Luís de Gama, 5º Conde da
Vidigueira.
Ao Concelho de Nisa foram
anexados os de Arêz e
Montalvão por decreto de 6
de Novembro de 1836 e os de
Alpalhão e Tolosa no decreto
de 3 de Agosto de 1853,
tendo sido desanexadas em
1895 e novamente anexadas em
1898.
A freguesia de Amieira do
Tejo passou para o concelho
do Gavião em 1836, mas
transitou para Nisa através
de decreto de 26 de Setembro
de 1895.
Ponte de Sor – (Concelho de
Portalegre)

Origem do nome:
«Do; Domingo Ilustrado –
1899»: “ Está edificada em
solo plano e pouco mimoso,
junto do rio Sor, que aqui
tem uma ponte. O nome
provém-lhe desse rio, e da
respectiva ponte”.
«Primo Pedro da Conceição em
“Notas Históricas e
Descritivas do Concelho de
Ponte Sor»: “O nome
deriva-lhe do rio e de uma
enorme ponte de pedra
construída pelos romanos, de
que não restam vestígios.
Perde-se na noite dos tempos
a data da sua fundação,
ignorando-se quem foram seus
fundadores. Sabe-se por um
marco milenário que existe
no Museu Arqueológico dos
Jerónimos e que foi
encontrado na estrada em
direcção a Alter do Chão,
que a ponte já existia no
tempo do Imperador romano
Marco Aurélio Probo, que foi
aclamado pelas suas tropas
no ano 276 de Jesus Cristo,
e por elas morto em 282.
Aqui existiu a povoação de
Matusarum que alguns
escritores dizem ter sido
uma cidade, que era uma das
estações do percurso da 3ª
via militar romana de Lisboa
a Mérida, e demora entre as
estações de Aritium
Pretorium (Benevante) e
Abeltério (Alter do Chão)”.
Ponte de Sor
http://www.geocities.com/ponte_de_sor/pt
O nome da povoação deve-se à
primitiva ponte romana, que
integrava o percurso da 3ª
via militar que ligava
Lisboa a Mérida. Zona de
instabilidade de fronteiras
durante a reconquista, Ponte
de Sor, inicialmente
património dos Templários,
foi reconquistada pela Ordem
de S. Bento. O seu primeiro
Foral é-lhe outorgado pela
Sé de Évora, em 1161, e mais
tarde confirmado por D.
Manuel. Desaparecida a ponte
romana, D. João VI mandou
construir em 1822 a actual
ponte. Ponte de Sôr foi
elevada a cidade em 1985.
Ponte de Sor
http://www3.flickr.com/photos
Aspectos Geográficos
O concelho de Ponte de Sor,
do distrito de Portalegre,
ocupa uma área de 839,5 km2
e abrange sete freguesias:
Galveias, Montargil, Ponte
de Sor, Foros de Arrão,
Longomel, Vale de Açor e
Tramaga.
O concelho encontra-se
limitado a nordeste pelos
concelhos de Gavião e Crato,
a este por Alter do Chão e
Avis e a sudeste por Mora,
no distrito de Évora.
Este concelho apresentava,
em 2001, um total de 18 140
habitantes.
Possui um clima marcadamente
mediterrânico, caracterizado
por uma estação seca, bem
acentuada no Verão, e por
uma precipitação irregular.
O edificado estende-se na
transição da planície
alentejana para os montados
do Alto Alentejo, na
intersecção de um nó de uma
via de comunicação
importante. O relevo é pouco
acidentado, apresentando uma
morfologia suave, com
altitudes que pouco
ultrapassam os 200 m e onde
se destacam dois montes,
Barracão (185 m) e Cabeços
(203 m).
Como recursos hídricos,
destacam-se a ribeira de Sor,
a ribeira de Andreu, a
ribeira do Vale de Boi, a
ribeira do Maltim, a ribeira
do Arrão e a barragem e
albufeira de Montargil.
História e Monumentos
Existem referências a estas
terras, que datam do final
do século III, no reinado do
imperador romano Marco
Aurélio Probo, como fazendo
parte da via militar romana
entre Olissipo (Lisboa) e
Mérida. Na Idade Média, a
ponte construída sobre a
ribeira de Sor ruiu trazendo
o isolamento à povoação. No
reinado de D. Sancho I, em
1199, a Sé de Évora concedeu
o primeiro foral à vila. No
reinado de D. Duarte, na
altura de um surto de peste
em Lisboa, a Corte
refugiou-se neste concelho.
Em Agosto de 1514, foi-lhe
outorgado novo foral por D.
Manuel I.
A origem do topónimo deve-se
à existência da ponte romana
sobre a ribeira de Sor,
sendo portanto o ex-líbris
do concelho.
A nível do património
arquitectónico e monumental,
destaca-se a ponte de Sor,
que originariamente seria de
origem romana, mas dado ter
ruído a actual data do
reinado de D. João VI.
Destacam-se ainda a Igreja
Matriz, do século XVII, que
foi reedificada após um
incêndio e que apresenta um
belo altar de ferro forjado
na janela da sacristia; a
Igreja da Misericórdia,
anterior a 1731, as capelas
de S. Pedro e de Santo
António, datadas do século
XVII, e a Igreja de Nossa
Senhora da Orada.
Tradições, Lendas e
Curiosidades
Das manifestações populares
e culturais, a referência
vai para as festas da
cidade, realizadas na
segunda semana de Julho e
onde decorrem várias
actividades, como um
festival folclórico,
espectáculos e um festival
de artesanato e gastronomia,
a festa de Nossa Senhora dos
Prazeres, que ocorre entre
13 e 15 de Agosto, o
piquenique de
confraternização e o feriado
municipal, na segunda-feira
de Páscoa, em que tem lugar
um piquenique de
confraternização para toda a
população do sítio de
Salgueirinho, a Feira de São
José, no dia 19 de Março, e
a Feira de S. Francisco, que
decorre de 4 a 6 de Outubro.
A nível do artesanato são de
referir os bordados, as
rendas, as malhas, a
cestaria de vime, os
trabalhos decorativos de
cortiça, de mármore e de
madeira.
Economia
No concelho predominam as
actividades ligadas ao
sector terciário e
secundário. No sector
secundário destacam-se as
indústrias de extracção de
cortiça, de descasque de
arroz, de cerâmica, de
azeite, de lacticínios e de
montagem de veículos
automóveis. No sector
primário, de menor
importância na economia
concelhia, o destaque vai
para a vasta área florestal.
No que se refere à
agricultura, destacam-se os
cultivos de cereais para
grão, prados temporários e
culturas forrageiras,
cereais para grão, os prados
temporários e culturas
forrageiras, as leguminosas
secas para grão, o pousio, o
olival, prados e pastagens
permanentes. A pecuária tem
também alguma importância,
nomeadamente na criação de
aves, ovinos e suínos.
Quase 53% (15 649 ha) do seu
território são cobertos de
floresta - o montado de
sobreiros.
Ponte de Sor
http://www.pontedesor.info/cidade.htm
HISTÓRIA
Ponte de Sor assume uma
importância territorial
desde a época romana (por
fazer parte da via romana de
Lisboa a Mérida), altura em
que se aponta ter sido
construída a ponte romana e
que consequentemente fixou o
nome à terra. Foi elevada a
vila por D. Manuel, que lhe
concedeu foral novo em 1514.
Na sua história surgem
referências à ordem dos
Templários, bem como à
protecção de D. Sancho I e
aos privilégios de D. Dinis
e D. Fernando e a um foral
concedido pela Sé de Évora
em 1199, tendo em vista o
povoamento da zona. Em 1822
vê surgir uma nova ponte,
por ordem de D. João VI e
que mais tarde foi
reconstruída. Em 8 Julho de
1985 é elevada a cidade.
PRINCIPAIS VIAS DE ACESSO
Por estrada pela EN 2 e a EN
244 e pelos
Caminhos-de-ferro, com
estação própria, pela linha
do oeste.
ACTIVIDADES ECONÓMICAS
Extracção e indústria de
cortiça, indústria de
componentes mecânicos,
produção e comércio de
temperos para restauração,
construção civil, comércio e
reparação automóvel, rações
para gado, comércio de
bebidas, agricultura,
cerâmica, comércio e
serviços. Recorde-se que já
foi também referência em
termos de produção de
azeite, com os seus lagares,
lacticínios, arroz, e
cereais.
ARTESANATO
Cestaria, latoaria,
miniaturas tradicionais em
cortiça, barro.
Sousel – (Concelho do
Distrito de Sousel)

Uma lenda muito arreigada na
tradição local atribui e sua
fundação a Condestável D.
Nuno Álvares Pereira, o que
parece desmentido pelos
documentos, uma vez que o
foral de Estremoz, datado de
1285, já lhe fazia
referência.
Origem do nome:
«Pinho Leal em Portugal
Antigo e Moderno – 1880»: “
Foi fundada pelo famoso
Condestável D. Nuno Álvares
Pereira em 1387. Consta que
foi este mesmo D. Nuno que
lhe pôs o nome porque,
estando para dar aqui uma
batalha aos castelhanos, lhe
vieram dizer (quando estava
orando) que o inimigo se
aproximava, ao que ele,
aprontando-se para a peleja,
respondeu – Ora sus a
el-frase comum naquele
tempo, como quem diz – Eia,
vamos a ele !. Como os
portugueses ficaram
vitoriosos, mandou o
Condestável construir ali
uma ermida dedicada a Nossa
Senhora da Orada, edificando
junto a ela uma povoação, a
que deu o nome de Susael,
que facilmente se corrompeu
em Sousel”.
«José Mira em Concelho de
Sousel»: “ Torna-se difícil
saber a origem do nome de
Sousel, estando fora de
dúvida de que a povoação é
muito antiga, datando dos
primeiros tempos da
monarquia.
Sendo assim, tem de ser
posta de lado a lenda que dá
o nome de Sousel como
derivado da frase por D.
Nuno Álvares Pereira, na
batalha dos Atoleiros – “sus
a eles” – como hoje se diria
– Vamos a eles que por
corrupção popular deu
Sousel.
Mas sendo esta vila de
fundação mais antiga do que
a época em que se passou o
facto acima referido, visto
haver referências a Sousel
na Torre do Tombo que dão
esta vila coeva da Monarquia
Lusitana.
A origem do nome, pois,
deve-se procurar por outro
lado e nós alvitramos duas
hipóteses que qualquer delas
pode ser viável, mas
deixamos a resolução dos
problemas aos eruditos.
Sabe-se que no tempo de D.
Sancho ll, em 1223, habitou
nos terrenos onde hoje está
edificada esta vila, um
indivíduo, de nome “Mem
Sousão” que deve ter sido o
primeiro habitante do lugar.
Como Sousel é um diminutivo
de Sousa, pode muito bem ter
sido ele que deu o nome à
vila, de que teria sido o
fundador.
Por outro lado, como os
campos desta vila, são de
uma grande fertilidade em
funcho de seizil, a tal
ponto que nasce
espontaneamente em qualquer
lugar, poderá também
filiar-se a derivação do seu
nome neste facto, admitindo
que por corrupção seizil
facilmente deu Sousel.
Carecemos de competência
para a resolução de tal
problema, limitando-nos
simplesmente a lançar duas
hipóteses, esperando que
algum dia se faça luz sobre
o assunto”.
« »:” A respeito do que fica
transcrito de Pinho Leal,
escreve Xavier Fernandes,
nas páginas 208 / 209 do Vol
ll dos seus Topónimos e
Gentílicos (1944), o
seguinte:
“Nem a filologia nem a
história se compadecem com o
que fica transcrito. Bastará
notar que a existência da
povoação – actual vila e
concelho do Distrito de
Portalegre – vem dos
primeiros tempos da
Monarquia Portuguesa e que
ao seu nome se referem
antiquíssimos documentos –
muito anteriores ao suposto
facto a que aludiu Pinho
Leal – arquivados na Torre
do Tombo. Como, pois, ter
sido Nuno Álvares Pereira o
fundador da citada vila
alentejana ? E como estar o
étimo do topónimo Sousel na
expressão fragmentada sus a
el?. De mistura com
tantíssimas informações
valiosas, não poucas vezes o
autor do Portugal Antigo e
Moderno deu largas à
fantasia, devaneando a seu
bel-prazer, e só assim se
explicam alusões como as que
apresentou.
Transcreve também a opinião
de José Mira, terminando por
dizer que até esta altura
continua o problema por
resolver, pois o que fica
transcrito não passa de
simples hipóteses e como
tais as apresenta o próprio
autor”.
Sousel
http://www.cm-sousel.pt/hist.htm
Ao longo do século XIX,
Sousel sofreu diversas
vicissitudes de ordem
administrativa, sendo
inúmeras vezes suprimido
como sede de Concelho, e
outras tantas restaurado.
Cano, a mais antiga povoação
do Concelho de Sousel; Casa
Branca, que se pensa ter
herdado o nome de uma casa
isolada feita de pedra
caliça; e Santo Amaro
situado num pequeno vale
depressionário, todas estas
povoações têm uma história
para contar. Venha daí e
conheça o passado do
Concelho de Sousel e das
suas quatro freguesias.
Sousel
http://www.cm-sousel.pt/his_sous.htm
Sousel, Vila situada a norte
do Alentejo Central, é sede
de concelho de segunda
ordem, faz parte do Distrito
de Portalegre, do qual dista
cerca de sessenta
quilómetros, estando
integrado na Comarca de
Estremoz e Diocese de Évora.
Na primeira metade do século
XVIII era Concelho, que além
da freguesia sede (Sousel),
tinha a freguesia de S. João
Baptista com as ermidas
anexas de S. Pedro, S.
Lourenço, S. Miguel e S.
Bartolomeu da Serra. O
município era governado no
cível por um juiz de fora,
três vereadores, um escrivão
de câmara, um procurador do
Concelho, um juiz dos órfãos
com o seu escrivão e dois
tabeliães do judicial e
notas.
Na Vila de Sousel , sede de
Concelho, na actual Praça da
República está situado o
edifício dos Paços do
Concelho, os quais depois de
passarem por diferentes
transformações, voltaram à
traça primitiva, com a porta
principal ao centro da
fachada da frente e o
pelourinho ao lado do
edifício.
No edifício da Câmara
Municipal de Sousel, merece
especial atenção a imagem em
alto relevo do mártir S.
Sebastião, ainda hoje
considerado por muitos o
padroeiro da Vila. Esta
imagem foi reconstruída
recentemente e encontra-se
na abobadilha da Sala das
Sessões, do edifício da
Câmara Municipal.
Anteriormente, o município
de Sousel, usava no seu
brasão a imagem de S.
Sebastião. Contudo,
resolveu-se que a Heráldica
estudasse uma constituição
mais de acordo com a vida
histórica e económica do
concelho. Assim, segundo o
parecer da Associação dos
Arqueólogos: " As armas e a
bandeira de Sousel foram
fixadas por Portaria nº 7492
de dois de Janeiro de 1933,
e que são: as armas de azul,
com duas setas de ouro
cruzadas em aspa,
atadas de vermelho e
acompanhadas de quatro
abelhas de ouro; Contra-
chefe ornado de prata e
azul. Coroa mural de quatro
torres de prata. Listel
branco com letras pretas. A
bandeira amarela com
cordões, borlas, haste lança
de ouro".
Sousel é terra antiga, de
ruas estreitas e tortuosas,
e ao contrário da grande
maioria das povoações
alentejanas, não é limitada
por grandes propriedades. A
explicação para esse facto é
simples: em volta da vila
houve terras coutadas da
Casa de Bragança, que no
século XIX foram divididas e
que assim se mantêm, os
chamados "coutos".
Um curioso regime
associativo dos
proprietários - A Comissão
de Pastos - permitia a
utilização das pastagens em
sítios determinados pelo
sistema de leilão, o que
beneficiava os proprietários
e permitia a divisão
equitativa dos lucros e dos
benefícios, tendo as suas
atribuições sido englobadas
no Grémio da Lavoura.
Em relação às feiras, a mais
importante e a mais antiga
que entrou na história do
município é a Feira Anual de
S. Miguel, na Vila de
Sousel, que data de há mais
de duzentos anos. No " Livro
de Receitas e Despesas da
Vila de Sousel", onde se
registavam todas as
arrematações de vendas do
Concelho e Vila, encontramos
a primeira referência ao
acto de arrematação do
terrado da feira, feita
perante o juiz de fora e
oficiais da Câmara, a quinze
de Setembro de 1765, em que
o juiz de fora " manda pôr
em pregão na praça pública
desta vila o terrado da
feira, pela quantia de vinte
mil réis!".
Trabalho e pesquisa de
Carlos Leite Ribeiro –
Marinha Grande -
Portugal
|
|

Envie
esta Página aos Amigos:



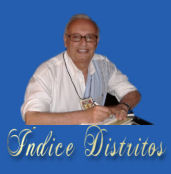


Por favor, assine o Livro de Visitas:

Todos os direitos reservados a
Carlos Leite Ribeiro
Página criado por Iara Melo
http://www.iaramelo.com
|