|
Trabalho e pesquisa de
Carlos Leite Ribeiro
Concelhos de: Aguiar da Beira –
Almeida – Celorico da Beira –
Figueira de Castelo Rodrigo, Fornos
de Algodres – Gouveia – Guarda
(Concelho da) – Manteigas – Meda –
Pinhel – Sabugal – Seia – Trancoso –
Vila Nova de Foz Côa
Distrito português, pertencente
à província tradicional da Beira
Alta, salvo os concelhos mais a
norte, que pertencem a
Trás-os-Montes e Alto Douro.
Limita a norte com o Distrito de
Bragança, a leste com a Espanha,
a sul com o Distrito de Castelo
Branco e a oeste com o Distrito
de Coimbra e com o Distrito de
Viseu. Área: 5518 km². Capital e
Sede de distrito: cidade da
Guarda.
Apontamento do ano de 1900
(Jornal do Comércio):
“Distrito da Guarda, é formado
pela antiga província da Beira
Baixa, tem uma superfície de
548.220 Km2 e uma população de
261.630 habitantes. Compreende
14 concelhos e 329 freguesias.
Povoações mais importantes:
Guarda Pinhel e Almeida. Região
montanhosa, em grande parte nos
contrafortes da Serra da
Estrela. É banhado pelo Rio
Douro, que separa este distrito
do de Bragança, pelos afluentes
da margem esquerda deste rio, e
ainda pelos rios, Águeda, Côa,
Aguiar, Torto, Távora; Mondego e
seu afluente Alva, e pelo
Zêzere. Indústria de panos de lã
chamados de Saragoça. Minas de
chumbo e estanho”.
Guarda – (Capital e Concelho do
Distrito de Guarda)

Origem do nome:
Afonso lll, das Astúrias,
derrotou os mouros em Coimbra,
Viseu, Lamego e Chaves; e,
julgando indispensável pôr um
forte obstáculo às correrias dos
mouro de Alcântara (Espanha) e
dos que habitavam os campos de
Idanha-a-Velha, escolheu o
ponto, já pela natureza
defensável, da Serra da Estrela,
e ali fez construir um temeroso
e altíssimo castelo, além de
servir para o que já dissemos,
fosse também atalaia, vigia,
sentinela ou “guarda”. Eis
porque à fortaleza se deu o nome
“Garda” ou “Warda”, que hoje se
diz GUARDA.”. (Domingo Ilustrado
de 1898).
Outra opinião;
“A cidade da Guarda tirou,
segundo todas as possibilidades,
o nome da sua posição
estratégica:
O ponto haverá sido a guarda ou
sentinela contra a moirama.
Forma antiga de Guarda era “Garda”,
mas isso não admira; “guarda”,
“guardar” , “guardante” , etc.,
eram em português antigo (e
ainda são hoje em bocas
populares) “garda”, “gardar”,
etc.. O nosso povo, em muita
parte, prefere – “garda” aí
isso; “gardei” etc.”. (Prof. Dr.
Vasco Botelho do Amaral – 1949).
A cidade da Guarda é capital de
distrito e cabaça de concelho;
fica num contraforte da serra da
Estrela (a mais alta de Portugal
- 2.000 metros do nível do mar).
Têm sido encontradas
antiguidades pré-históricas e
romanas. Tem sanatório e igreja
gótica. O concelho tem 53
freguesias e 41.900 habitantes.
O distrito da Guarda tem uma
superfície de 548,220 Km2 e uma
população de 261.630 habitantes:
compreende 14 concelhos e 329
freguesias. Os concelhos são:
Aguiar da Beira, Almeida, Ceia,
Celorico da Beira, Figueira de
Castelo Rodrigo, Fornes de
Algores, Gouveia, Guarda,
Manteigas, Meda, Pinhel,
Sabugal, Trancoso, Vila nova Foz
Coa. Região muito montanhosa, em
grande parte pelos contrafortes
da serra da Estrela. O distrito
é banhado pelo rio Douro, que
separa o distrito do de
Bragança, pelos afluentes da
margem esquerda do Douro, rios
Águeda, Coa, Aguiar, Torto e
Távota; pelo rio Mondego e seu
afluente Alva e pelo rio Zêzere
(afluente do rio Tejo).
Indústria Textil e minas de
chumbo e de estanho.”.
Nos fins do século Xll, o lugar
onde se ergue a cidade da
Guarda, era um ermo. Foi povoado
por ordem de D. Sancho l, que
lhe concedeu foral e regalias em
1199 e para aqui fez transferir
a sede da diocese. Este primeiro
foral foi confirmado pelo mesmo
rei em 1217 e 1229 e mais tarde
em 1254, por D. Afonso lll.
Em 1465, foram convocadas as
Cortes na Guarda, por D. Afonso
V.
D. Manuel l outorgou-lhe foral
novo em 1510 e concedeu a seu
filho D. Fernando o título de
Duque da Guarda.
A fundação da Guarda ficou
imortalizada pela pena do poeta
e rei D. Sancho l, que pôs na
boca da sua amada a famosa
cantiga de uma amigo que hoje se
pode ver gravada em placa de
mármore num prédio da rua D.
Shancho l, onde, segundo a
tradição, o rei teria vivido e
ditado a canção, quem sabe se
inspirado nos olhos doces e
belos da Ribeirinha, a mulher
sedutora e amante:
“Ay eu coitada / Como vivo en
gran cuidado / Por meu amigo /
Que ei alongado !
Muito me tarda / O meu amigo na
Guarda !
Ay eu coitada, / Como vivo em
gran desejo / Por meu amigo /
Que tarda e não vejo !
Muito me tarda / O meu amigo na
Guarda !” (D. Sancho l).
À Guarda chama-lhe o povo farta,
forte, fria, falsa e feia.
Ao primeiro epíteto liga-se a
abundância doas suas terras.
Da sua fortaleza qinda falam os
troços e portas das muralhas e a
torre de menagem do castelo,
erguida a 1056 metros de
altitude.
Quanto ao clima, agreste, frio e
seco, ele poderá ser
experimentado por quem rume à
cidade em dia de Inverno.
Do século XlV lhe advém o apodo
de falsa, pois, durante a crise
de 1383-1385, o bispo da cidade,
Afonso Correia, franqueou as
portas do seu paço ao rei de
Castela, em contraste com a
atitude do alcaide-mor, Álvaro
Gil, que se negou a entregar-lhe
as chaves do seu castelo – e
bastou a atitude de um homem
para que não mais se apagasse da
memória das gentes a traição da
cidade.
A cerca de “feia”, é um epíteto
completamente injusto ...
Pouco de sabe de épocas mais
recuadas, já que se perderam
quase por completo documentos
sem os quais é praticamente
fazer a sua história.
Todavia, pode sentir-se pulsar a
vida da urbe medieval ao
percorrer-se lentamente as ruas
estreitas e sinuosas da parte
velha da cidade, que abraça a
Igreja de São Vicente.
Se escasseiam os documentos
escritos relativos aos primeiros
tempos da cidade, não faltam,
porém, os documentos
imperecíveis. São os troços de
muralha e as três das seis
portas primitivas, na sua maior
parte construídas com pedras
sigladas. De salientar a que
hoje se chama Torre dos
Ferreiros, que possuía uma porta
de guilhotina e troná-la quase
inexpugnável e de onde pode
admirar-se um extraordinário
panorama. O castelo conserva
lanços de muralhas da cerca
primitiva, a torre de menagem,
que data do século Xll, e a
Torre de Ferreiros,
provavelmente do século Xll. Nas
muralhas rasgam-se três portas,
das quais uma com guilhotina,
única em Portugal. A construção
é desprovida de ameias, e o
caminho de ronda segue no
interior através do alto muro.
A Rua dos Ferreiros, cujo nome
recorda as corporações
medievais, continua ainda hoje a
vender os mais variados
objectos, desde o artesanato de
folha-de-flandre às modernas
armas de caça.
Na época de D. João l, começou a
construção da catedral, o
ex-libris da cidade. A anterior
havia sido demolida, por motivos
estratégicos, no reinado de D.
Fernando l. As obras terão
principiado em 1390 e só viriam
a terminar no segundo quartel do
século XVl. Ao mesmo tempo
levava-se a cabo, na vila da
Batalha, a contrução da jóia do
gótico português ( o Mosteiro de
Santa Maria da Vitória).
Enquanto nesta se recordava a
mais dura e decisiva batalha
travada pelos portugueses para a
conquista da sua independência,
naquela mostra-se a altivez e
grandeza lusíadas ao reguer-se,
mesmo junto à fronteira,
monumento tão grandioso. O rico
da Catedral da Guarda ficou a
dever-se a Filipe e Pedro
Anriques, filhos de Mateus
Fernandes, um dos arquitectos do
Mosteiro de Santa Maria da
Vitória (Batalha).
No interior da Sé não se pode
deixar de admirar o retábulo, a
maior obra saída da oficina
coimbrã de João Ruão. É um
grandioso quadro escultórico com
mais de 100 figuras, no qual
perpassa toda a vida de Cristo,
desde o nascimento à morte na
cruz. Na Capela dos Pinas
encontra-se o túmulo do fundador
da catedral, que, segundo a
tradição, se teria lançado do
terraço de cobertura quando,
tendo desafiado a população a
pôr algum defeito na sua obra,
uma “velhinha” declarou ser o
portal excessivamente pequeno
para um conjunto tão majestoso.
No declinar do século XV, dois
acontecimentos agitaram a vida
da pacata cidade que ao tempo a
Guarda devia ser: e expulsão dos
Judeus de Espanha, ordenada
pelos Reis Católicos, e a
ratificação do Tratado de
Tordesilhas, assinado em 1494,
que se teria verificado no
edifício onde estão instalados
os Paços do Concelho. Trata-se
de um prédio com uma elegante
galeria no rés-do-chão, que
termina em platibanda encimada
por esferas armilares e
pináculos.
A expulsão dos Judeus de Espanha
deve ter representado uma lufada
de ar fresco na vida e no
comércio citadinos. Situando-se
a Guarda junto à fronteira, aqui
se deve ter estabelecido grande
número de israelitas, como aliás
sucedeu em muitas outras zonas
fronteiriças. Aqui eles teriam
ocupado um bairro que por isso
passou a chamar-se Judiaria e
que se estenderia ao longo da
actual Rua do Amparo, onde um
lintel de uma porta ostenta
ainda uma inscrição judaica.
Mas a estada do Judeus na cidade
não data apenas dessa época. Já
no reinado de D. João 1 aqui
viviam, e foi de cepa israelita
que haveria de sair a lustre
Casa de Bragança, quando o rei,
apaixonado pela bela e doce
jovem Inês Fernandes, filha do
sapateiro Barbadão, lhe gerou um
filho que iria a ser o primeiro
Duque de Bragança (D. Afonso, 3º
Conde de Barcelos e 1º Duque de
Bragança, filho de D. João l de
de D. Inês Fernandes. Na
Monarquia Portuguesa
encontram-se muitos titulares
Judeus). O sapateiro, morador na
actual Rua de D. Sancho, era
homem honrado e simples, e em
sinal de penitência pelo erro da
filha não mais fez a barba até
ao fim da vida, razão pela qual
ficou para sempre conhecido pela
alcunha de o Brabadão.
Deste século e dos seguintes
serão muitos dos edifícios que
ladeiam hoje a Praça da Sé,
magnífico quadrilátero
arquitectónico com a Sé Catedral
a norte, os Paços do Concelho a
oriente, a sul uma interessante
galeria coberta onde a tradição
comercial se mantém e do lado
ocidental, a fechar a praça, uma
bela varanda de solar com
capitéis jónicos. No edifício
sobre a galeria, uma das
gárgulas indica a data da
construção: 1693.
A praça, outrora coração da
cidade, continua hoje a cumprir
a sua função social, podendo
ver-se os Guardenses, em dias de
Primavera, a deambular ao longo
dos passeios.
Do século XVll são também o
edifício que foi construído para
seminário e paço episcopal, no
qual se abrigam hoje vários
serviços públicos, e o Museu
Regional. O século, século da
renovação e revolução barrocas,
deixou marcas indeléveis na
cidade, como as Igrejas de São
Vicente e a Igreja da
Misericórdia.
A primeira construída pelo bispo
D. Jerónimo Rogado Pereira, tem
uma fachada ladeada pelas torres
sineiras e magníficos painéis de
azulejos da época. Nelas
perpassa toda a vida de Cristo e
Sua Mãe, a Virgem Santíssima,
desde o casamento com São José
às cenas da Via Sacra. Os
altares, exemplares típicos do
barroco tardio, são do mesmo
período estilístico.
Quanto à Igreja da Misericórdia,
é um templo barroco da época de
D. João V. A fachada, tal como a
de São Vicente, é ladeada por
duas torres sineiras. Termina em
frontão com arquitrave, friso e
cornija. Um baldaquino abriga um
imagem de jaspe da Virgem da
Misericórdia. No interior, são
notáveis os altares, que se
podem incluir no estilo rococó.
No nosso século, e sobretudo nas
últimas décadas, a Guarda tem
sido profundamente marcada pela
imigração. A construção de
edifícios modernos tem
contribuído para a renovação da
cidade, dando-lhe um aspecto
fresco e agradável.
Guarda
http://www.mun-guarda.pt
O
Concelho da Guarda fica
localizado na província da Beira
Alta, confinante com os
concelhos de Celorico da Beira,
Pinhel, Sabugal, Manteigas e
Belmonte. Trata-se de um
concelho de dimensão média,
composto por 52 freguesias
rurais e três urbanas,
compreendendo três bacias
hidrográficas: Mondego, Côa e
Zêzere.
Situa-se no último esporão Norte
da Serra da Estrela, sendo a
altitude máxima de 1056 m (na
Torre de Menagem do Castelo),
dominando a portela natural do
planalto beirão. Corresponde à
cidade mais elevada do país, com
domínio visual dos vales do
Mondego e do Côa, o que cedo se
manifestou como carácter
preponderantemente defensivo.
As condições que o concelho
apresenta não são as mais
propícias à instalação de uma
comunidade humana, todavia
alguns elementos permitem datar
uma presença humana em épocas
remotas, como o final do
Neolítico, princípios do
Calcolítico, com um testemunho
funerário, a anta de Pêra do
Moço (freguesia de Pêra do
Moço), datada do IIIº milénio.
Por todo o concelho encontram-se
vestígios da Idade do Bronze e
do Ferro, em sítios com uma
defensabilidade natural,
dominando vastos vales. Esta
presença está, sem dúvida,
relacionada com a prática da
mineração, nomeadamente do ferro
e do chumbo, e o controlo das
portelas naturais, por onde
circulavam as rotas do minério.
Em período medieval, a Guarda
faria parte de uma malha de
fortificações, sendo uma das
mais importantes na escala
hierárquica. Desta malha faziam
parte outros castelos que teriam
como função a defesa da
fronteira com Castela e Leão, e
da portela natural de travessia
da Serra da Estrela. Do castelo
da Guarda é possível um contacto
visual com outras fortificações,
como o Castro do Jarmelo (com
ocupação medieval), Celorico da
Beira, Trancoso, entre outros.
"O papel que à Guarda foi
destinado pelo seu fundador,
que, em última análise, apenas
pretendia ocorrer às
necessidades políticas do reino,
era o «guardar» a fronteira,
ligando pela supremacia militar
e topográfica as fortificações
[...] como Linhares, Celorico,
Trancoso[...]" (AGUIAR, 1941a:
29).
Foi a posição de destaque da
cidade face ao território
envolvente e compreendendo a
importância de uma cidade
poderosa no local em questão que
levou D. Sancho I a atribuir
foral à Guarda, a 27 de Novembro
de 1199, visando o seu
desenvolvimento e prosperidade.
A história da cidade da Guarda,
nomeadamente do planalto que o
Centro Histórico ocupa, tem
início em época medieval, com os
alvores da nacionalidade
portuguesa . É sobretudo com o
avanço do processo da
reconquista até à linha do
Mondego, com a conquista da
cidade de Coimbra, que os
monarcas portugueses se vão
preocupar com a criação de
mecanismos de defesa que
permitam a formação de barreiras
face aos avanços almóadas e
leoneses para territórios
recentemente conquistados.
Assim, a instalação de pequenas
comunidades em locais
estratégicos, as atalaias, era
um processo urgente de
implementar, como forma de
defender a fronteira e as
portelas naturais.
Este será o caso da cidade da
Guarda, cuja génese corresponde
a uma pequena fortificação,
conhecida como a Torre Velha,
localizada na zona do Torreão.
Como afirma SOUSA a cidade antes
da atribuição do foral
"[...]mais não seria que uma
comunidade de pequena dimensão,
dinamizada por colonos da
região, mas também por alguns
francos, guardada por uma
pequena atalaia ou torre - uma
guarda - que vigiava a
circulação de gentes e bens que
percorriam a via colimbriana, o
principal eixo de penetração no
planalto beirão." (SOUSA, 1999:
15).
As cidades portuguesas
apresentam, no século XII,
várias características comuns:
muralhas de forma triangular ou
trapezoidal, localizadas ao
longo de uma colina, sobre um
rio, com distinção entre a
cidade alta, a alcáçova e a
almedina (a cidade baixa).
Um dos marcos de referência das
cidades medievais são as igrejas
do interior do perímetro
muralhado, que terão certamente
influído na organização espacial
do núcleo habitacional, levando
a uma hierarquização das ruas.
Em 1260 são referidas as igrejas
do espaço intra-muralhas: S.
Vicente, Santa Maria da Vitória
ou do Mercado, Santa Maria
Madalena (próxima da Sé, a Este)
e S. Tiago (a leste da Sé) . No
interior das muralhas
definiam-se vários bairros,
sendo os mais conhecidos S.
Vicente, a judiaria (ambos na
mesma paróquia) e Santa Maria do
Mercado.
Desta forma, torna-se evidente
que existe no Concelho da Guarda
um vasto Património Cultural,
com vestígios de Comunidades
Humanas desde tempos remotos. O
seu estudo e conhecimento são
essenciais na tomada de
consciência do nosso passado
comum, que é de todo o interesse
preservar. Nota: Excerto
retirado do relatório de
caracterização histórica e do
património construído do plano
de pormenor do centro histórico
da Guarda.
Foral da Guarda
Um Rei vestiu-se de Poeta e
sonhou a Guarda. Deu-lhe foral,
fê-la sede de Bispado e criou um
ex-libris valioso: Ay muito me
tarda/O meu amigo na Guarda.
Pela boca da Ribeirinha, D.
Sancho I, em cantiga de amigo,
fingiu que era amor/o amor que
deveras sentia. - Perdão
Fernando Pessoa, mas eu também
acredito que O poeta é um
fingidor/finge tão
completamente/que chega a
fingir que é dor/a dor que
deveras sente.
Invocar estas profundas e
riquíssimas raízes históricas da
cidade, da nossa identidade
colectiva é motivo de orgulho e
de responsabilidade.
Sancho, forte mancebo, que
ficara/ Imitando seu pai na
valentia/, como escreveu Camões,
no seu gesto fundador, envolveu
a Razão e os afectos. Desenhou a
estratégia para o
desenvolvimento da Guarda! Em
boa hora!
Porta do Reino, o Rei Povoador
percebeu os perigos do
isolamento, do despovoamento
(desertificação, diríamos,
hoje), e conferiu privilégios
aos pobradores, ciente de que
favorecia a escolha dos que
queriam/podiam viver aqui. E,
através dos tempos, houve homens
e mulheres que se deixaram
prender pelos encantos desta
terra de excepção em muitos
domínios.
É grandiosa a herança que
recebemos e é nosso dever
irrecusável respeitá-la e
desenvolvê-la. Sabemos que a
Cultura é aquilo que se herda,
mas também o que construímos,
recriamos e renovamos.
Tornar a cidade da Guarda, um
centro de irradiação cultural
tem sido um imperativo da Câmara
Municipal. A 27 de Novembro de
1999, nas Comemorações dos 800
Anos, entregamos à cidade os
Forais sanchino e manuelino, as
Confirmações, os Costumes ...,
pilares da nossa identidade.
Lembramos, assim, orgulhosamente
o legado patrimonial, assumindo
a responsabilidade da sua
preservação e divulgação, sem
esquecer a necessidade de
renovar, recriar, de rasgar
horizontes em intercâmbio com
outras culturas.
Durante o ano de 1999, todos os
meses, dia 27, em diálogo com a
comunidade activa Guardense,
temos vindo a homenagear D.
Sancho I, o seu gesto fundador,
acrescentando privilégios à
cidade e à região.
Confiantes no futuro, na sorte
de sermos guardenses, beirões,
portugueses, europeístas, de
coração aberto a todos os povos
do mundo, brindamos aos
oitocentos anos do Foral, ao Rei
que há oitocentos anos se vestiu
de Poeta... À GUARDA!
Maria do Carmo Pires Almeida
Borges
Aguiar da Beira – (Concelho do
Distrito da Guarda)

Teve foral dado por D. Teresa em
1120, confirmado depois por D.
Afonso ll e D. Urraca e
reformado em 1258 por D. Afonso
lll. Em 1512, D. Manuel l
concedeu-lhe foral novo. O
concelho, suprimido em 1896 e
anexado ao do Trancoso, foi
restaurado em 1898.
O
núcleo principal de Aguiar da
Beira tem a sua origem entre
rochedos da Serra da Lapa, os
mais altos dos quais foram pelos
primeiros moradores
transformados em castelo.
Origem do nome:
«Do
“Domingo Ilustrado – 1897”»: “O
nome que adoptou, derivam-no uns
autores de haver possuído o
castelo um cavaleiro de apelido
Aguiar; outros, de abundarem as
Águias naquela altura, assim
como vale próximo tomou o nome
das aves de rapina, chamada
açores; contra esta versão
milita, porém, a circunstância
de não haver memória de
aparecerem águias naquela
região”.
Aguiar da Beira
http://www.cm-aguiardabeira.pt
O Vasto património
arqueológico existente nesta
região prova que o seu
povoamento remonta à
Pré-História. Os vestígios mais
antigos da presença do Homem são
os quatros dólmens de Carapito e
os castros da Gralheira, de
Carapito e da Serra das Abelhas.
Para o período romano existem
alguns indícios que atestam a
presença desta cultura no
concelho, testemunhada por uma
edícula de granito encontrada na
freguesia de Penaverde (que se
encontra depositada no Museu
Histórico e Arqueológico de
Viseu) e pela reutilização de
silhares almofadados no pano da
muralha do castelo alto-medieval
da vila. Para esta época são,
ainda, apontadas pistas que
sugerem a passagem de uma rede
viária secundária pela região.
O povoamento da região entre os
séculos VI e XI é comprovado por
diversos exemplares de
sepulturas escavadas na rocha,
que em alguns casos aparecem
agrupadas (constituindo
verdadeiras necrópoles) e
noutros completamente
isoladas. Este concelho
assumiu nos períodos medieval e
moderno, ao que tudo indica,
alguma preponderância. No
Arquivo Nacional da Torre do
Tombo existem os registos de
vários documentos que o
confirmam, designadamente, as
cópias dos forais antigos de
Penaverde e de Aguiar da Beira
concedidos em 12 de Julho de
1240 e em 12 de Julho de 1258,
respectivamente. No livro dos
Forais Novos da Beira
encontram-se os diplomas que
atribuíram estatuto concelhio a
Aguiar da Beira (4 de Maio de
1512), a Carapito (10 de Maio de
1514) e Penaverde (17 de Julho
de 1514).
No referido Arquivo
encontra-se, igualmente, o
exemplar da Carta de Feira
concedida à vila de Aguiar da
Beira pelo Rei D. Dinis, a 23 de
Maio de 1308, bem como
referências nos livros de
Inquirições e nas Chancelarias
de vários reinados. No século XVIII, recorrendo ao
estudo das Memórias Paroquiais,
podemos constatar que esta área
geográfica estava ocupada de uma
forma homogénea, repartindo-se
os 4227 habitantes,
aproximadamente, por três
concelhos – Aguiar da Beira,
Carapito e Penaverde.
Verificou-se, também, que todas
as freguesias foram integradas
na Casa do Infantado
(organização patrimonial da
família dos reis de Portugal, criada na segunda metade do
século XVII) e nela se
mantiveram, provavelmente, até à
sua extinção, em
1834. No século XIX,
fruto da política liberal, a
organização deste território
sofreu algumas modificações. Com
a reforma administrativa,
Carapito e Penaverde perderam o
estatuto de concelho, sendo
integrados numa circunscrição
municipal mais importante – a de
Aguiar da Beira – situação que
se manteve até à actualidade. O
núcleo histórico da vila
apresenta uma malha de traçado
medieval, de onde se destacam
três singulares monumentos
nacionais: - a Torre do Relógio
(com volume paralelepipédico de
base quadrangular e com quinze
metros de altura, encimada por
ameias), a fonte ameada
(construção de planta
quadrangular que encerra um poço
e uma fonte de chafurdo) e o
Pelourinho (construído em
granito, assenta sobre quatro
degraus octogonais e inscreve-se
no grupo de pelourinhos de
gaiola).
Estes monumentos
compõem a antiga Praça Pública,
designada, actualmente, por
Largo dos Monumentos. Este
integra, igualmente, a antiga
Casa da Câmara (século XVIII), a
Casa dos Magistrados (século XV)
e a Casa Loureiro (século
XVIII).
De salientar, ainda,
que sobranceiro ao casco
histórico permanecem alguns
vestígios do que teria sido uma
fortificação medieval, sendo
visível no seu pano de muralha a
reutilização de silhares
almofadados romanos.
No panorama
artístico e arquitectónico são
locais de visita obrigatória a
Ponte Portucalense sobre o rio
Coja, a decoração interior do
Santuário de Nossa Senhora dos
Verdes, a Capela do Sr. do
Castelinho, os Pelourinhos de
Carapito e Penaverde e inúmeras
casas brasonadas, Cruzeiros e
Alminhas.
Almeida – (Concelho do Distrito
da Guarda)

A
primitiva povoação, um pouco
afastada da actual, parece ter
sido fundada pelos mouros.
Estando quase em ruínas na época
de D. Dinis, foi reedificada no
local onde permanece. Recebeu
foral deste monarca em 1296. D.
Manuel 1 mandou restaurar a
fortaleza e outorgou-lhe foral
novo em 1510.
Almeida tem uma gloriosa
história, profundamente ligada à
das lutas luso-castelhanas,
devido à proximidade da
fronteira.
Em
1810, estando Almeida cercada
pelos invasores franceses, uma
explosão nos paióis do castelo
fez ir pelos ares a torre de
menagem e provocou profundas
brechas nas muralhas, o que
levou à imediata capitulação.
Possui, no interior do Castelo,
um espaçoso templo com três
naves e diversos altares. Vários
edifícios atestam a antiguidade
e a nobreza da vila.
Origem do nome:
«Do
”Arquivo da História Pátria –
1897” »: “ É obscura a origem do
nome Almeida; alguns
etimologistas a fazem derivar da
palavra mourisca “Talmayda ou
Talmeyda”, que significa mesas
ou superfície plana …
Não
foi desde seus princípios
fundada a vila no lugar que hoje
ocupa, mas sim noutro próximo, o
que serve de pretexto a diversas
etimologistas para lhe derivarem
o nome de outro vocábulo
igualmente mourisco, que
significa “campo das corridas”,
fundando-se estes em que, sendo
os guerreiros árabes, muito
amantes de exercícios equestres,
viriam àquele lugar “correr
cavalos”, sendo nesse caso o
radical “Almeidan”, de que, com
o andar dos tempos, se fez a
palavra portuguesa Almeida, que,
outras muitas, não é mais do que
uma corruptela dos termos
agarenos”.
«
J. de Vilhena em “As Cidades e
Villas da Monarchia Portugueza
que têm brasões d’Armas –
1860”»: “Atribue-se a fundação
desta vila aos mouros, e segundo
os nossos antiquários
chamavam-lhe ele Talmayda ou
Talmeyda, donde vem a corrupção
o seu nome de Almeida.
A
palavra Talmayda, na opinião
destes últimos, significava
mesa, e era uma alusão ao sítio
perfeitamente plano em que a
vila fora edificada nesta sua
primeira fundação. Era este
sítio um campo próximo da actual
povoação, para o lado do norte,
no vale agora chamado o “Enxido
da Sarça”. Posto que aquela
etimologia seja seguida por
todos os nossos escritores,
fundando-se na opinião do
cronista Frei Bernardo de Brito,
que fundou a sua em uma
escritura antiga que dava à vila
de Almeida, o nome de Talmeida,
parece-nos, apesar de tudo isto,
mais provável, que o nome desta
vila se derive da palavra
Atmeidan, que quer dizer “campo
ou lugar de corrida de cavalos”.
A
predilecção que os árabes tinham
por este divertimento, o assento
plano da primitiva povoação, e
das suas imediações, podem dar
algum fundamento a esta opinião.
Como a escritura a que se refere
Frei Bernardo de Brito é em
latim (e diz – Per Villam
Turpini Talmeida, etc.). não
admira, que ali se estropeasse a
palavra Atmeidan quando naquelas
eras se estropeavam os próprios
vocábulos portugueses,
acontecendo amiúde verem-se
alguns destes escritos de
diferente modo por autores
contemporâneos”.
Almeida
http://www.cm-almeida.pt/historiadaregiao.htm
O
território do Concelho de
Almeida apresenta vestígios de
presença humana desde o
paleolítico, estando detectados
alguns núcleos castrejos da
Idade do Bronze e do Ferro, bem
como informação clara sobre a
presença romana.
Mas é no período medieval, com
especial destaque para a época
da formação da nacionalidade,
que se estrutura a linha
evolutiva caracterizadora do
território em causa. Devendo-se
esta evolução a dois factores
fundamentais: a sua localização
no limite fronteiriço do
território português e a criação
dos concelhos, como forma de
garantir o povoamento da
fronteira.
O Rio Côa constituiu durante um
largo período temporal o limite
dessa mesma fronteira entre o
Reino de Leão e o território
português, até que em 1297, com
a assinatura do tratado de
Alcanices durante o reinado de
D. Dinis, se integram
definitivamente os territórios a
Este do Rio Côa em Portugal.
Este avanço da linha de
fronteira, vai condicionar o
desenvolvimento futuro do
território em causa, ganhando
Almeida e castelo Bom, uma
importância estratégica
predominante em detrimento de
Castelo Mendo situado na margem
esquerda do rio Côa.
O actual Concelho de Almeida
concentra em si a base de três
concelhos criados na Idade
Média. Almeida recebeu a carta
de foral em 1296, por D. Dinis e
revogado em 1510 por D. Manuel I
, Castelo Bom recebeu foral em
1296 pela mão do mesmo monarca,
revogado também em 1510, Castelo
Mendo já detinha foral desde
1229, por iniciativa do Rei D.
Sancho II, confirmado depois por
D. Dinis em 1281 e revogado em
1510.
O Concelho de Castelo Mendo foi
extinto em 24 de Outubro de
1855. As freguesias que o
compunham (Azinhal, Peva,
Freixo, Mesquitela,
Monteperobolso, Ade, Cabreira,
Amoreira, Leomil, Mido, Senouras
e Aldeia Nova, Parada, Porto
Ovelha, Miuzela) foram anexadas
ao Concelho do Sabugal. Em
Dezembro de 1870 passaram a
fazer parte do Concelho de
Almeida, que já era composto por
Vale de Coelha, Vale da Mula e
Junça, com excepção da Parada,
Porto Ovelha e Miuzela.
O Concelho de Castelo Bom foi
abolido com as reformas
administrativas liberais em
1834, tendo sido anexado ao
concelho de Almeida,
conjuntamente com as seguintes
freguesias: Freineda, Naves, S.
Pedro do Rio Seco e Vilar
Formoso.
Mas o Concelho de Almeida, vai
ainda absorver e perder área
administrativa dos concelhos
limítrofes. Assim em 1834
absorve as freguesias de
Malpartida, Cinco Vilas e
Reigada ao concelho de F.
Castelo Rodrigo. Em 1883 anexa
as freguesias da Malhada Sorda e
Nave de Haver do extinto
concelho de Vilar Maior. Em 1895
integra as freguesias da
Miuzela, Parada, Porto Ovelha,
do termo do Concelho do Sabugal,
e Valverde do termo do Concelho
de Pinhel, mas perde nesse mesmo
ano, para o Concelho de F.
Castelo Rodrigo as Cinco Vilas e
a Reigada.
Eclesiásticamente, o território
do Concelho de Almeida faz parte
do Bispado da Guarda, embora no
passado tenha pertencido ao
Bispado de Cidade Rodrigo,
Lamego e Pinhel.
No período do cisma do ocidente,
em finais do século XIV, passou
da Diocese de Cidade Rodrigo
para a de Lamego, porque o Reino
de Castela tinha aderido ao
partido do Papa de Avinhão e
Portugal tinha-se mantido fiel a
Roma. Em 1770 foi criada por
Clemente XIV a Diocese de Pinhel
à qual se juntou Almeida, no
entanto esta foi extinta em 1881
por Leão XIII, passando Almeida
para a Diocese da Guarda.
Toponímia da Vila
Existem várias versões para
origem do nome Almeida. Mas o
que todos concordam é que o nome
é de origem árabe. Uns referem
que vem do árabe Al Mêda e que
significa a mesa, pelo facto da
povoação se encontrar situada
num vasto planalto, no planalto
das mesas. Há também quem afirme
que vem do árabe Atmeidan que
significa campo ou lugar de
corrida de cavalos. Frei
Bernardo de Brito, natural de
Almeida e cronista-mor do reino,
afirma derivar, Almeida, da
configuração do terreno em que a
Vila se encontra edificada e
cujo nome original é
Talmeyda. A lenda
diz que a sua origem vem de uma
mesa cravejada de pedras
preciosas que em tempos existiu
naquele lugar. De tantas versões o que parece
correcto é que o termo Almeida
tem a sua origem árabe, dado que
o prefixo al é dessa
proveniência.
Alma até Almeida
No tempo das Invasões Francesas,
Napoleão invadiu Portugal pela
terceira vez. Em 19 de Janeiro
de 1812 encontrava-se em Ciudad
Rodrgo o jovem tenente John
Beresford foi ferido e
dirigiram-no até ao "Hospital do
Sangue", em Almeida. Na viagem a
dor foi-se instalndo e
manifestando de tal ordem que o
soldado que o acompanhava lhe
foi incutindo a esperança
dizendo-lhe: ALMA ATÉ ALMEIDA,
meu Tenente! ALMA ATÉ ALMEIDA..
E conseguiram chegar sãos e
salvos até ao destino.
O Tenente John Beresford
encontra-se sepultado na Praça
Alta, em Almeida.
Celorico da Beira – (Concelho do
Distrito da Guarda)

Povoação muito antiga, recebeu
privilégios e foral de D. Afonso
Henriques, confirmados por D.
Afonso ll, em 1217. D. Manuel l
outorgou-lhe novo foral em 1512.
Celorico da Beira deve a
manutenção do seu povoamento à
sua posição estratégica, no cimo
de um outeiro do qual se domina
vasto panorama. Na Idade Média,
a sua posição de castro
pré-romano foi aproveitada para
a construção de um forte
castelo, à sombra do qual se
travaram encarniçadas lutas
entre as hostes portuguesas e
castelhanas. Dois episódios
dessas lutas teriam mesmo
originado as armas da vila, que
ostentam um crescente e cinco
estrelas e uma águia com uma
truta suspensa nas garras. O
crescente e as estrelas
simbolizam a noite gloriosa em
que a Lua e as estrelas,
irradiando quase tanta luz como
o Sol, permitiram aos
portugueses obter retumbante
vitória sobre os exércitos,
talvez castelhanos. A águia, a
rainha das aves, é o símbolo da
sagacidade e manha usada pelo
governador do Castelo de
Celorico da Beira, Fernão
Rodrigues Pacheco, fiel a D.
Sancho ll. O Castelo
encontrava-se sitiado pelos
partidários de D. Afonso lll,
começando a faltar os
mantimentos, pelo que estava à
beira da capitulação. Mas uma
águia, sobrevoando
ocasionalmente a praça do
Castelo, deixou cair uma bela
truta que apanhara em qualquer
rio da região. O governador
mandou preparar deliciosa
iguaria, que enviou como oferta
a D. Afonso lll. Este,
convencendo-se de que aquilo era
apenas uma pequena amostra das
reservas dos sitiados, levantou
o cerco e deixou Celorico.
Origem do nome:
«Luís Duarte Vilela da Silva, do
“Compêndio Histórico da Vila de
Celorico da Beira – Lisboa
1807”» :” Sobre um levantado
cabeço, que confronta a Serra da
Estrela, três léguas ao poente
da cidade da Guarda, está
situada a vila de Celorico, na
Província da Beira. Brigo,
quarto rei de Espanha, a
edificou 1091 anos antes da
vinda de Cristo. Rodrigo Mendes
Silva, e outros historiadores a
contam no número daquelas
cidades, que eram sujeitas a
Braga, e de que Plínio já fizera
uma honrada memória conhecida
pelo nome Celiobriga.
Fundou-se esta povoação sobre um
Cerro, donde alguns querem tirar
a etimologia de Cerro-Rico ou de
Rico-Céu, em alusão à bondade do
clima, fertilidade do terreno, e
pureza de seus ares; pois é de
admirar, que sendo aquelas
terras frias, e destemperadas
pelos continuados zelos, que as
crescem, e as escaldam, seja a
de Celorico a mais preservada,
que é um fenómeno congelar-se
ali a água ainda no mais
rigoroso Inverno”
Celorico da Beira
http://www.cm-celoricodabeira.pt/turismo/historia.asp
O
concelho de Celorico da Beira
localiza-se na vertente norte da
Serra da Estrela, entre os
concelhos de Fornos de Algodres
(a oeste), Gouveia (a sul),
Guarda (a este) e Trancoso (a
norte). Situado na província da
Beira Alta, distrito da Guarda,
este concelho possui 22
freguesias e 24 anexas numa área
total de 249,93 km2. Tem uma
população de cerca de 10 500
habitantes.
O rio Mondego, que nasce na
Serra da Estrela e termina na
Figueira da Foz, tem um percurso
de 227 km, 22 dos quais neste
concelho. Para além da própria
vila, as suas águas banham as
freguesias de Açôres, Lageosa,
Ratoeira, Baraçal, Forno
Telheiro e Jejua. Curiosamente,
o seu percurso divide o concelho
ao meio.
A vila de Celorico da Beira
situa-se na margem esquerda do
rio Mondego, na vertente
setentrional da Serra da
Estrela, a uma altitude de cerca
de 550 m. A posição estratégica
da vila é acentuada pelo rio,
uma vez que a circunda a leste,
norte e oeste, permitindo-lhe
desfrutar de uma favorável
defensabilidade natural.
Já muito se escreveu sobre a
origem da povoação. Para alguns
autores[1] terão sido os
Túrdulos os primeiros a ocupar
este território, 500 a.C..
Outros acreditam na sua
fundação, dois milénios a.C.,
por Brigo[2]. Por aqui terão
passado romanos, godos e árabes.
Sobre a presença Túrdula na
região importa referir que
autores como Jorge de Alarcão[3]
e Carlos Fabião[4] apontam o
litoral atlântico como sendo a
zona ocupada por este povo.
Ambos referem para a região
beirã uma ocupação lusitana.
Também Adriano Vasco Rodrigues
refere que os “[...] povos que
viviam nestes castros da Beira
eram os lusitanos [...]”[5].
A presença romana no concelho de
Celorico aparece-nos comprovada
pela existência de alguns troços
viários: calçada romana de
Celorico da Beira (séc. I a.C/séc. IV d.C., conjectural) ;
Estrada dos Almocreves (troço de
calçada romana e medieval)[6].
Em todo o caso, como refere
Adriano Vasco Rodrigues, “[...]
uma presença só por si não
implica uma assimilação cultural
[...]”[7].
Relativamente à presença árabe
na região o mesmo autor refere
que: ”Embora o povo [...]
atribua todos os monumentos
antigos aos Mouros, não há neste
concelho monumentos que
comprovem a sua permanência.”[8]
De facto, toda a ocupação da
região anterior à época medieval
necessita de comprovação
arqueológica, que nos permita
consolidar, ou não, estas
teorias ocupacionais de que
tanto se tem escrito.
Do relatório das sondagens
arqueológicas realizadas entre
1996 e 1997, pela Dra. Isabel
Ricardo, no recinto fortificado
da vila, podemos concluir também
uma ocupação que remonta à época
da Reconquista[9]. Desta forma,
encontra-se comprovada a
ocupação medieval do recinto,
mas não mais do que isso,
deixando por comprovação as
hipóteses ocupacionais
anteriores a esta época.
Na defesa contra as investidas
castelhanas e muçulmanas,
Linhares e Celorico da Beira
tiveram um papel preponderante
durante a Idade Média. Devido ao
seu valor
estratégico-militar[10], a
povoação foi várias vezes
disputada por castelhanos e
portugueses, tendo integrado os
dois reinos alternadamente.
Assim, Celorico da Beira, em
conjunto com Trancoso e
Linhares, formava um poderoso
triângulo defensivo da Beira.
Alguns autores referem que, dado
o valor estratégico do local, a
primeira fortificação de
Celorico tenha sido um castro
proto-histórico posteriormente
romanizado[11]. Aliás, Adriano
Vasco Rodrigues reitera esta
teoria dizendo que “Quase todas
as povoações actuais do concelho
de Celorico da Beira e do antigo
de Linhares, foram edificadas
sobre um povoado da idade do
ferro, ou cresceram nas suas
imediações. Estes povoados
fortificados eram os Kastros, ou
Castros. No concelho de Celorico
identificam-se o de Celorico a
550 m de altitude [...]”[12].
A teoria da existência de um
castro proto-histórico poderá
ser corroborada pela tese de
Francisco Patrício Curado[13],
segundo a qual o autor refere
que é possível que tenha
existido um local de culto
indígena num dos afloramentos
graníticos em que assenta o
castelo. A comprovar esta
hipótese foi descoberta uma
inscrição num bloco granítico no
lado sul do castelo[14].
Por sua vez, a teoria da
romanização deste castro
proto-histórico assentou
fundamentalmente no surgimento
de uma epígrafe em 1635, a qual
parece indicar três capitães
romanos (Nigro, Sérvio e Júnio)
como os mandatários da
edificação da fortaleza.
Contudo, a leitura epigráfica
desta inscrição coloca-nos
inúmeras reservas, uma vez que a
referida lápide se encontra
supostamente desaparecida e os
próprios autores levantam
dúvidas na sua transcrição[15].
Em todo o caso, como refere
Adriano Vasco Rodrigues, “Os
romanos, procuravam os melhores
lugares para praticar a
agricultura.”[16] De facto,
estes lugares situavam-se nas
margens do rio Mondego e não no
ponto mais alto da vila, o que
nos leva a colocar algumas
dúvidas na romanização da
fortificação existente.
Acrescente-se ainda que, como já
foi referido, as escavações
arqueológicas realizadas no
recinto fortificado não
permitiram comprovar uma
ocupação anterior à época da
Reconquista.
O castelo[17] que podemos
observar actualmente está
assente no afloramento granítico
e a sua fundação remontará ao
século XIII/XIV (datação
conjectural). Tipologicamente,
este castelo roqueiro
românico-gótico, apresenta duas
portas que o ligam à vila: uma a
oeste e outra a sul. Esta
fortificação possui dois
torreões adossados ao lado oeste
da muralha: um de planta
quadrangular irregular e outro
de planta trapezoidal irregular.
Por três vezes esta praça
militar serviu de refém para
penhor de pazes. A primeira
delas foi na paz assinada a 25
de Novembro de 1325, entre D.
Dinis e D. Afonso IV, seu filho.
Na segunda vez entre D. Afonso
IV e D. Afonso XII de Castela.
Por fim, em 1373 Henrique II de
Castela recebeu-a como refém de
D. Fernando.
Durante o reinado de D. Afonso
Henriques, D. Moninho Dola terá
conquistado definitivamente a
vila aos árabes. Deste modo, o
monarca concedeu-lhe o título de
alcaide do castelo de Celorico
da Beira. Com a participação dos
Templários[18], o rei terá
ordenado a execução de obras na
fortaleza.
Os forais tinham como objectivos
o: “[...] povoamento de uma
região, defesa de uma fronteira
e captação de efectivos
militarizados para a «causa»
portuguesa, incentivo ao
desenvolvimento comercial e
artesanal de uma determinada
povoação, incentivo ao
estabelecimento em determinados
pontos de povoadores úteis –
cavaleiros, cruzados,
eclesiásticos, etc. [...]”[19].
Com vista ao cumprimento de
algumas destas disposições, D.
Afonso Henriques outorgou foral
a Celorico, concedendo-lhe um
largo leque de privilégios.
Desconhece-se a data exacta em
que este foral foi atribuído,
sabe-se porém que foi o primeiro
da vila e que se tratava de um
foral tipo salamantino.
No reinado de D. Sancho I, o
castelo de Celorico da Beira foi
sediado por leoneses e
castelhanos, sob o comando de D.
Afonso IX. O cerco acabou por
ser levantado por uma força
militar vinda de Linhares e
comandada pelo seu alcaide, D.
Rodrigo Mendes, irmão do alcaide
de Celorico, D. Gonçalo Mendes.
Este monarca terá também
efectuado obras na fortaleza.
Em 1217, em Coimbra, D. Afonso
II terá confirmado o foral de D.
Afonso Henriques. Segundo
Adriano Vasco Rodrigues[20], o
mesmo monarca terá outorgado
novo foral em 1219.
O castelo foi novamente sediado
em 1245, desta vez por D. Afonso
III. Fernão Rodrigues Pacheco,
alcaide-mor do castelo nesta
data, não quis entregar a praça
a D. Afonso III (irmão de D.
Sancho II), após a deposição do
rei D. Sancho II. O alcaide
manteve-se fiel ao rei D. Sancho
II só tendo entregue a praça
após ter ido a Toledo[21]
colocar as chaves da fortaleza
nas mãos do defunto rei, seu
senhor.
Associado a este cerco existe
uma lenda, a Lenda da Truta, que
justifica a existência de uma
água e do castelo no brasão de
armas da vila.
Ainda durante o reinado de D.
Afonso III, Celorico marcou a
sua primeira presença em cortes:
em 1254 nas Cortes de Leiria.
Esta presença de um
representante nas cortes atesta
que já nesta época o povoamento
de Celorico se encontrava
consolidado com a reunião do
concilium dos homens-bons do
concelho.
De facto, Celorico deteve um
papel preponderante na defesa da
fronteira, recebendo por isso
benefícios de vários monarcas.
D. Dinis terá feito desta
fortificação uma verdadeira
praça militar, datando também
desta época a edificação de uma
torre de menagem. Também D.
Fernando terá efectuado obras na
fortaleza.
Inicialmente apoiante do rei de
Castela, aquando da Revolução de
1383-85, o alcaide de Celorico
acabou por vir a apoiar a causa
do futuro D. João I, o Mestre de
Avis. Esta posição de Martim
Afonso de Melo acabou por
envolver Celorico em mais um
cerco espanhol.
Quando D. João I de Castela,
entretanto regressado a Castela,
teve conhecimento da aclamação
do Mestre de Avis como rei de
Portugal, ordenou ao Arcebispo
de Toledo, como represália, a
destruição de povoações
portuguesas. Enviados que foram,
os exércitos espanhóis acabaram
por causar imensos danos no
território português e
particularmente no concelho de
Celorico. Todavia, antes de
puderem declarar vitória os
exércitos espanhóis foram
interceptados pelas forças
militares portuguesas. A Batalha
de Trancoso, como ficou
conhecida, terá acontecido entre
Celorico e Trancoso, a 28 de
Maio de 1385[22], e terminou
numa completa vitória para
Portugal.
Contudo, “O Rei de Castela entra
uma vez mais pela Comarca da
Beira com o intuito de retomar,
pela força, o reino, a que se
julga com direito.”[23] Nesta
nova investida o monarca acampou
em Celorico. Tendo-se sentido
acolhido por doença, o rei fez
nesta mesma povoação o seu
testamento (a 25 de Julho de
1385), alguns dias antes da
derrota que viria a sofrer na
Batalha de Aljubarrota.
D. Manuel I, em 1512, outorga
foral novo à povoação e eleva-a
a vila. Este monarca ordena
ainda o restauro da fortaleza.
Neste restauro foi também
edificado um passadiço de
comunicação entre o castelo e o
pôço de El-Rei, que viria a ser
destruído em 1857.
Pela sua localização geográfica
estratégica, o controle da vila
significou desde sempre dominar
a portela natural que inclui o
vale do Mondego. O
desenvolvimento económico que se
verificou na região no século
XVI foi, em parte, resultado do
domínio desta portela natural e
da consequente passagem
obrigatória dos comerciantes.
Falar desta época da nossa
história e deste desenvolvimento
económico é falar,
obrigatoriamente, da presença
judaica no nosso país.
A fixação dos judeus por terras
da Beira, concretamente em
Celorico, levanta algumas
dúvidas em termos de data
exacta. Todavia, julga-se que
foi “[...] com o avanço da
Reconquista cristã para além do
Tejo, com o desenvolvimento das
feiras e mercados nos
territórios a norte deste rio e
com a decadência dos reinos
mouros hispânicos, ligados ao
comércio do Mediterrânio, que os
Judeus se vieram estabelecer em
terras de cristãos.”[24]
Segundo Maria José Tavares à
comunidade judaica de Trancoso,
que cresceu particularmente a
partir do século XIV,
juntaram-se novas comunas no
século XV, donde se salienta a
de Celorico[25].
Durante a primeira e inícios da
segunda dinastia, os judeus
usufruíram de um estatuto
bastante favorável, sendo que os
monarcas lhes outorgavam
frequentes privilégios. De
facto, segundo António Borges
Coelho o “[...] poder régio está
interessado em defender a
segurança dos caminhos e do
comércio e protege os mercadores
cristãos, judeus ou mouros.”[26]
Com a constituição da Inquisição
em 1480 pelos reis católicos, a
situação dos judeus alterou-se
também em Portugal. A política
de “terror” instaurada em
Espanha obrigou muitos judeus a
fugirem para Portugal. D. João
II acolheu-os mas com algumas
restrições[27].
No reinado de D. Manuel I a
perseguição aos judeus começou a
tomar forma, nomeadamente pela
obrigatoriedade da conversão.
Contudo, foi no reinado de D.
João III que o Santo Ofício foi
estabelecido no nosso país (Maio
de 1536, pelo Papa Paulo III),
espalhando a partir daqui o
pânico entre esta comunidade.
Segundo Adriano Vasco Rodrigues,
a judiaria em Celorico
localizar-se-ia “[...] na zona
do antigo Matadouro.”[28] Já
Manuel Ramos Oliveira refere que
a “[...] Comuna de Celorico
devia localizar-se na Rua Nova,
a mais comercial de então.”[29]
Em todo o caso, o que se sabe
efectivamente é que terá
existido uma judiaria em
Celorico que foi extinta no
reinado de D. Manuel.[30]
Depois da Restauração, em 1640,
o castelo sofreu novas
reparações. Nesta altura
foram-lhe colocadas as ameias,
os andares soalhados e a muralha
alterada.
A vila de Celorico esteve também
envolvida na Guerra dos Sete
Anos (1756-63). Na sequência
desta guerra, Luís XV, rei da
França, pretendeu formar um
Pacto de Família que reuniria
“[...] numa aliança contra a
Inglaterra todos os países onde
reinavam parentes da casa de
Bourbon.”[31]. Assim, seriam
envolvidos neste pacto vários
países, entre os quais Portugal.
Todavia, a assinatura deste
pacto não nos era favorável, uma
vez que isso implicaria o
rompimento da aliança que
tínhamos com a Inglaterra. Deste
modo, D. José, sob a égide do
Marquês de Pombal, respondeu
negativamente à proposta de
entrada no pacto. Nesta
sequência, Portugal foi
informado que deveria aderir,
caso contrário seria invadido
por tropas espanholas.
Antecipando-se, Portugal
declarou guerra à França e, em
Maio de 1762, uma força militar
espanhola entrou no nosso país.
Por esta altura, um exército
português que se encontrava
aquartelado no castelo de
Celorico foi sediado por estas
tropas espanholas, comandadas
pelo Marquês de Sarria. Este
cerco durou pouco tempo,
acabando os espanhóis por serem
expulsos de Portugal.
Durante as Invasões Francesas, a
praça de Celorico, serviu de
quartel-general dos aliados e
dos franceses. Manuel Ramos de
Oliveira[32] destaca o ofício
n.º 74 de 2 de Agosto de 1810,
“enviado por Wellington do
Quartel General de Celorico a D.
Miguel Pereira Forjaz, acentua
êle a conveniência da população
abandonar as suas habitações,
não só no interêsse geral como
no particular, citando a
propósito o que sucedeu aos
habitantes de Castelo Mendo, que
assim não quiseram proceder.” De
facto, durante este período
Celorico foi invadido inúmeras
vezes por tropas
anglo-lusas[33], que provocaram
enormes danos materiais e
pessoais no concelho, em geral e
na vila, em particular.
O conturbado período das lutas
entre miguelistas e liberais
agitaram também o concelho de
Celorico da Beira. Os liberais
foram fortemente perseguidos
pelos absolutistas, uma vez que
a maioria da população advogava
a causa miguelista. Como nos
refere Manuel Ramos de
Oliveira[34], foram inúmeras as
prisões efectuadas neste período
em Celorico. Com o advento do
Liberalismo o castelo viu as
suas muralhas destruídas, bem
como a sua torre de menagem.
Celorico também tomou parte na
Rebelião Realista de 1919, que
opunha republicanos e
monárquicos. Nesta altura, o
general Abel Hipólito
estabeleceu o seu
quartel-general em Celorico
aguardando pelo inimigo
monárquico, que combateu e
derrotou.[35]
No decorrer da sua história,
Celorico foi senhorio de várias
famílias. Antes do reinado de D.
Fernando foi pertença de Martim
Vasques de Sousa. D. Isabel,
filha ilegítima de D. Fernando,
recebeu o senhorio de Celorico
em dote aquando do seu casamento
em 1373 com o conde de Gijon. Já
no reinado de D. Manuel I, este
monarca entregou-o ao primeiro
conde de Portalegre. Após a
extinção da família dos condes
de Portalegre D. Pedro II doou-o
a André Lopes de Lavre. A
povoação foi também senhorio dos
marqueses de Gouveia.
Drª. Ana Penisga
(Historiadora do Gabinete
Técnico Local)
[1] Refira-se, por exemplo,
RAPOSO, Francisco Hipólito,
Beira Alta, com um abraço total
à Serra da Estrela, Edição da
Mobil Oil Portuguesa, 1987,
p.177.
[2] Cf. SILVA, Luís Duarte
Villela da Silva, Compêndio
Histórico da Villa de Celorico
da Beira, oferecido a sua Alteza
Real, o Príncipe regente,
Lisboa, 1808, p.9 e OLIVEIRA,
Manuel Ramos de, Celorico da
Beira e o seu concelho. Através
da História e da Tradição, 2ª
ed., Leiria, Edição da Câmara
Municipal de Celorico da Beira,
[1997], p.55.
[3] ALARCÃO, Jorge de, O Domínio
Romano em Portugal, Mem Martins,
Publicações Europa-América,
1988, p.32.
[4] MEDINA, João (dir.),
História de Portugal. Dos tempos
pré-históricos aos nossos dias,
vol. II, Ediclube, Alfragide,
[s.d.], p.109.
[5] RODRIGUES, Adriano Vasco,
Celorico da Beira e Linhares.
Monografia histórica e
artística, 2ª ed., [s.l.],
Rochas / Artes Gráficas, L.da,
1992, p.14.
[6] Direcção Geral dos Edifícios
e Monumentos Nacionais,
Inventário do Património
Arquitectónico
(WWW.monumentos.pt)
[7] RODRIGUES, Adriano Vasco,
Op. cit., p.20.
[8] IDEM, Ibidem, p.36.
[9] Refere a autora:
“Sublinha-se o aparecimento de
material cerâmico medieval da
“Reconquista” (cerâmica de pasta
e superfícies cinzentas,
decoradas por pequenos golpes
profundos nas asas e aplicação
de cordão plástico digitado no
bojo) [...]”. Ricardo, Isabel,
Relatório das escavações
arqueológicas do castelo de
Celorico da Beira, 1997. (Texto
policopiado)
[10] Saliente-se aqui a posição
geográfica do concelho: uma
portela natural localizada numa
zona fronteiriça.
[11] Cf. ALMEIDA, João de,
Roteiro dos monumentos militares
portugueses, vol. I, Lisboa,
Edição do autor, 1945, p.191; e
OLIVEIRA, Manuel Ramos de, Op.
cit., p.55.
[12] RODRIGUES, Adriano Vasco,
Op. cit., p.13.
[13] Cf. CURADO, Francisco
Patrício, “Epigrafia das
Beiras”, Beira Alta, vol. XLIV,
fasc. 1, Viseu, Edição
Assembleia Distrital de Viseu,
1985, pp.641-643.
[14] IDEM, Ibidem, p.642.
[15] Cf. RODRIGUES, Adriano
Vasco, Op. cit., pp.22-23 e
OLIVEIRA, Manuel Ramos de, Op.
cit., pp.257-258.
[16] RODRIGUES, Adriano Vasco,
Op. cit., p.23.
[17] Classificado como Monumento
Nacional por decreto de 16 de
Junho de 1910.
[18] As ordens religiosas foram
um auxílio a que os monarcas
recorreram na época da
Reconquista para a consolidação
do território nacional. Em
Celorico tiveram presentes as
ordens militares dos Templários
e de Malta. Cf. RODRIGUES,
Adriano Vasco, Op. cit., p.46.
[19] MEDINA, João (dir.), Op.
cit., vol. III, p.258.
[20] Cf. RODRIGUES, Adriano
Vasco, Op. cit., p.40.
[21] Localidade onde o monarca
se exilou, após ter sido
excomungado pelo Papa Inocêncio
IV.
[22] Cf. RODRIGUES, Adriano
Vasco, Op. cit, p.86.
[23] IDEM, Ibidem, p.86.
[24] IDEM, Ibidem, p.92.
[25] Cf. TAVARES, Maria José
Pimenta Ferro, “As comunidades
judaicas das Beiras, durante a
Idade Média”, Revista Altitude,
ano II, 2ª série, n.º4, Guarda,
Dezembro 1981, p.6.
[26] MEDINA, João (dir.), Op.
cit., vol. III, p.111.
[27] A este propósito refira-se
a Lei de 1412 na qual o rei
impõe que os judeus deveriam
utilizar vestuário simples e que
os identificasse.
[28] RODRIGUES, Adriano Vasco,
Op. cit., p.96.
[29] OLIVEIRA, Manuel Ramos de,
“Episódios das invasões
francesas no distrito da
Guarda”, Altitude, ano IV, n.º
7-10, Guarda, Julho-Setembro
1944, p.377.
[30] O estudo do centro
histórico que está em curso pelo
G.T.L. poderá, de futuro,
trazer-nos algumas indicações
sobre a localização exacta da
judiaria de Celorico da Beira.
[31] RODRIGUES, Adriano Vasco,
Op. cit., p.119.
[32] OLIVEIRA, Manuel Ramos de,
“Episódios das invasões
francesas no distrito da
Guarda”, Altitude, ano IV, n.º
7-10, Guarda, Julho-Setembro
1944, pp.181-182.
[33] Cf. RODRIGUES, Adriano
Vasco, Op. cit., pp.121-122 e
OLIVEIRA, Manuel Ramos de, Op.
cit., p.246.
[34] OLIVEIRA, Manuel Ramos de,
Op. cit., pp.269-276.
[35] IDEM, Ibidem, p.247.
Figueira de Castelo Rodrigo –
(Concelho do Distrito da Guarda)

Primitivamente freguesia do
concelho de Castelo Rodrigo,
beneficiou dos privilégios
concedidos a esta vila, pelo
forais de 1209 e 1508 (novo
foral outorgado por D. Manuel
l). Sede do concelho do mesmo
nome, herdou o seu de Castelo
Rodrigo. Vila muralhada,
sobressai ao longe no panorama
agreste, com o casario granítico
a integrar-se perfeitamente na
paisagem. Os seus treze
torreões, redondos, construídos
no reinado de D. Dinis, fazem
lembrar a cidade espanhola de
Ávila. De salientar ainda o
palácio que foi de Cristóvão de
Moura, galardoado por Filipe l
com o condado de Castelo
Rodrigo, em reconhecimento da
sua traição a Portugal. Também a
união de interesses castelhanos
por ocasião da crise de
1383-1385 levou o rei D. João l
a impor um castigo ao concelho
de Castelo Rodrigo: as armas
reais do escudo da vila passaram
a figurar nele invertido.
Origem do nome:
«Xavier Fernandes em Topónimos e
Gentílicos (1944)»: “Segundo a
tradição, Castelo Rodrigo foi o
nome do primeiro alcaide que
governou a povoação”.
Figueira de Castelo Rodrigo
http://www.cm-fcr.pt/concelho/historia.htm
Historicamente, falar de
Figueira de Castelo Rodrigo
implica remontar muitos séculos
na história. Desde a Pré -
História até ao séc. XX, muitos
são os testemunhos existentes,
permitindo-nos viajar pelo tempo
à descoberta das raízes
históricas de toda uma região.
Foi a 25 de Junho de 1836 que
Figueira de Castelo Rodrigo
substituiu o velho burgo de
Castelo Rodrigo como sede de
concelho. Hoje, a vila de
Figueira e o seu concelho são
conhecidos pelo seu magnífico
património, com especial
destaque para a Aldeia Histórica
de Castelo Rodrigo, para a
beleza das suas paisagens em
especial para as amendoeiras em
flor em Fevereiro e Março, para
o sabor da sua gastronomia e dos
seus vinhos e para hospitalidade
da sua população.
Figueira de Castelo Rodrigo
http://www.visitportugal.com
Fundada por Afonso IX de Leão,
que a doou ao conde Rodrigo
Gonzalez de Girón, ficaria com o
nome do seu povoador. Em tempo
de D. Dinis de Portugal, rei e
poeta, passou para a coroa
portuguesa.
O brasão desta pacífica aldeia
tem uma originalidade que o
torna diferente de todos os
outros e uma história para
contar. D. Beatriz, única filha
de D. Fernando de Portugal,
estava casada com o rei de
Castela. Por morte de seu pai, e
com a sua subida ao trono,
Portugal perderia a sua
independência a favor de
Castela. Os Senhores de Castelo
Rodrigo tomaram partido por D.
Beatriz, mas não contaram que D.
João, Mestre de Avis, viesse a
vencer os castelhanos na Batalha
de Aljubarrota, em 1385. Coroado
rei de Portugal, D. João I não
perdoou e mandou que armas de
Portugal fossem representadas em
posição invertida.
No séc. XVI, Filipe II de
Espanha anexou a Coroa
Portuguesa. O povo não gostou,
mas parte da alta nobreza
aliou-se ao novo rei. Foi o caso
de Cristóvão de Mora, Governador
de Castelo Rodrigo. A população
vingou-se e pegou fogo ao enorme
palácio, logo que lá chegou
notícia da Restauração (ocorrida
a 1 de Dezembro de 1640) Desta
história ficaram as ruínas que
hoje pode ver no alto monte.
Lugar de passagem dos peregrinos
que se dirigiam a Santiago de
Compostela, conta-se que S.
Francisco de Assis aqui teria
pernoitado na sua peregrinação
ao túmulo do Santo.
Fornos de Algodres – (Concelho
do Distrito da Guarda)

Foi
elevada a vila em 1811,
conservando os foros e tradições
da antiga sede de freguesia,
Algodres. Para quem vem da
Guarda, Fornos de Algodres
aparece ao longe como uma
vila-presépio com o casario
branco a espreguiçar-se pela
encosta. Sede de concelho desde
há vários séculos, possui um
elegante pelourinho do século
XVl, com remate em gaiola e
colunelos de granito. Temos aqui
a antiga Casa da Câmara, um belo
solar do século XVlll. Outros
solares identificados pelos seus
brasões: os dos Abreus,
Albuquerques, Cortes Reais e
Costa Cabrais.
Orfigem do nome:
«Xavier Fernandes em Topónimos e
Gentílicos (1944)»: “Fornos, no
plural da designação comum
forno, do latim Furnu. Alguns
autores relacionaram
etimologicamente este topónimo
com o vocábulo algodão; o
incerto Pinho Leal deu-o como
palavra árabe de Alcoton, que
depois se teria transformado em
Algodrons para se mudar em
Algodes e Algodres; o padre Luís
Cardoso, no seu Dicionário e
Notações de Vilas e Aldeias, diz
que o nome vem do latim
Algodrium. O moderníssimo
Dicionário Geral da Língua
Portuguesa, diz “Talvez do
plural árabe algódor (singular
de gadir), sem a deslocação do
acento e com o acrescentamento
do “r” do plural português”.
Fornos de Algodres
O início da conquista da
Península Ibérica pelos romanos,
no contexto das Guerras Púnicas,
deu-se em 218 a.C., com a
invasão da cidade de Ampúrias,
na actual Catalunha, e só viria
a ficar concluída no final do
século I a.C. Pelo meio ficaram
dois séculos de intensas lutas,
das quais se destaca a que opôs
os Lusitanos a Romanos, que se
terá iniciado em 194 a.C.. A
região onde se inscreve o
território do actual concelho de
Fornos de Algodres era parte
integrante do território ocupado
por esse conjunto de povos,
tendo sido progressivamente
romanizada ao longo desses dois
séculos, sobretudo no período
das guerras civis entre César e
Pompeu.
Romanizada, a região onde se
integra o actual concelho de
Fornos de Algodres viria a fazer
parte da Civitas de Viseu e
atravessada por uma importante
estrada que ligaria a área da
Guarda à estrada que, vindo de
Idanha-a-Velha, seguia até
Viseu. Esta estrada terá tido um
papel particularmente importante
na organização do povoamente
rural no território de Fornos
durante o período romano,
contribuíndo para o
estabelecimento de uma série de
villae (propriedades rurais)
nessa área.
A ocupação romana manter-se-ia,
na região, até ao início do
século V, altura em que Suevos,
Vândalos e Alanos se instalam,
pondo fim ao domínio romano.
Fornos de Algodres
http://algodres.blogspot.com
Tanto quanto tenho conhecimento,
o toponimo "Algodres" e
antiquissimo e so existem duas
localidades em Portugal que o
usam, as duas no actual Distrito
da Guarda: Algodres, antiga vila
e concelho, actualmente
freguesia do concelho de Fornos
de Algodres, e, Algodres,
freguesia do actual concelho de
Figueira do Castelo Rodrigo.
Segundo nos informa Pinheiro
Marques (Terras de Algodres,
1938) o Padre Luiz Cardoso no ("Dicionario
Chorografico...") afirma que
este toponimo deriva da palavra
latina "algodrium", no entanto
essa palavra nao aparece em
nenhum dicionario latino
conhecido.
Pinho Leal (LEAL, 1873) diz-nos
que antigamente esta terra
chamava-se "Algodrons" e mais
tarde "Algodes, opinando que
seria a corrupcao do arabe
"Alcoton" = Algodao. No entanto
algodao em arabe e ALCUTUM e nao
ALCOTON, pelo que a evolucao
logica seria Alcoitao e nao
Algodres. Alem disso, "Algodres"
com esta mesma grafia aparece ja
em 1169, (foral de Linhares)
sendo ja nessa altura concelho,
e, nas inquiricoes de D. Afonso
III de 1258.
O falecido Padre Luiz de Lemos
(ensaio de monografia S/D) diz
que a evolucao do toponimo, vira
das palavras; AL (celtica usada
por Virgilio) ou AL artigo
arabe, com o perfixo: CORTEX,
que significa cortica ou casca
de arvore, Assim AL CORTEX -
ALCORTEX - ALGODREX - ALGODRES.
Mais fundamentada sera no
entanto a proposta de: Jose
Pedro Machado, (MACHADO, 2003)
Segundo ele "Algodres" tera
origem arabe, derivando de: AL
GODOR, plural de GADIR, palavra
que significa; lago, lagoa, rio,
ribeiro ou pantano. E da mesma
opiniao a professora: Maria J.
V. Molins, da Universidade
Complutense de Madrid, quando se
refere a Algodres (Figeira do
Castelo Rodrigo) dizendo que
significa "Las Lagunas".
A juntar a todas estas teses,
quero eu proprio apresentar
outra hipotese: Algodres
derivara da palavra latina
"algor" que significa sensacao
de frio intenso, sendo a
evolucao a seguinte: ALGOR -
ALGORES - ALGODRES. Pode ser so
imaginacao minha, mas nao se
tendo ate hoje provado nenhuma
destas teorias, penso que nao
sera de descartar totalmente.
Quanto as duas primeiras opcoes,
na minha humilde opiniao, devem
ser descartadas pelas seguintes
razoes: O cultivo de algodao e
impraticavel nas "terras de
Algodres" por ser uma cultura de
climas quentes e esta regiao e
uma regiao fria, e, era-o muito
mais ainda, na epoca romana ou
arabe.
Para ser um enterposto comercial
desse producto, como sugerem
alguns, Algodres teria que
situar-se junto a uma via
romana. Acontece que ate hoje,
nunca foi descoberta nenhuma
evidencia documental ou
arqueologica que nos possa
indiciar essa hipotese, pelo que
considero que a relacao de
Algodres com algodao uma pura
fantasia.
Ja a relaçao deste toponimo com
cortica, faz mais sentido, pelo
facto de ainda hoje existirem
alguns sobreiros na regiao,
sabendo-se que outrora antes da
expansao do pinhal, havia muitos
mais. Alem disso incluidas no
antigo concelho de Algodres e
desde o seculo XII existe a
povoacao de "CORTICOLO" (o
ultimo C tem cedilha) e desde o
seculo XIV a aldeia de Soveral,
que tambem as vezes se grafava e
grafa: "Sobral". Tanto uma como
outra povoacao, estao
relacionadas com cortica e
sobreiros.
A relacao de Algodres com lagoas
ou cursos de agua, tambem tem
algum sentido, pois as "Terras
de Algodres" no tempo de D.
Afonso Henriques eram
delimitadas com Linhares, pelo
Rio Mondego, (o maior rio
portugues) nessas alturas muito
mais caudaloso, e, eram cortadas
por varios ribeiros e ribeiras (
Cortegada, Vila Cha, Figueiro,
Cortico, Rancozinho, Infias,
Canharda, etc. Havendo tambem
por essas alturas varias lagoas.
Ainda hoje conservam o nome de
"Alagoas", varias terras ferteis
relativamente perto desta antiga
vila.
Quanto a minha tese, baseia-se
no facto da situacao geografica
da antiga vila e regiao: um
planalto a cerca de 7OO de
altitude, varrido pelos ventos
norte e "suao" = Leste, com
caidas de neve e geadas
frequentes, que tornam os
invernos bastante severos ainda
hoje, quanto mais a mais ha
cerca de mil anos, altura da
provavel fundacao da localidade.
Alem disso ainda hoje, o
planalto de Algodres e
identificado como: "terra fria".
Gouveia – (Concelho do
Distrito da Guarda)

Desconhece-se a época da sua
fundação, embora seja certo que
já existia em épocas anteriores
à da dominação romana. Velhas
crónicas afirmam que foi povoada
pelos Túrdulos 500 anos antes de
Cristo e se denominava Gouvé. Na
época de D. Sancho l, a
localidade encontrava-se
completamente em ruínas. A este
monarca se deve seu
repovoamento. D. Manuel l,
outorgou-lhe foral em 1510.
Gouveia é uma vila airosa na
encosta ocidental da Serra da
Estrela.
Origem do nome:
«J.
Vilhena de “As Cidades e Villas
da Monarchia Portugueza que têm
Brasões d’Armas – 1860”»: “Na
província da Beira, cinco léguas
desta cidade da Guarda, está
edificada a vila de Gouveia na
falda ocidental da Serra da
Estrela, mas em lugar um pouco
elevado. É muito anterior à
fundação da monarquia, e como
tal tem a sua origem envolvida
em fábulas, ou pelo menos muito
duvidosa. O autor da Corografia
Portuguesa diz que foi povoada
pelos túrdulos quinhentos e
oitenta anos antes do nascimento
de Cristo, e que estes lhe
chamavam Gauve, donde se derivou
por corrupção o nome de
Gouveia”.
Gouveia
http://www.cm-gouveia.pt
A
cidade de Gouveia
A cidade de Gouveia, sede
concelhia, encontra-se situada a
cerca de setecentos metros de
altitude. Edificada na encosta
ocidental da Serra da Estrela, o
panorama que dali se desfruta é
um dos mais belos do país.
Gouveia oferece a quem a
visita e aos seus residentes, um
conjunto de espaços verdes,
locais de lazer e recreio dignos
de serem usufruídos.
O Miradouro do Paixotão
permite admirar a vista sobre o
casario, o campo e a serra.
Desça depois ao Jardim Lopes da
Costa e, se for caso disso, leve
os seus filhos a brincar no
Parque Infantil e deambule pelo
Pátio do Museu, com o seu sabor
romântico. Passeie até ao Jardim
da Ribeira e não perca o Parque
Zoológico.
No coração da cidade admire
a riqueza do património. A
igreja de S. Pedro, a igreja da
Misericórdia, o Solar dos Serpa
Pimentel e a Fonte de S. Lázaro
datada de 1779.
O edifício dos Paços do
Concelho, datado do século XVIII,
e o Monte Calvário, local
sagrado por excelência, de
Gouveia, convidam a uma visita
demorada ao centro da cidade. À
saída, no meio de campos e
rodeado de pequenos bosques,
fica o Convento de S. Francisco.
Um interessante imóvel privado
que desperta atenção pelo seu
carácter místico.
Gouveia
Edificada na encosta oriental da
Serra da Estrela, o panorama que
se desfruta sobre o vale do
Mondego é dos mais belos do
país. Desconhece-se a época da
sua fundação, anterior à da
nacionalidade portuguesa como
possivelmente ao domínio romano
da península ibérica. Velhas
crónicas afirmam ter sido
povoada pelos Túrdulos, 500 anos
antes da era cristã os quais lhe
teriam dado o nome de Gouvé.
Segundo Alarcão: “ Aparentemente
Gouveia ficava num cruzamento de
vias romanas. A estrada de S.
Romão entroncava aqui com a via
que atravessava transversalmente
a serra e passava por Folgosinho.”
(Alarcão, 1993, p.21) Pedro
Carvalho diz, que “ a ausência
de dados ou o seu caracter
ambíguo não permitem uma clara
definição do seu traçado”. Mas
considera que “ a grande via
imperial que ligava Emérita
Augusta (Mérida), capital da
província da Lusitânia, a
Bracara Augusta (Braga). “Outra
via estabeleceria a ligação
entre este grande eixo viário e
(...) Bobadela (Oliveira do
Hospital), como parece
testemunhar o miliário de Paços
da Serra (...) podendo
seguidamente dirigir-se para
nordeste, em direcção á capital
de civitas dos Aravi (Marialva),
ao longo de todo um percurso
natural definido pelo vale do
Mondego”.
Sujeita, como toda a Península
Ibérica, aos invasores
muçulmanos, deve ter sentido a
benéfica influência que esse
povo exerceu em todos os pontos
da Península sobre seu domínio,
mormente nas regiões agrícolas
como esta. Em 1083 D. Fernando
I, Magno, (Rei de Leão e
Castela), integrado no movimento
da Reconquista Cristã retomou
Gaudela aos Mouros (Guerrinha,
1985, 8). O primeiro foral de
Gouveia foi concedido no ano de
1186 por El-rei D. Sancho I e
confirmado por D. Afonso II em
Coimbra a 11 de Novembro de
1217. Este foral era cheio de
prerrogativas e privilégios
conducentes à repovoação da
terra (J.G., nº39) que atraíram
ali numerosas famílias que em
breve fizeram regressar, senão à
sua antiga opulência, pelo menos
a um est5ado de prosperidade que
em breve a distinguiria entre os
demais núcleos populacionais da
província. No artigo “Breve
notícia histórica de Gouveia”
(J. G. nº39, p.1) diz-se que D.
Manuel concedeu novo foral “em 1
de Julho de 1510” .
Como na maior parte das terras
da Beira, também em Gouveia a
família judaica teve acentuada
influência, o que bem claramente
se deduz da existência de uma
judiaria no bairro da Biqueira e
das cruéis perseguições de que
dão testemunho vários edifícios,
entre os quais a capela de Sta.
Cruz.
Durante o domínio Filipino
Gouveia é elevada a cabeça de
marquesado, sendo atribuído a D.
Manrique da Silva, 6º Conde de
Portalegre e mordomo-mor de
Filipe III, o título de 1º
Marquês de Gouveia, passando
mais tarde o marquesado para a
casa dos duques de Aveiro. O
último Marquês foi D. José de
Mascarenhas, duque de Aveiro,
acusado de conspirar contra a
vida de D. José em 3 de Maio de
1758. (Guerrinha, 1985, 9.
Mais tarde, já em pleno séc. XIX,
o poeta José Freire de Serpa
Pimentel recebeu o título de
visconde de Gouveia, sendo um
dos seus descendentes – Afonso
de Serpa Leitão Pimentel – o
restaurador do marquesado de
Gouveia, que definitivamente
desapareceu, devido a esse
titular ter morrido sem deixar
descendência.
Devido à sua localização,
riqueza agrícola e famílias
abastadas da região, a Companhia
de Jesus edificou em Gouveia no
séc. XVIII, um dos seus afamados
institutos de ensino e
propaganda, mas pouco se
utilizou dele, visto que
entretanto, a ordem foi banida
do território português e todos
os bens reverteram para a Coroa.
O vasto edifício e terrenos
anexos foram posteriormente
reclamados à Coroa pelas
religiosas franciscanas de
Almeida. Durante a guerra
peninsular o mesmo imóvel foi
transformado em hospital do
exército anglo-luso e finda a
guerra, transformado em caserna
onde se instalou o regimento de
Caçadores 7. Removido mais tarde
para outra guarnição procedeu-se
à venda do palácio, que foi
adjudicado a BernardoAntónio
Homem, que o legou ao sobrinho,
o conde de Caria. Os herdeiros
desse titular cederam-no por
compra à Câmara Municipal, onde
está instalada juntamente com o
Tribunal.
Guerrinha diz que: “ Gouveia
chegou a ser considerada “O tear
da Beira” (...) Por volta de
1873 havia em todo o concelho 23
fábricas de tecidos, com 192
teares manuais. Em 20 de Março
de 1874 saiu da Alfândega de
Lisboa para Gouveia, a 1ª
máquina para a indústria de
tecidos” (Guerrinha, 1985, 11).
A base da indústria de
lanifícios estava aliada à
riqueza de pastagens que abundam
em toda a serra e a prática do
pastoreio que fornecia
matéria-prima às fábricas de
fiação tecidos e lacticínios por
todo o concelho. O declínio da
indústria têxtil obrigou a
recentrar todo o tecido
económico. Após a onda de
emigração dos anos 80 o
concelho, sem esquecer a
industria, aposta no turismo
como factor de desenvolvimento.
Manteigas – (Concelho do
Distrito da Guarda)

Segundo a tradição, esta vila
teria sido um dos últimos
refúgios das tribos guerreiras
dos lusitanos, dos Montes
Hermínios (hoje Serra da
Estrela). Recebeu foral de D.
Sancho l, em 1188, renovado por
D. Manuel l em 1514.
Neste concelho, encontram-se os
imponentes Cântaros, o Gordo e o
Magro, afloramentos rochosos
resultantes do movimento de
glaciares; a agreste Nave de
Santo António; as Penhas
Douradas, saudáveis e
tranquilas, e a Torre, o ponto
mais alto de Portugal (1991
metros); e finalmente, o
romântico Poço do Inferno,
verdadeira maravilha da
Natureza, com formosa cascata
(cachoeira) que se transforma em
dantesco espectáculo de gelo no
Inverno.
Origem do nome:
«Xavier Fernandes em Topónimos e
Gentílicos (1944)»: “Nas nossas
investigações nada encontramos,
que esclareça o étimo do
topónimo; se não é o mesmo nome
comum, plural de manteiga,
hipoteticamente derivado dum
latim nattatica-natta pode então
considerar-se obscura a origem
de tal designação”.
Manteigas
http://www.freipedro.pt
Perde-se na história o nome que
davam à vila de Manteigas e
também não se sabe ao certo por
quem foi fundada, visto que
nenhum monumento há de que se
possa tirar fio condutor nesse
sentido. Consta que Júlio César
passou por ali, cinquenta anos
AC, à frente dos seus soldados.
A origem dos foros e
privilégios, usos e costumes da
vila de Manteigas, cuja
denominação de aldeia se
encontra em muitos documentos do
Séc. XII e seguintes, são
idênticos aos de muitas outras
terras circunvizinhas que
assentaram raízes em volta das
fraldas da serra conhecida
naquelas recuadas épocas por
Monte Hermeni, hoje denominada
Serra da Estrela.
No ano de 1188, D.Sancho I deu o
primeiro foral à vila de
Manteigas e D.Manuel I
concedeu-lhe novo foral a 4 de
Março de 1514 em Lisboa, este
além do interesse que tem como
documento comprovativo da vila
na época, assume grande
significado por nele se achar a
referência mais antiga e segura
ao foral que D.Sancho I concedeu
a Manteigas.
Das três freguesias que
constituem o Concelho, sabe-se
que tanto a de Santa Maria como
a de São Pedro se terão formado
entre as datas de 1336 1 1338. A
freguesia do Sameiro, que
pertenceu ao concelho da Covilhã
e ao extinto concelho de
Valhelhas, só em 1835 foi
adstrita ao concelho de
Manteigas. O concelho de
Manteigas, extinto a 26 de Junho
de 1896 e anexado ao da Guarda,
veio a ser restaurado em 13 de
Janeiro de 1898.
O concelho de Manteigas está
integrado na vasta área de da
Cordilheira Central e
especificamente na Beira
Interior Norte, em pleno Coração
da Serra da Estrela, totalmente
incluído no Parque Natural da
Serra da Estrela.
Meda – (Concelho do Distrito da
Guarda)

Povoação de origens remotas,
recebeu o primeiro foral
outorgado por D. Manuel l, em
1519.
Meda situa-se numa elevação a
cerca de 20 Km do Rio Douro,
integrada já na região
beiro-duriense. Possui um templo
espaçoso que mais se assemelha a
uma catedral com três grandes
naves e ainda duas fontes de
chafurdo, a dos Buchos e a do
Espírito Santo. Do século XVlll,
o século de ouro da arquitectura
e da escultura portuguesa, Meda
tem dois bons edifícios: os
Paços do Concelho e o Solar dos
Casas Novas.
Origem do nome:
«Xavier Fernandes em Topónimos e
Gentílicos (1944)»: “O suposto
étimo latino meta, meda, não
ajuda muito a pronúncia habitual
do topónimo, com “e” fechado ou
circunflexo. J. Poel,
referindo-se ao nome próprio
geográfico Meães (concelho de
Barcelos), lembra a forma
Medanis, do século Xlll, e diz
que faz supor a existência dum
nome, Meda, que talvez exista em
Monte-Meda, recordando que no
Minho aparece a forma Medeiro,
“onde há medas de milho”. Há por
outro lado, a citação de alguns
nomes germânicos formados com
raiz Mid, que parece pertencer
ao gótico Midjs, “o do meio”.
Como se vê, subsiste a indecisão
ou a dúvida”.
Meda
http://www.cm-meda.pt/web/freguesias
A
freguesia da Meda é a sede do
concelho do mesmo nome,
pertencente ao distrito da
Guarda e à diocese de Lamego. É
uma vila antiga, com origens que
se perdem no tempo, situada a
cerca de 670 metros de altitude,
num magnífico planalto onde a
Beira termina e o Douro se
anuncia, fronteiro às terras de
Riba Côa e de onde se vislumbram
as cumeadas da Estrela.
Notas Históricas
Como muito bem escreveu Frei
Manuel Pimentel, em 7 de Maio de
1758, a paróquia estava toda
junta e unida na mesma vila, sem
ter lugar algum de fora, e
situada em campinas, tendo
próximo da vila um rochedo com
vestígios de que foi murado, a
que vulgarmente se chama
castelo, e no alto uma capela
particular da invocação de Nossa
Senhora da Assunção (e não de
Santa Bárbara). Esta capela, ao
que se sabe, foi derrubada no
século XIX e ali edificada a
actual torre para o relógio,
aproveitando a pedra da capela
demolida.
Qual terá sido a origem desta
localidade? Com fundamento nas
investigações levadas a efeito
pelo emérito Prof. Dr. Adriano
Vasco Rodrigues, a quem se deve
o mais aprofundado estudo sobre
a história e os valores
culturais desta região, o nome
da Meda estará relacionado com o
radical Med, Meid; com a Quinta
do Medo, onde há vestígios de
povoamento luso-romano e a
tradição diz ter sido a Meda
primitiva, ou com o castro da
Medelinha, ao sul dos Moínhos do
Vento, a uma altitude de 800
metros, devendo ter-se em conta
que na Idade Média o topónimo
Meda aprece grafado Ameda,
Almeda e Amida. Leite de
Vasconcelos refere a existência
de uma tribo lusitana fixada
nesta região que em 48 A.C. foi
atacada por Cássio Longino e
suas tropas, tendo os
medobrigenses retirado para os
Montes Hermínios. Júlio Cesar,
no cap. XLVII-1.2, no De Bello
Alexandrino Comentarii faz uma
longa referência aos
medobrigenses, infirmando a
referência de Leite de
Vasconcelos. Aquele ilustre
investigador e autor da
monografia "Terras de Meda -
Natureza e Cultura", o Prof.
Adriano V. Rodrigues, tem
defendido, e sem controvérsia
vem demonstrando, que os actuais
medenses são os sucessores dos
valentes medobrigenses que foram
os últimos a resistir aos
romanos e depois forçados a
contribuir para a construção da
famosa Ponte de Alcântara sobre
o Tejo, onde, aliás, o seu nome
se encontra referido numa
inscrição latina ali colocada,
em singular sequência que indica
um percurso de sul para norte.
Caberá fazer uma referência ao
testamento de D. Flâmula,
sobrinha do Rei Ramiro II, de
Leão, (século XI) pelo qual,
entre outros bens, deixou para
obras de beneficência "nostros
castellos esse Trancoso, Moravia,
Longrovia, Neuman, Vininata,
Amendula, Pena de Dono, Alcobria,
Semorzelli, Caria...", havendo
recentemente quem considere que
"Amendula", (ou Amindula),
localidade ali referida, mais
não será que a nossa actual Vila
da Meda, infirmada de certo modo
pela proximidade geográfica das
localidades.
Porém, e como diz o mesmo
ilustre investigador, Prof. Dr.
Adriano Vasco Rodrigues, "A Meda
[Al-Meda, Ameda e Amida] nos
alvores da nacionalidade
portuguesa era de todas as
actuais freguesias do concelho o
mais insignificante lugarejo. Um
cenóbio beneditino instalado
junto de uma fonte, no sopé do
morro granítico onde agora está
a torre do relógio, assinalava a
presença cristã e o direito ao
celeiro. A principal riqueza era
o trigo e os gados, que
pertenciam à Ordem dos
Beneditinos.
É com a Ordem de S. Bento que a
Meda reinicia o processo da sua
identidade e do seu
desenvolvimento. É, de facto,
com os beneditinos que se
constrói a primeira igreja, de
traça românica, base do actual
templo. Sob S. Bento ou depois
sob S. Bernardo do Claraval, os
monges brancos sabiam escolher
as terras mais produtivas do
ponto de vista agrícola. A Meda
aprendeu com eles a sua regra de
oiro - "ora et labora" - , com
eles crescendo paulatinamente,
só se desenvolvendo de facto a
partir do século XV.
Dos beneditinos eram os
principais produtos, enquanto
não foram parar às mãos da Ordem
dos Templários, e mais tarde,
depois de 1319, para as da Ordem
de Cristo.
Os Templários deixaram algumas
marcas na Meda, desde a
lembrança de algumas cruzes nas
portas das casas sitas na zona
mais antiga da Vila (o que
indica que alguém daquela
família participou numa
cruzada), ou na Capela da
Senhora das Tábuas, por eles
fundada e depois remodelada nos
séculos XVI, XVIII e XX. Como
ensina o Prof. Dr. Adriano Vasco
Rodrigues, a invocação mariana
terá origem numa pintura de
Nossa Senhora, num tríptico de
madeira. O pavimento interior é
feito em mosaico, figurando
folhas de palmeira ao gosto
oriental. Ali foram utilizadas,
em lugar das pedras, vértebras
humanas, certamente por
influência das capelas dos
ossos, ao gosto dos
franciscanos. O estilo deste
pavimento faz lembrar pavimentos
semelhantes em igrejas cristãs
na Palestina, pelo que terão
sido os Cruzados a trazer este
modelo. Aliás, no retábulo ali
existente ainda se encontram
restos de pintura de primitivos
portugueses. Alguns ex-votos
podiam ser vistos, ainda não há
muito, no interior da capela.
No sopé do morro do Castelo,
perto do pelourinho manuelino (a
que falta a pirâmide octogonal,
em gaiola, derrubada por um
ciclone nos idos de 40), a Ordem
dos Templários construiu uma
torre que servia de celeiro.
Numa sala das Casas Novas, da
Família Corrêa de Lacerda, na
Rua do Passeio, na Meda, é
possível admirar ainda uma
pintura a fresco, que dá uma
ideia de como era essa
construção. A torre, por
desnecessária, veio a ser
derrubada nos princípios do
século XIX, servindo muitas das
suas pedras para construir o
velho Tribunal.
O pároco da Meda era freire
apresentado pela Mesa da
Consciência da Ordem de Cristo,
com o título de Vigário. Tinha
coadjutor, também freire da
mesma Ordem. Mas em 1758 a
descrição da igreja matriz já é
diferente da que se faz no
relatório da Visitação da Ordem
em 1507; de facto, sobre a
antiga igreja românica já tinha
sido construída, nos alvores do
século XVII, o templo actual. S.
Bento (e não S. Bernardo)
continua a ser o orago. No
século XVIII há registo das
irmandades da Senhora do
Rosário, das Almas e do Santo
Pastor.
D. Manuel I, o Venturoso, entre
os forais novos da Beira,
concedeu foral à "Vila de Meda,
Comenda da Ordem de Cristo",
tornando-a concelho sobre si
mesmo. Estávamos então em 1 de
Junho de 1519.
O crescimento urbano da Meda,
nos séculos XVI e XVII - segundo
o Prof. Dr. Adriano Vasco
Rodrigues - está ligado á
economia cerealífera do centeio
e do trigo, pesando também a
produção da carne, de queijo e
de lã. No século XVIII a Meda
teve outro surto de
desenvolvimento urbano motivado
pela lã, pelo pão e pela
produção doméstica da seda.O
dinheiro que então entrou na
vila fez-se sentir na construção
de imóveis. A produção do vinho
passou gradualmente a pesar na
economia, sendo actualmente a
actividade agrícola de maior
peso.
Com o liberalismo, na segunda
metade do século XIX, o concelho
da Meda começou a tomar outra
forma e a Vila a ter um
desenvolvimento desusado. Ainda
que não recebesse de imediato
todas as localidades que hoje
integram o Município, desde
logo, a partir de 6 de Novembro
de 1836, começa o concelho da
Meda a apresentar uma nova
configuração.
A história dessa evolução
patenteia-se, com muitos e ricos
pormenores na obra "O Concelho
de Meda - 1838-1999" da autoria
do insigne medense Dr. Jorge
António de Lima Saraiva. Durante
esse período, e segundo este
autor, "o município de Meda
criou os mecanismos essenciais
ao bom funcionamento de um
município moderno, embora de uma
forma muito ténue. As
competências eram vastas e
variadas, mas a área de
intervenção muito limitada, em
parte devido à política
centralizadora desenvolvida pelo
estado Liberal." (pag. 61, obra
citada). Abre-se então a estrada
para Trancoso, da Meda até
A-do-Cavalo, procede-se à
expropriação de terrenos para
tornar a Praça da Igreja mais
espaçosa e higiénica,
constrói-se a Escola Conde de
ferreira, o edifício das Caldas
de Longroiva e o cemitério de
Ranhados, criam-se escolas em
Casteição, Prova e Ranhados,
constroiem-se chafarizes (o do
Largo da Igreja, entre outros).
Tudo isto com muita
instabilidade política que leva
a acertos e desacertos com
delimitações de concelhos e
comarcas.
É em 1875 que a Meda é escolhida
para cabeça de comarca. Com
efeito, a divisão judicial
publicada em 12 de Novembro de
1875, reforça perante os seus
vizinhos a posição do concelho
da Meda. Foi esta data - 12 de
Novembro - que durante muitos
anos, até 1952, se comemorou
como feriado municipal da Meda.
Não menos agitado foi o período
pós-monárquico em terras da
Meda. A Comissão Administrativa
Republicana do concelho da Meda
tomou posse em 13 de Outubro de
1910. As finanças municipais
estavam asfixiadas, mas, ainda
assim, foi possível adquirir por
6.016$00 o eifício actual dos
Paços do Concelho ao Dr. António
Maria Homem da Silveira Sampaio
de Almeida e Melo. Já se falava
no cemitério na senhora das
Tábuas, mas não havia dinheiro
para tanto.
Entre 1926 e 1936 o Dr. Duarte
Gustavo de Roboredo e Castro, à
frente do município, define um
verdadeiro plano de acção a
desenvolver a médio prazo, sendo
suas preocupações a limpeza e a
iluminação da vila, a construção
do novo cemitério, estradas para
todas as freguesias,
calcetamento de ruas e a
instalação de uma rede eléctrica
para iluminação pública e
particular.
No período seguinte, com o Dr.
Albertino dos Santos Matias,
inicia-se a construção do novo
Tribunal e executam-se obras com
que se quer firmar o progresso.
Porém, a fase mais fecunda surge
entre os anos de 1944 a 1951 com
o dinamismo do ilustre medense
Dr. Augusto César de Carvalho,
que rasga e constrói a Avenida
Gago Coutinho e Sacadura Cabral,
levanta o estádio Municipal, faz
aparecer um número considerável
de escolas novas, do Plano dos
Centenários, consegue a
exploração e a captação de água
da Torre do terrenho para a Vida
da Meda e freguesias de Prova,
Aveloso e Outeiro de Gatos e dá
início ao saneamento básico da
sede do concelho, com a
cobertura da ribeira Centeeira
que corria a céu aberto na área
urbana da Vila.
Depois este progresso avançou
com o médico António Joaquim
Dias, o advogado Eurico
Consciência, o vitivinicultor
Miguel Costa, o professor Antero
Sobral e, por último, com o
jurista Dr. João Germano Mourato
Leal Pinto (que se encontra, em
quinto mandato consecutivo, na
presidência da Câmara
Municipal).
O concelho da Meda, e em
particular a sua sede, vão,
desde então, adquirindo uma nova
fisionomia com a entrada em
funcionamento de diversos
equipamentos sociais que
melhoram consideravelmente a
qualidade de vida dos medenses.
Com o 25 de Abril, o Poder Local
toma consciência do que pode
fazer e é um sem-número de
benefícios que se vão
concretizando, em vários
domínios como o ensino, a saúde
e o urbanismo.
Entre os mais notáveis
melhoramentos sobressai o
abastecimento de água
domiciliária a todo o concelho
da Meda, com a construção da
barragem de Ranhados, por
iniciativa da Associação de
Municípios do Rio Torto, (a
primeira associação do género a
constituir-se em Portugal) que
integra os concelhos da Meda, S.
João da Pesqueira e Vila Nova de
Foz Côa.
As eleições autárquica trazem
sempre novas energias, quer para
os que prolongam a sua presença
em novos mandatos, quer por
parte daqueles que se encontram
na oposição, uma vez que a luta
política, sendo constante, acaba
por ser criativa.
Apesar de o mesmo se poder dizer
dos restantes municípios
portugueses, o concelho da Meda
cresceu mais nos últimos 15 anos
do que nos anteriores 150. Não
lhe faltam os equipamentos de
que carece, nem os serviços
públicos a que é legítimo
aspirar. Um trabalho porfiado e
perseverante, que tem redundado
na melhoria da qualidade de vida
dos medenses. Diz-se até, de há
cinco anos a esta parte, que "a
Meda está na moda", uma frase
que diz bem do progresso que a
Meda e o seu concelho já
alcançaram neste período.
Pinhel – (Concelho do Distrito
da Guarda)

De
origens remotas, terá sido
primitivamente habitada por
povos germânicos. D. Afonso
Henriques concedeu-lhe foral e
fortificou-a, prevendo uma
invasão leonesa, pois no
território vizinho existia uma
poderosa linha de castelos.
Elevada a cidade por D. José em
1770, foi sede de diocese por
bula do papa Clemente XlV,
extinta em 1882.
Pinhel ergue-se a cerca de 600
metros de altitude, na margem
esquerda do Rio Côa. Até ao
século Xll, desempenhou o
importante papel de praça
fronteiriça, pois a região
transcudana pertencia ainda ao
vizinho reino de Leão. Datarão
dessa época a primitiva muralha
e o castelo. Deste conservam-se
duas grandiosas torres
quadrangulares, tendo a da
direita, na face virada sobre a
cidade, uma bela janela
manuelina, geminada. No vasto
pano da muralha que rodeava a
cidade, se abriam cinco portas,
identificadas pelos nomes das
vilas para onde se viravam ou
pelos nomes de santos: as Portas
de Almeida, Castelo Rodrigo,
Marialva, Trancoso, Sant’Iago e
São João.
Origem do nome:
«Xavier Fernandes em Topónimos e
Gentílicos (1944)»: “Quanto ao
étimo de Pinhel, vocábulo que
existe também como nome comum,
pode dizer-se que é um derivado
do substantivo pinho,
evolucionado normalmente do
latim pinus = pinheiro.
Efectivamente, esta conhecida
árvore aparece entre os
elementos, que formam o antigo
brasão de armas da cidade de
Pinhel”.
Pinhel
http://www.cm-pinhel.pt
Concelho de Pinhel
O concelho de Pinhel é
geograficamente delimitado, na
sua maior parte, por dois cursos
de água: a ribeira do Massueime
a Oeste e a Leste pelo rio Côa.
Localiza-se na zona central do
distrito da Guarda e confina com
os concelhos de Almeida,
Figueira de Castelo Rodrigo,
Vila Nova de Foz Côa, Meda,
Trancoso e Guarda.
Tem aproximadamente 482Km2 de
superfície e 26 freguesias
rurais e 1 freguesia urbana
(sede de Concelho).
Em termos de acessos é servido
pela linha de caminho de ferro
(V. Franca das Naves a 12 Km),
pelo IP5 (nó de Pinhel e nó de
Pínzio). Dista da Fronteira de
Vilar Formoso 34 Km.
No que diz respeito à ocupação
humana, está documentada a
presença desde a época
pré-histórica. As gravuras e
pinturas rupestres de Cidadelhe
(Neolítico) e a referência a um
conjunto significativo de locais
com testemunhos pré romanos e
romanos permitem-nos afirmar que
o concelho de Pinhel tem uma
ocupação continuada desde tempos
muito remotos.
Durante o período medieval,
atendendo às necessidades de
defesa do reino de Portugal,
surgiram por todo o concelho um
conjunto de locais fortificados,
de que se destacava o castelo de
Pinhel, considerados pontos
avançados de um sistema de
fortificações mais amplo que
incluía os castelos das
povoações de Trancoso, Marialva,
Guarda, Castelo Rodrigo, Almeida
e Castelo Mendo.
A localização estratégica de
Pinhel, face ao nosso
tradicional inimigo espanhol,
fez com que os reis de Portugal,
logo no início da nacionalidade,
tivessem atribuído forais que
pretendiam promover o
desenvolvimento destas terras.
Ao percorrermos o concelho,
notamos a existência de um
conjunto de testemunhos,
materializados na arquitectura
das 27 freguesias, que
evidenciam um significativo
desenvolvimento económico e
social.
Cidade de Pinhel
http://www.cm-pinhel.pt/
Estudos recentes vieram
confirmar que a origem da cidade
de Pinhel remonta à época
pré-histórica, mais precisamente
ao período calcolítico. A
excelente localização
geográfica, numa colina rodeada
por dois cursos de água e com
grande controlo visual sobre a
área circundante, permite-nos
afirmar que Pinhel foi desde
sempre uma povoação fortificada.
É contudo durante o período
medieval que esta região, e
concretamente a então vila de
Pinhel, assume uma importância
relevante no contexto nacional.
A proximidade geográfica com
Espanha colocou Pinhel como
fulcro de um sistema fortificado
mais abrangente, que incluía os
castelos de Trancoso Marialva e
Castelo Mendo. Até à assinatura
do tratado de Alcanizes, era uma
das praças mais avançadas do
reino de Portugal na Beira Alta.
Pensa-se que D. Afonso Henriques
tomou a seu cargo a restauração
do castelo chamando pessoas para
povoar esta região de fronteira.
Desde muito cedo que Pinhel foi
dotada de uma autonomia
administrativa e judicial. O
foral, dado em 1191 pelo Prior e
irmãos da Ermida de Stª Maria de
Riba–Paiva é testemunho dessas
prerrogativas.
Pelo foral de 1209 atribuído
pelo D. Sancho I, vê confirmadas
as regalias adquiridas
anteriormente. Estas foram
sucessivamente confirmadas por
D. Afonso II em 1217, D. Dinis
em 1282, D. João I em 1385 e
pelo foral novo de D. Manuel I
datado de 1510.
Terminadas as contendas com os
árabes, o rei D. Dinis procurou
consolidar as fronteiras com o
reino vizinho. Conjuntamente com
a reedificação dos castelos de
Riba-Côa, assiste-se também à
reedificação do Castelo de
Pinhel, que apesar de recuado
face à nova linha de fronteira,
foi por ele tido como de grande
valor.
Deve-se também à acção desse
monarca a construção da muralha.
Aberta em seis portas - Vila,
Santiago, S. João, Marrocos,
Alvacar e Marialva, Pinhel
tornava-se uma poderosa
cidadela.
Na cidadela erguem-se duas
torres do mesmo período. A torre
norte, também designada de
manuelina, devido às alterações
estruturais ocorridas durante o
reinado de D. Manuel I,
apresenta uma janela de estilo
manuelino virada a Sul que
ilumina uma sala abobadada
rematada pela esfera armilar. Na
fachada virada para Espanha
apresenta duas gárgulas
antropomórficas a defecar.
A partir do Século XVI surgiram
na cidade edifícios, civis e
religiosos, que denunciam uma
época áurea desta povoação.
A Igreja da Misericórdia, a
Igreja de S. Luís, a Casa
Grande, que foi mais tarde
residência dos Condes de Pinhel,
o Solar dos Corte Reais e o
Pelourinho, são alguns dos
muitos exemplos de Monumentos
Classificados que podem ser
apreciados por quem nos visita.
No reinado de D. José I a vila
de Pinhel é elevada à categoria
de Cidade Episcopal (25 de
Agosto de 1770).
O contexto político dos inícios
do século XIX, as divergências
com a Câmara Municipal que
impediram a construção da Sé
Catedral, e as políticas dos
governos Setembristas, pouco
dados à aristocracia, ditaram o
enfraquecimento de algumas
dioceses.
Assim aconteceu com o bispado de
Pinhel, que teve como último
bispo D. Leandro de Sousa
Brandão. A bula papal de Leão
XIII, de 30 de Setembro de 1881
estabeleceu a extinção «para
sempre» das dioceses de Pinhel,
Aveiro, Castelo Branco e Leiria.
Sabugal – (Concelho do Distrito
da Guarda)

Este concelho ficou completo em
1297, com a assinatura do
Tratado de Alcanizes entre D.
Dinis e o rei de Leão. Possui
cinco castelos, correspondentes
aos antigos concelhos medievais,
e muitos exemplos de património
edificado com valor
arquitectónico e histórico.
Origem do nome:
«Xavier Fernandes em Topónimos e
Gentílicos (1944)»: “Desde longo
tempo se tem afirmado que a
denominação foi dada à antiga
povoação por lá haver muitos
sabugueiros, o que não repugna
acreditar. Deve, todavia
notar-se que de sabugueiro se
formaria normalmente sabugueiral,
ao passo que Sabugal, isto é,
sabugal se formou de sabugo,
que, aliás, também se aproveitou
para a toponímia (Sabugo,
concelho de Sintra), como
identicamente se aproveitou
outro derivado (Sabugosa, na
Beira Alta). Sabugo, primitivo
em português é o latim sabucu,
variante de sambucu, nome do
conhecido arbusto”.
Sabugal
http://www.cm-sabugal.pt/turismo
O
Concelho do Sabugal insere-se na
ampla unidade geográfica
denominada por Alto Côa,
correspondente às terras do vale
superior deste rio.
A região apresenta diversos
indícios de importante ocupação
humana, apesar das suas
condicionantes naturais não
serem as mais propícias ao
assentamento populacional na
Antiguidade. Os vestígios mais
antigos, testemunhados no Alto
Côa, recuam ao Neolítico. Entre
as referências a diversas antas
desaparecidas em Ruivós, Aldeia
da Ribeira e Quinta dos Vieiros,
passando por alguns achados
avulsos, até ao sítio
arqueológico mais recente
escavado nas Carvalheiras
(Casteleiro), já é possível
obter uma visão destas primeiras
comunidades habitantes da
região.
O período do Calcolítico tem
vindo, pouco a pouco, a ser
melhor conhecido, fruto
sobretudo dos trabalhos
arqueológicos desenvolvidos no
concelho. A prospecção e recolha
de materiais à superfície no
alto de Santa Bárbara (Aldeia da
Ponte) e as escavações
realizadas no centro histórico
do Sabugal têm permitido reunir
diversos fragmentos cerâmicos
com decoração penteada e
pontilhada, um machado de cobre,
artefactos lascados de sílex e
peças de anfibulito e silimanite,
pródigas sobretudo na região
raiana do Sabugal.
A ocupação humana foi pródiga
sobretudo na Idade do Bronze, à
qual são atribuídos diversos
povoados de altitude e inúmeros
achados avulsos (alguns expostos
no Museu Nacional de
Arqueologia). Em Vilar Maior, no
Sabugal, na Serra Gorda (Águas
Belas), no Castelejo (Sortelha),
no Cabeço das Fráguas (Pousafoles
do Bispo), em Caria Talaya (Ruvina),
em Vila do Touro, e em muitos
outros topos de cabeços da
região poente, habitaram
diversas comunidades pastoris,
agrícolas e mineiras. A riqueza
destas terras em mineração de
estanho e cobre (produtos
indispensáveis para a produção
do bronze) consolidou a
importância regional do Alto
Côa. Deste período conhecem-se
as mais belas peças
arqueológicas, como as estelas
decoradas dos Fóios e do Baraçal;
a espada de Vilar Maior; os
machados da Quarta-Feira, Soito
e Lageosa da Raia.
As comunidades da Idade do Ferro
também aqui permaneceram,
ocupando outros topos elevados
de relevos e deixando-nos
vestígios dos seus povoados
fortificados. Para além da Serra
das Vinhas (Penalobo), do Cabeço
de São Cornélio (Sortelha) e da
Serra da Opa (Casteleiro),
destacam-se o Sabugal Velho e o
próprio Sabugal. Desde cedo aqui
terá existido um povoado
centralizador da região,
seguramente devido à sua posição
sobranceira a uma das travessias
mais importantes do Côa,
destacando-se pela sua riqueza
de materiais cerâmicos,
metálicos, contas de pasta
vítrea e até das estruturas
habitacionais escavadas na Vila.
Os romanos ocuparam este
território de forma violenta,
talvez restando dessa presença
militar inicial ainda algum
acampamento em Aldeia de Santo
António ou em Alfaiates. Também
uma inscição encontrada nesta
última aldeia parece testemunhar
um marco militar.
São conhecidas numerosas
estações arqueológicas pelo
concelho, e alguns materiais da
Época Clássica, que demonstram a
potencialidade da romanização
desta região: aldeias, vici,
villae, granjas e casais;
calçadas e miliários.
Destacam-se entre estes
testemunhos primitivos, a enorme
quantidade de epígrafes votivas
e funerárias que revelam a força
da aculturação romana da
população indígena local.
O Sabugal poderá ter continuado
a ser o ponto central de toda a
administração territorial do
Alto Côa, como o parecem provar
os miliários e os achados
existentes na Vila, situada na
exacta passagem de uma
importante via romana de ligação
entre as cidades romanas da
meseta espanhola e as urbes
conhecidas da Beira Baixa.
Os dados históricos escasseiam
com o declínio da civilização
clássica e são raros os
vestígios da passagem dos
suevos, visigodos e árabes.
Apenas alguns topónimos
persistem na paisagem. Entre
eles teríamos de destacar o
cabeço de Caria Talaya (‘Aldeia
vigia’) na Ruvina e até o nome
de Alfaiates (possivelmente
oriundo de Al-haet, ‘muralha’).
A evolução histórica torna-se
mais conhecida com o início da
reconquista cristã da Península
Ibérica e a formação da
nacionalidade. Esta parte do
território português terá sido
reconquistada aos mouros por D.
Afonso Henriques, segundo a
tradição, voltando a ser
invadida e posteriormente
retomada pelos reis de Leão.
Um testemunho vivo do quotidiano
das sociedades que habitavam a
região, neste período de domínio
leonês, encontra-se no Sabugal
Velho. Com a sua intrincada
linha dupla de muralhas, o seu
urbanismo ortogonal, a
importância da sua economia
mineira e os seus vestígios
materiais, seria seguramente um
dos centros populacionais mais
importantes da região junto com
o Sabugal e Vilar Maior.
Só mais tarde, com a
estruturação deste território
nos séculos XIII-XIV, através da
criação de cinco concelhos:
Sortelha, Vila do Touro,
Sabugal, Alfaiates e Vilar
Maior, o território é
espartilhado por estes
concelhos. Nestas localidades
ainda é possível admirar os
antigos Paços de Concelho, os
respectivos pelourinhos, assim
como os seus magníficos
castelos.
Sortelha e Vila do Touro eram
importantes praças militares de
defesa da fronteira portuguesa,
definida mais ou menos pelo rio
Côa. Sabugal, Alfaiates e Vilar
Maior eram Concelhos que
pertenciam ao Reino de Leão.
Estes três concelhos só foram
integrados no território
português em 1297, com a
assinatura do Tratado de
Alcanizes entre D. Dinis e D.
Fernando IV.
Mais tarde, no reinado de D.
Manuel, são outorgados novos
forais a Sortelha, Vila do Touro
e Vilar Maior (1510) e a
Alfaiates e Sabugal (1515).
Todo este território estava
também estruturado ao nível das
vias de comunicação. A maior
parte reutiliza velhas calçadas
e vias romanas. Estes eixos
ligavam a região à Guarda, a
Salamanca, a Belmonte e Covilhã
e a Penamacor.
A sua passagem sobre os rios e
ribeiras era marcada pela
construção de pontes de pedra,
pontões e poldras. Algumas
pontes podem ter origem romana,
como a de Alfaiates (já
desaparecida) e a de Aldeia da
Ponte. Outras serão de época
medieval, como a de Vilar Maior
e a de Sequeiros (Valongo),
única pelo seu torreão, situada
no local de passagem duma via
sobre o Côa, classificadas ambas
como imóveis de interesse
público.
Diversos acontecimentos
singulares e de grande
repercussão político-militar,
como as Guerras de Restauração
em 1640 e as Invasões Francesas,
em 1810, deixaram marcas
evidentes da passagem dos
exércitos. Para além do incêndio
de aldeias, da destruição de
igrejas e roubo de valores,
travaram-se aqui algumas
importantes batalhas da nossa
história nacional, como a do
Gravato (Sabugal), em 1811,
entre tropas napoleónicas e
tropas inglesas e portuguesas.
Próximo a Alfaiates,
encontram-se as ruínas do antigo
Convento de Sacaparte. Em Aldeia
da Ponte, para além dum cruzeiro
setecentista, situa-se o Colégio
dos Marianos. Também estes dois
imóveis revelam a importância
das tradições religiosas e do
estabelecimento de algumas
ordens monásticas em Ribacôa,
seguramente associadas à
passagem destas grandes vias
pela região.
A
Vila do Sabugal nasceu sobre um
promontório contornado pelo rio
Côa, numa extensa curva do seu
percurso para Norte, até ao rio
Douro, num ponto de boa defesa,
abundante em água e rodeado de
terras férteis. As boas
condições de travessia do rio
Côa contribuíram para a contínua
ocupação humana deste ponto
estratégico.
Caracterizando-se pela
existência de sabugos ou
sabugueiros, perto do curso de
água, ficou conhecida na altura
por ‘Sabugal’, aparecendo um
sabugueiro já nos brasões de
armas mais antigos da vila.
A povoação subsiste desde época
remota, ocupando o topo do
esporão natural, onde existiu um
importante povoado calcolítico,
que terá sofrido ocupação humana
contínua pela Idade do Bronze,
até à IIª Idade do Ferro. Neste
período, o castro local terá
ganho destaque territorial, em
todo o vale superior do rio Côa,
que nunca perdeu, nem com a
administração romana do
território. Supõe-se que seria
um importante núcleo
populacional da tribo lusitana
dos Lancienses Transcudani.
O aglomerado urbano romano que
aqui se desenvolveu
posteriormente é ainda pouco
conhecido. No entanto, existem
na vila diversos vestígios da
civilização romana: três
epígrafes, pedras de cantaria
almofadada, colunas, capitéis,
cerâmicas e moedas que se
espalham sobretudo pela encosta
nascente do centro histórico até
ao arrabalde. A centralidade
deste povoado no território
manteve-se até aos visigodos.
Não sabemos o que sucedeu no
Sabugal após a decadência do
império romano. São
desconhecidos quaisquer traços
da presença de outras
comunidades populacionais
externas, neste período
intermédio.
A vila do Sabugal, propriamente
dita, terá sido fundada na 2ª
metade do século XII,
tornando-se concelho através do
monarca leonês, D. Afonso IX,
cerca de 1190. O castelo e as
muralhas terão ocupado o ponto
mais alto da colina da antiga
povoação. A vila rapidamente se
foi espraiando pela encosta
nascente, para fora da cerca. O
Sabugal mantém, ainda hoje, a
muralha leonesa, onde destaca na
extremidade noroeste, o seu
castelo.
Os monarcas leoneses demonstram
com esta construção virada para
poente, a preocupação na defesa
deste território face aos
portugueses. Portugal tenta, por
outro lado reocupar estas terras
alegando a sua posse ancestral.
D. Dinis manobra o jogo com a
confirmação dos foros leoneses,
em Novembro de 1296 e estabelece
também aqui a primeira Feira
Franca do país. É com este
monarca português que se retoma,
no ano seguinte, este
território, através do Tratado
de Alcanizes, em Setembro de
1297.
O Sabugal é coroado então com
imponente torre de menagem, no
seu antigo castelo, considerada
uma das mais belas de Portugal,
pelas suas cinco quinas,
ocupando com notoriedade toda a
colina sobranceira ao rio e
avistando as extensas terras de
Riba-Côa até à raia. O reinado
de D. Dinis constituiu um
momento de desenvolvimento e
prosperidade da vila.
Mais tarde novo impulso foi dado
por D. Manuel, confirmando todos
os privilégios da região de
Riba-Côa, através de novo foral
em 1515 e efectuando obras de
beneficiação no castelo e vila.
Tinham razão os monarcas
portugueses em fortalecer e
guarnecer esta praça militar,
dada a importância estratégica
do local, facto atestado pela
frequência com que o local foi
utilizado como ponto de entrada
e saída de exércitos inimigos de
Portugal.
Durante as invasões francesas, o
Sabugal também foi alvo da
presença e saque das tropas
francesas em retirada, e aqui
deu-se até a importante batalha
do Gravato, resultando numa
vitória para as tropas inglesas
e portuguesas.
O Sabugal conserva algum
património construído digno de
visita: a Igreja Manuelina da
Misericórdia, com a pedra
leonesa das medidas-padrão e uma
interessante cachorrada; a
Igreja Matriz de S. João, datada
do século XVIII; a Torre do
Relógio, que serve de porta de
entrada à vila amuralhada; a
casa dos Britos, nome dado à
casa da família dos Costa Fraião,
onde destaca a sua ampla
escadaria; o Largo da Fonte; e a
réplica do antigo pelourinho no
largo do Museu.
Seia – (Concelho do Distrito da
Guarda)

Foi
Fernando Magno, de Leão, o
libertador definitivo de Seia,
que em 1057 já estava na posse
dos cristãos. Em 1122, D. Teresa
doou-a a Fernão Peres de Trava,
mas D. Afonso Henriques
apoderou-se da povoação e
concedeu-a a D. João de Ranha,
em 1131. Recebeu foral,
concedido pelo mesmo monarca, em
1136, confirmado por D. Afonso
ll em 1217 e renovado por D.
Manuel l, em 1510. A antiga
Civitas Sena ergue-se,
airosamente, na base dos Montes
Hermínios (Serra da Estrela). Do
seu passado guarda vários
monumentos, nomeadamente
solares, que demonstram a sua
importância histórica. Seia é
uma das portas da Serra da
Estrela, com ligações para os
principais pontos, nomeadamente
para Sabugueiro, a aldeia mais
alta de Portugal, por onde se
atinge a Torre, para o vale
profundo de Loriga e Alvoco,
velha formação glaciária.
Origem do nome:
«Xavier Fernandes em Topónimos e
Gentílicos (1944)»: “O étimo não
justifica outra escrita que não
seja Seia, com “S” inicial,
estando já dito e redito que a
evolução do vocábulo foi
sucessivamente Sena, Seea, Sea e
Seia. Nos séculos Xl e Xll
usava-se a forma Sena (veja-se,
por exemplo, Diplomata et
Chartae, pág. 156, ou Leges et
Consuetudines, pág. 370), que
nada tem a ver com ceias nem
jantares (cena, ae, ceia,
jantar), mas que em latim era o
nome de cada uma das seguintes
coisas: ria de Úmbria, cidade da
Itália, ilha do Mar Britânico e
determinados vegetais.
O
Domingo Ilustrado, nº 58, de
Fevereiro de 1898, conta
ingenuamente: “Fernando Magno de
Castela, em 1037 ou 1038,
resgatou a povoação do domínio
árabe e logo em seguida
encarregou o cavaleiro Pedro de
Cêa, natural da Galiza, da
fundação do castelo. Deste filho
de algo derivou o nome ao mesmo
castelo e seguidamente à vila.
Rigorosamente Cêa, em grego, é
nome próprio feminino”.
Mas
a verdade é que o referido
castelo também se chamou de Sena
e num foral de 1136 aparece mais
uma vez a mesma forma, Sena, que
só por cegueira se poderá
relacionar com qualquer Cêa,
galego ou grego”.
Seia
http://www.cm-seia.pt/concelho
É
encostado à vertente ocidental
da Serra da Estrela, que fica
situado o Concelho de Seia,
actualmente com 29 freguesias,
deve esta sua dimensão ao facto
de ter aglutinado 11 antigos
concelhos aquando das reformas
liberais, nos meados do século
passado.
Quando do seu 1º foral em 1136,
o Concelho de Seia albergava no
seu perímetro, não mais que meia
dúzia de pequenas povoações
circunvizinhas, porém em 1510,
data da outorga do Foral Novo
por D. Manuel I, já o Concelho
era composto pelos lugares de
Passarela, Lages, Folhadosa,
Pinhanços, Santa Comba, Sameice
e outros pequenos Casais.
Foi no séc. XIX que o Concelho
viria a conhecer um substancial
alargamento com a absorção de
importantes Concelhos tais como
Alvôco da Serra, Loriga, Vila
Verde, Santa Marinha , Sandomil,
São Romão, Valezim, Vide, Vila
Cova á Coelheira e Torroselo.
Nos inícios do século XX passou
então a ser constituído por
Cabeça, Carragosela, Girabolhos,
Lapa dos Dinheiros, Paranhos,
São Martinho, Santiago, Santa
Eulália, Sabugueiro, Sazes da
Beira, Tourais, Teixeira,
Travancinha e Várzea.
Estava então constituído um novo
quadro administrativo com 29
freguesias e cerca de 115
pequenas povoações.
Oppidum Sena, antiga cidade de
Sena, hoje Seia, foi fundada há
cerca de 2400 anos, pelos
Túrdulos. Durante muito tempo
foi dominada pelos Árabes, sendo
definitivamente conquistada por
D. Fernando Magno, em 1055,
mandando na altura edificar o
seu castelo. Em 1132 D. Afonso
Henriques fez doação de Seia ao
seu valido João Viegas por
reconhecimento de serviços
prestados e em 1136, Seia tem o
seu primeiro foral dado pelo
nosso primeiro rei, que a
designa por Civitatem Senam
(cidade de Seia).
Trancoso – (Concelho do Distrito
da Guarda)

D.
Dinis instituiu em Trancoso a
primeira feira franca, em 1304.
O
visitante fica admirado ao
percorrer as vielas de Trancoso,
ladeadas de portões biselados e
mísuras nas paredes, delas se
desprendendo muitas vezes vasos
com flores. Despertam a atenção
as casas com duas portas, uma
larga e um estreita, as chamadas
judiarias de Trancoso. São casas
que pertenceram à raça de David,
que povoou a vila, transmitindo
aos seus descendentes o carácter
comercial que lhe era típico.
Numa dessas casas da parte velha
de Trancoso terá nascido o
Bandarra, o sapateiro-profeta,
ainda hoje citado pelo nosso
povo com foros de autoridade. A
história de Trancoso anda
profundamente ligada à de
Portugal. Relativamente próxima
da fronteira, a vila assistiu a
muitas lutas e acontecimentos
marcantes da nossa História.
Ainda hoje a Batalha de São
Marcos, travada em 1355,
continua a ser comemorada em 25
de Abril.
A
muralha que circunda a vila tem
quatro portas: a d’El-Rei, a do
Carvalho, a do Prado e a de São
João. A porta do Carvalho,
encimada por um baixo-relevo que
representa um cavaleiro, é
também chamada de João Tição.
Diz-se que um dia João Tição,
cavaleiro desremido e aguerrido,
saiu para roubar uma bandeira no
acampamento inimigo que sitiava
o castelo, o que fez com êxito.
Ao regressar, encontrou todas as
portas fechadas. Tentou fazer
com que o cavalo saltasse a
muralha, mas, como o não
conseguisse, atirou com a
bandeira para dentro da muralha,
junto à porta que lhe herdou o
nome, e, de seguida, deixou-se
apanhar.
O
castelo tem cinco fortes
torreões e torre de menagem, do
alto da qual se abrange vasto
panorama.
Origem do nome:
«
J. Vilhena Barbosa em “As
Cidades e Villas da Monarchia
Portugueza, que têm Brasões
d’Armas – Lisboa 1862»: “O padre
Carvalho diz na sua Corografia,
que foi esta vila fundada por
Tarracon, rei da Etiópia e do
Egipto, quando aportou em
Espanha pelos anos 730 antes da
vinda de Cristo, chamando-lhe
Taracon, corrupto hoje em
Trancoso”
«Da
Grande Enciclopédia Portuguesa e
Brasileira»: “ Trancoso, ant.
Trancoso (do latim truncu = a
tronco), e, pois de significação
evidente, mostrando o absurdo,
se não a mais rematada sandice,
dos velhos sonhadores de
etimologias e de fundadores de
povoações (como estas surgissem
de um jacto), ao falar de um rei
etíope, de nome que, afinal, até
carece de semelhança, sensível
com Trancoso, tem uma origem
história insignificante – um
local em que, na ocasião da
denominação (muito antes do
século X, existiam muitos
troncos de árvores, abatidos, ou
mesmo floresta de árvores
vultuosamente entroncados (logo
Trancoso > locu* truncosu,
consoante a época da
denominação”.
Trancoso
http://www.trancoso.pt.vu
Trancoso encontra-se hoje
rodeada de muralhas, da época
dinisiana, com um belo castelo
também medieval, a coroar esse
majestoso conjunto fortificado.
Com os seus numerosos
monumentos, da arquitectura
civil e religiosa, constitui um
dos mais expressivos e belos
centros Históricos do país,
visitado anualmente por muitos
milhares de pessoas.
Destacam-se, entre todos, as
igrejas paroquiais de Santa
Maria e de S. Pedro, a Casa dos
Arcos, do séc. XVI, a Igreja da
Misericórdia, a Casa do Gato
Preto, um curioso edifício do
antigo bairro judaico e o
Pelourinho, bela peça do mais
puro estilo manuelino. Não
esquecendo a antiguidade
Trancoso mantêm traços medievais
no centro histórico quase
inalteráveis, sendo no exterior
um meio urbano já moderno e
planeado. Nesta Cidade nasceu
também o Profeta e Sapateiro
Gonçalo Annes Bandarra cujo
túmulo se encontra numa das
igrejas da cidade, travaram-se
importantes batalhas entre as
quais a Batalha de São Marcos
num planalto a escassos
quilómetros do centro histórico
em 1385 que impôs pesada derrota
às tropas invasoras e que foi
uma anímica importantíssima para
a Batalha de Aljubarrota. A
antiga Vila de Trancoso foi
elevada à categoria de Cidade na
Assembleia da República em
Dezembro de 2004 por
unanimidade, Trancoso é hoje um
pólo económico e social de
elevada importância na região e
que acompanhado pela sua
hospitalidade merece sem duvida
uma visita.
Vila Nova de Foz Côa – (Concelho
do Distrito da Guarda)

D.
Dinis outorgou-lhe foral em
1299, renovado em 1314. D.
Manuel l deu-lhe nova carta de
foral em 1514. Num planalto
aberto ao Sol, com terra quente
de xisto a fazer lembrar a
meseta, Vila Nova de Foz Côa,
desenvolveu-se com as colónias
de cristão-novos (judeus
presumivelmente tornados
cristãos), aqui fixadas durante
o século XVl e com as cordoarias
instaladas no tempo do Marquês
de Pombal.
Origem do nome:
«Da, Grande Enciclopédia
Portuguesa e Brasileira»:
“Quanto a Vila Nova de Foz Côa,
o topónimo contém duas partes,
uma de “Foz Côa”, algo
posterior, talvez à primeira, e
puramente distinta das muitas
Vilas Novas portuguesas até
porque a vila, ainda assim, está
bastante distanciada da foz do
Côa; e Vila Nova pode ter dois
significados: o antigo, anterior
ao século XlV (ou ao século Xlll),
de “villa” agrária ou o moderno
(posterior ao século Xlll) de
vila, sede municipal. A
interpretação depende, pois, da
antiguidade do topónimo, ou,
mais concretamente aqui, da
povoação actual vila. Tudo
indica, como se verá, que Vila
Nova de Foz Côa é uma povoação
“nacional”, relativamente
moderna, e que, em conformidade,
o topónimo não significa o
território agrário e apêndices,
coincidindo o de povoação
municipalizada, fortificada, ao
uso da época dionísia ( séculos
Xlll – XlV)”.
Foz
Coa
http://www.gov-civ-guarda.pt/distrito
Distrito - Concelho de Foz Côa
Informações Turísticas
O concelho de Vila Nova de Foz
Côa faz parte da antiga
província de Trás-os-Montes e
Alto-Douro e pertence ao
distrito da Guarda. Tem uma área
de 381 Km2 e cerca de 9000
habitantes. É banhado pelo Rio
Douro, ao Norte, e percorrido no
sentido sul-norte pelo rio Côa,
de cuja foz recebe o nome. A sua
certidão de idade é o foral que
o Rei D. Dinis lhe concedeu em
21 de Maio de 1299, renovado
pelo mesmo monarca em 24 de
Julho de 1314 e reformado pelo
Rei D. Manuel em 16 de Julho de
1514. Sendo inicialmente
município sobre si mesmo, veio a
beneficiar com a extinção de
alguns municípios vizinhos, a
partir de 1872, passando, desde
então, a ser constituído por 17
freguesias. A sede do concelho
foi elevada a cidade em 12 de
Julho de 1997, tendo categoria
de vila as localidades de
Almendra, Cedovim e Freixo de
Numão.
A sua economia tem por base a
agricultura, uma vez que a
actividade industrial se resume
à extracção de lousas, que se
utilizam no embardamento das
vinhas e na construção civil, e
a um pequeno número de empresas
dedicadas à metalo-mecânica.
Mercê do seu micro-clima
mediterrânico, nas suas terras
predominam a vinha, o olival e o
amendoal. Os vinhos são de
excelente qualidade e deles
sobressai o famoso "vinho fino"
ou "generoso" que depois recebe
o nome de "vinho do Porto". Dos
olivais pode dizer-se que deles
se obtém um dos mais apreciados
azeites portugueses. Os
amendoais, por sua vez,
implantados em toda a área do
concelho, para além da sua
importância económica, tingem de
branco e rosa as encostas destes
cenários durio-transmontanos nos
meses de Fevereiro e Março,
proporcionando um espectáculo
que atrai a estas paragens
milhares e milhares de turistas.
Pela área que ocupam e pela sua
densidade, Vila Nova de Foz Côa
reivindica o título de "Capital
da Amendoeira". Nela se
realizam, por isso, durante o
período da floração, animadas
"Quinzenas da Amendoeira em
Flor", que constituem um
empolgante cartaz.
Todo o concelho é um livro
aberto, patenteando os mais
diversos motivos de agrado.
Castelos, monumentos, castros,
"villae" romanas, igrejas,
capelas e solares, tudo isso se
inclui na lista dos seus
valores, com destaque para as
gravuras rupestres do
Paleolítico Superior, hoje
consideradas Património Cultural
da Humanidade. Outra riqueza
destas terras são as suas
paisagens, sempre diferentes e
admiráveis, que podem ser
apreciadas nos impressionantes
miradouros. As gravuras do Vale
do Côa e as paisagens do douro
Vinhateiro são, num só
território caso único, que nos
permite dizer com orgulho “FOZ
CÔA UM CONCELHO DOIS PATRIMÓNIOS
MUNDIAIS”.
Vila Nova de Foz Coa
http://www.cm-fozcoa.pt/php/concelho/freguesias
De
vestígios pré-históricos, apenas
a hipótese já colocada de um
qualquer povoado do calcolítico
ou Bronze no «Alto das Maias», a
carecer no entanto de pesquisa e
prospecção arqueológica. Tanto
quanto já foi possível estudar,
ao nível arqueológico, na área e
termo da freguesia de Cedovim
não temos dúvidas em indicar,
dentro da mesma, no lugar
denominado "Castelo", um povoado
da Idade do Ferro (Iº milénio
A.C.), povoado esse depois
dominado, no século 1 da nossa
era, pelo exército do Imperador
Romano Octávio César Augusto, ao
jeito do que aconteceu com a
quase totalidade dos povoados
castrejos espalhados pela
Península Ibérica. O «morro do
castelo» irá, pois, ser ocupado
pelos autóctones mas também por
gente vinda da península
Itálica. Uma provável «Vicus»
Romana, quem sabe se uma vetusta
e mui nobre «Cetavinis»!
Vestígios numerosos de tégula,
imbrex, dolium e pedra de
aparelho encontram-se em toda a
área da zona do Castelo.
Igualmente do período de
ocupação Romana, no termo de
Cedovim, temos já identificados
mais alguns lugares:
- Lugar da Froia, muito perto da
freguesia da Fontelonga
(concelho da Meda), mas ainda
dentro do termo de Cedovim.
Teria sido, no seu início, uma
Villa (quinta) Romana, podendo
depois ter evoluído, graças a um
aumento populacional, para uma «Vicus».
Na Idade Média e mesmo em
períodos posteriores continua a
ser identificada, associada à
Capela de S. Bartolomeu. Poderá
isto significar a introdução, no
denominado paleo-cristão, de um
templo a que se vai associar uma
povoação (aldeia) hoje
totalmente desaparecida.
- O lugar da Calábria, onde não
detectámos, a priori, a presença
de ocupação romana mas, apenas,
medieval e moderna. A eira e o
lagar ali existentes apresentam
características medievas.
- O lugar de Santa Marinha, não
bem junto à Capela mas um pouco
mais acima, num plateau de meia
encosta, com vestígios do que
teria sido uma «Villa» Romana.
- O lugar da Portela ou Sumagral,
onde são bem visíveis marcas do
que teria sido uma «Villa»
Romana. Vestígios de um «lagar
de vinho» resistiram à erosão
dos tempos.
- 0 lugar do Cáparo ou Pinheiro
Manso, em terreno onde se
encontra um pombal, existem
vestígios de materiais Romanos,
essencialmente fragmentos de
tégula. Pensamos estar perante
vestígios de um simples Casal.
Após a queda do Império Romano e
até ao início da Nacionalidade,
um grande silêncio (porque
enormes lacunas documentais),
que, como na maioria das terras
e lugares da Beira Douro,
continuará envolto em enigmas
que dificilmente virão a ser
resolvidos ou entendidos.
Cedovim, no século XII, tinha já
o termo idêntico ao que terá
hoje. O próprio foral de Numão
(1130) dá isso a entender, uma
vez que respeita esses limites.
D. Afonso III levado muito
provavelmente pelo grau de
desenvolvimento que já na altura
evidenciava, deu-lhe carta de
foral, em 5 de Fevereiro de
1271, sendo por isso a segunda
povoação da margem esquerda do
Côa a receber tal diploma.
Ao nível administrativo e
judicial sabemos que Cedovim, em
1246, possuía alcaide, juizes e
andador, atestando já um estádio
de organização bastante
evoluído. Em 1291, dispunha de
tabelião próprio que pagava de
pensão a el-rei 3 libras à
semelhança do que acontecia, na
mesma data, com os de Numão,
Ranhados e Penedono. Cedovim, em
1 de Fevereiro de 1371, foi
doada a favor de D. Fernando
Afonso de Zamora e seus
sucessores, o que incluía os
termos, entradas e saídas,
jurisdições altas e baixas, com
reserva apenas das apelações do
crime e da correição. Esta
doação não impediu D. João I de,
em 1385, entregar Cedovim a
Gonçalo Vasques Coutinho com a
inclusão dos respectivos termos
e jurisdições, apesar de
quaisquer leis ou costumes em
contrário.
Cedovim permanecerá ao longo de
toda a Idade Média como concelho
autónomo, recebendo para isso
várias confirmações de
privilégios, designadamente de
D. Fernando, D. Duarte e D.
Afonso V. Em 15 de Dezembro de
1512, D. Manuel I concede-lhe
foral novo. Outro testemunho
quinhentista da sua autonomia
municipal é o pelourinho, onde é
indicado o ano de 1574, como
sendo o ano da sua construção.
Esta vila da coroa possuía termo
próprio, incluindo a Quinta de
Vale de Espinho. A câmara era
servida por juiz, vereadores,
procuradores do concelho e
almotacés. Em 1610 estava
sujeita à correição de Pinhel.
O concelho cedovinense nunca
dependeu do município de Numão,
nem de qualquer outro concelho,
permanecendo autónomo até ao
século XIX, época em que
transita para o de Freixo de
Numão. Cedovim, se a nível
administrativo não acusa
dependências, o mesmo não se
poderá dizer a nível militar,
uma vez que apenas possuía
capitão de ordenanças, estando
por isso agregada, inicialmente,
ao capitão-mor de Ranhados e
posteriormente ao de Freixo de
Numão.
Cedovim viu restaurada a sua
antiga categoria de Vila pela
Lei nº 71/99, de 30 de Junho (no
Diário da República, I série -
A, nº 150, de 30-6-1999).
Mais pormenores sobre a história
desta Vila e dos seus
pergaminhos poderemos
encontrá-los nas recentes
publicações: «Evolução
Político-Administrativa na Área
do Concelho de Vila Nova de Foz
Côa», dos Drs. António Sá Coixão
e António Trabulo e «CEDOVIM -
Memória da Terra e das Gentes»,
de Francisco Fego.
(Adaptado da obra "Por Terras do
concelho de Foz Côa - Susídios
para a sua História - Estudo e
Inventário do seu Património",
de A.N. Sá Coixão e António A.
R. Trabulo, editado pela Câmara
Municipal de Vila Nova de Foz
Côa, 2ª edição - 1999).
Trabalho e pesquisa de
Carlos Leite Ribeiro –
Marinha Grande -
Portugal
|
|

Envie
esta Página aos Amigos:



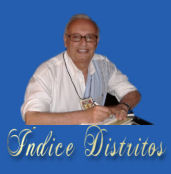


Por favor, assine o Livro de Visitas:

Todos os direitos reservados a
Carlos Leite Ribeiro
Página criado por Iara Melo
http://www.iaramelo.com
|