|
Distrito de Beja
Concelhos deste
Distrito:
Aljustrel,
Almodôvar, Alvito,
Barrancos,
Beja (concelho de),
Castro Verde, Cuba,
Ferreira do
Alentejo, Mértola, Moura, Odemira,
Ourique, Serpa,
Vidigueira.
Distrito de Beja,
pertencente à
província
tradicional do Baixo
Alentejo. Limita a
norte com o Distrito
de Évora, a leste
com a Espanha, a sul
com o Distrito de
Faro e a oeste com o
Distrito de Setúbal
e com o oceano
Atlântico. Área: 10
225 km² (o maior
distrito português)
Capital de Distrito
e também Concelho: a
cidade de Beja.
Nota do ano de
1900 (Jornal do
Comércio): “O
distrito de Beja
situa-se na antiga
província do
Alentejo, sua
capital é Beja; tem
uma superfície de
10.255 Km2 e uma
população de 164.754
habitantes.
Compreende 14
concelhos e 93
freguesias. Os
concelhos são:
Aljustrel,
Almodôvar, Alvito,
Barrancos, Beja,
Castro Verde, Cuba,
Ferreira do
Alentejo, Mértola,
Moura, Odemira,
Ourique, Serpa e
Vidigueira. É regado
pelos rios Guadiana,
Sado, Mira. Grandes
florestas de sobro e
azinho. Minas de
chumbo, manganés,
ferro e algumas de
cobre, entre as
quais as de São
Domingos, São João
do Deserto e Algares”.
BEJA - (Capital e
Concelho)

Qual fosse o nome
desta povoação céltica
ignora-se em absoluto,
não tendo o menor
fundamento a suposições
de cenáculo, de que ela
se tivesse chamado “Gês”.
A pequena eminência
onde, à roda dos meados
do 1º século da nossa
era, Júlio César fundou
a “Colónia Pax Julia”,
estacava, porém, no meio
de uma zona rica em
jazigos de cobre, sendo
lógico, portanto, que
oferecendo o lugar
condições naturais tão
favoráveis à fixação de
um agregado humano, de
longa data assentasse
nele um dos principais
aglomerados da Idade do
Bronze, período muito
documentado no termo de
Beja. Podemos, mesmo,
ter por conta a
existência de um tal
povoado. Segundo Reid, a
vida urbana nas
províncias romanas do
ocidente europeu, não
era criação
artificial dos
imperadores. O envio de
uma colónia, ou a
concessão dos direitos
de colónias romanas ou
latinas, ou dos de
municípios romanos, não
podiam só por si criar
vida urbana; pelo
contrário, pressupunham
a vida urbana, antes que
a colónia fosse enviada,
ou que fossem concedidos
os direitos de
cidadania.
De tão recuadas épocas
nada ficou, porém, senão
vários objectos,
relativamente raros,
guardados nos museus, e
as por vezes extensas
necrópoles de cristas
trapezoidais que de ano
para ano se vão
destroçando. Alguma
coisa de mais monumental
nos dos quatro séculos e
meio da ocupação romana.
Os conquistadores
lançaram os muros da
cividade sobre a parte
cimeira do outeiro,
abrangendo-o quase todo,
menos pelo lado Nascente
onde se encontra um
íngreme ladeira, na qual
a couraça defensiva
passa a meia encosta.
Dentro do vasto recinto
fortificado, traçaram
ruas e praças, ergueram
vultuosos templo e
outros edifícios
públicos, cujos
alicerces vêm referidos
em notícias de séculos
passados, e ainda hoje é
frequente notarem-se por
ocasião de escavações
suficientemente
profundas, na área
central da cidade.
A Lusitânia coube aos
Alanos, e a Bética, logo
a seguir ao rio
Guadiana, aos Vândalos
silingos. De 409 a 429,
Beja fica na área
dominada pelos Alanos.
Com o aniquilamento
destes, pelos Visigodos
comandados por Valia, o
Sul da Lusitânia é
disputado pelos Suevos,
que desde a Galiza
senhorearam todo o
território até aos
limites setentrionais do
actual Algarve.
Réquila, rei suevo,
cerca em Mértola, no ano
de 439, o conde
Censório, embaixador
romano, que se lhe rende
sem luta. Em 441 o mesmo
rei submetia toda a
Bética e a Cartaginense.
Antes, no ano de 419, os
Vândalos haviam retirado
da Galiza, descendo
sobre a Bética, onde
derrotaram, em 421, o
general romano, Castino.
Em 429 os Vândalos
passam ao norte de
África.
À data da morte de
Reliquiário, o corrida
no Porto, no ano de 457,
já a comarca de Pax
Julia teria voltado
`administração romana,
porquanto próximo desta
cidade, foi colocado um
marco milenário
honorífico, em que
aparece o nome de
Valentiniano, imperador
assassinado em 456.
A precária administração
romana, de resto apenas
nominal, desaparece
finalmente, em 572, de
todo e para sempre, pela
unificação do reino
hispano – visigótico por
Leuvegildo.
Particularmente sobre
Pax Julia, nada sabemos.
Sómente que os Visigodos
a instituíram sede de
bispado sufragâneo da
diocese de Mérida,
porquanto há notícia dos
prelados pacenses que
intervieram em vários
concílios: a iminente
figura de Santo Apríngio,
autor de um notável
comentário do “Apocalipsis”,
obra que Santo Isidoro
de Sevilha qualificou de
subtil e eloquente
(Faleceu em 530);
Palmácio (589) , Lauro,
Modário, Adeodato e João
– e outros mais houve,
certamente, até à data
em que, pela chegada do
invasor islâmico, a sede
episcopal mudou para
Badajoz.
Sabido é que, tal como
na Península em geral, a
cidade visigótica foi a
continuação da cidade
romana, com o
aproveitamento, em
regra, dos sólidos
edifícios anteriores,
umas adaptados, outras
simplesmente
consertados, ou mesmo
reconstruídos. A
destruição deliberada,
com fundamento no ódio
político – religioso, só
por excepção se terá
verificado. Apesar de
extraordinária robustez
dessas construções, não
lhes seriam inofensivas
as consequências das
guerras, somadas às dos
temporais, dos
terramotos, dos
incêndios ocasionais,
dos abandonos mais ou
menos longos, da
progressiva desagregação
de tudo o que envelhece,
devendo-se ainda
acrescentar a
inadequação a usos novos
e novos gostos.
Podemos Ter por certo
que a sé visigótica se
situava no local em tem
hoje está a Igreja de
Santa Maria, em vista
dos numerosos troços de
pedra lavrada e de uma
lápisa achados no
edifício actual e à sua
volta, que já
confirmativos da época.
O templo arrabaldino que
foi a primeira paroquial
paroquial da freguesia
de São Tiago,
extra-muros, ter sido
erguido nos princípios
do século XlV, por Joane
Meendes, sobre alicerces
de traça basilical, que
remontarão, talvez aos
primeiros tempos do
domínio visigótico
nestes sítios, e em cuja
reconstrução se
empregaram troços de
colunas romanas e
capiteis visigóticos;
esse templo que, para a
época, não se pode
considerar nada modesto
em relação aos edifícios
religiosos do Sul de
Portugal, devia ter sido
o santuário cristão de
Beja, na época do
domínio árabe.
A decadência da cidade
teria ocorrido entre os
séculos V ao Vlll, em
face das provas
arqueológicas, o que,
está de acordo com o
acontecido no resto da
Península. Diminuição do
comércio exportador,
redução as exploração
agrícola e pecuária,
decréscimo de população,
baixa de categoria na
hierarquia
administrativa – eis o
resultado do lento mas
decisivo desmoronar do
Império Romano e das
lutas entre a ortodoxia
e a heterodoxia cristãs.
ALGUNS FACTOS HISTÓRICOS
Em 27 de Abril de 711,
Tárique transpõe o
estreito de Gibraltar.
De entre 19 a 26 de
Julho desse ano trava-se
uma desesperada batalha
de oito dias junto ao
“Lago de la Janda”
também conhecida pela
Batalha de Guadalete, na
qual foram aniquilados
os exércitos do rei
visigodo Rodrigo . Por
este facto começa na
Península Ibérica o
começo de novas
transformações, desta
vez mais radicais, não
obstante o longo período
inicial de tolerância
com que os novos
senhores (mouros)
favoreceram os vencidos.
Beja foi apossada pelos
árabes no ano de 715.
Três anos depois de
entrada do general Musa,
Beja estava entregue,
como feudo, aos árabes
provenientes do Egipto.
Antes, porém, os romano
–visigodos de Beja
haviam juntado aos da
Niebla e aos que de
Sevilha tinham fugido,
numa tentativa de
libertação rapidamente
sufocada por Abdu Azzis,
filho de Musa. Este
sangrento episódio era o
primeiro da série que
cobriria os agitados
quatro séculos vividos
por Beja, desde a sua
queda, a que só pôs
termo a reconquista
definitiva pelos
cristãos.
Por um lado, os ataques
dos reinos neo –
góticos: Afonso 1, de
Leão e Astúrias, em 750
; de Froila l , de
Oviedo, em 758; de
Ordonho ll, em 910 ou
914 ; de Fernando “o
Magno”, em 1037. Por
outro, as dissenções
internas dos mouros, em
que sobressaem a
rebelião do chefe árabe
el-Ala ibn Mughith,
contra o emir de
Córdova, em 763 ; outra
contra contra Al-Haken,
em 808 ; o ataque do
chefe berbere, Mahomed
ibn Abd al-Djabbar e
consequente derrota dos
habitantes de Beja, que
pretenderam fazer-lhe
frente, em 834 ; o cerco
de Beja e rendição de
Abd al Rahman ibn Said
ibn Malik, por Abd
al-rahman lll, em 929; e
as guerras entre
Almondar e Mohâmede
Sid-Ray, senhor de
Badajoz, e entre este e
Ibn – Kasi, senhor de
Mértola, em 1144.
Crónicas árabes falam
ainda de um ataque de
piratas normandos, que
subiram o rio Guadiana,
em 844.
As notícias respeitantes
a Beja, enquanto esta
permaneceu na posse dos
árabes, são igualmente
escassas e precárias.
Não passam de vagas
informações enquadradas
nas descrições gerais.
Assim, o árabe natural
da Península, conhecido
por “Mouro Rasis”,
escrevendo no reinado de
Al-Haken ll, conta Beja
entre as 41 regiões
submetidas ao califado
de Córdova; os
historiadores Ibn-Hawkel
e Al-Makdisi, apontam-na
entre as 18 regiões ou
“kuras” da Andaluzia.
Outros geógrafos árabes,
da época do califado de
Córdova, incluem nas
principais estradas
peninsulares (vias
romanas) a de Córdova a
Beja, por Cória e
Mérida; outro deixou
escrito que o linho era
cultivado em grande
quantidade, para
exportação, em Arun , no
distrito de Beja; e
ainda outro se referiu à
exploração da prata em
Totalica, do mesmo
distrito, sítio que
ainda não se pode
identificar.
Quase no fim do domínio
mouro nesta parte do
actual território
português, o já citado
Ibn-Kasi, sherife de
Silves e Mértola, emite
moeda própria, feita
nesta última localidade.
Outras coisas se contam
a respeito dos mouros
nesta cidade, mas não
estão bem fundamentadas.
De positivo, pode-se
dizer que o declínio da
cidade mais se
acentuara, desde o fim
da época visigótica.
Alcácer do Sal, Mértola,
Silves, Faro, Tavira e
outras terras, outrora
muito inferiores a Beja,
foram ricas e gozaram de
maior preeminência.
D. Dinis fez longas em
Beja. Tinha a sua
alcáçova no castelo.
Perto daqui se salva
milagrosamente de um
acidente se caça. Por
carta de12 de Coimbra de
1314 – ou 1276 da nossa
era (*), doava as duas
torres situadas sobre a
porta da sua “alcáçova
velha” a Guedelha, filho
do arrabi mor, que lhe
tinha salvado a vida
numa luta contra um
javali.
(*) Dizemos da “Nossa
Era”, pois bem, D. João
1 determinou que a “Era
de César” que pela qual
na Península Ibérica se
contavam os anos, fosse
substituída pela “Era de
Cristo”. Ao ano de 1460
da “Era de César”, em
que tal medida foi
outorgada, correspondia
o ano de 1422 da “Era
Cristã”, ou seja, 38
anos mais moderna do que
aquela.
Este facto tem causados
inúmeros problemas a
muitos escritores e
historiadores para a
determinação de datas.”
Isabel de Aragão, mulher
de D. Dinis, chamada
também de “Rainha Santa
Isabel”, fundou o
Convento de São
Francisco , extra -
muros e próximo das
“Portas de Mértola”.
D. João lV, em 1340
auxilia a fundação das
monjas de Santa Clara, a
curta distância das
“Portas de Évora”. D.
Dinis manda edificar no
de São Francisco a
capela de São Luís,
bispo de Todosa, em
acção de graças por se
ter salvo dos dentes de
um javali, no matagal de
São Pedro de Pomares.
Joane Meendes, da casa
de D. Dinis, fizera-se
sepultar em Santo Amaro
num túmulo com a data de
12 de Junho de 1367 Da
era de “César” ou 1329
da era de “Cristo”. É
nesse ano que aparece
amais antiga referência
`freguesia de São Tiago
Maior, de que esse
templo era sede. Das
três restantes há
indicações um pouco mais
anteriores, mas sempre
no reinado de D. Dinis:
de 1282 de Santa Maria
da Feira; Salvador em
1306 e de São João
Baptista de 1320.
Beja foi várias vezes
ocupada e perdida
durante as lutas da
Reconquista, daí
resultado que a cidade
se apresentava quase
destruída no reinado de
D. Sancho ll.
Foi D. Afonso 11 quem a
mandou reconstruir e lhe
deu foral em 1292 da era
de “César” e 1254 da era
de “Cristo”. No Salão
Nobre da Câmara
Municipal, um tríptico
do pintor Severo Portela
recorda esse acto
solene.
D. Dinis mandou
reconstruir as defesas
de Beja e dotou o seu
castelo com a mais
airosa torre de menagem
portuguesa. D. Fernando,
irmão de D. Afonso V,
e pai de D. Manuel e de
D. Leonor Teles, foi o
primeiro Duque de Beja;
Actualmente, o Largo dos
Duques de Beja recorda o
local, confinante com o
Convento da Conceição,
onde outrora se ergueu o
Paço Ducal, que não
resta o menor vestígios.
Junto do convento, em
terreno sobranceiro ao
Largo dos Duques,
encontra-se a estátua da
rainha D. Leonor, mulher
de d: João ll e
fundadora das
Misericórdias.
Foi no Convento da
Conceição (***) que, há
três séculos, viveu
Mariana Alcoforado(**),
a quem são atribuídas as
famosas “Cartas
Portuguesas”.
(**) – Mariana
Alcoforado, nasceu a 22
de Abril de 1640,
falecendo a 8 de Julho
de 1723.
Entrou para o Convento
da Conceição a 2 de
Janeiro de 1651, como
candidata ao noviciado.
Durante a sua longa de
professa, exerceu, por
muitos anos, os cargos
de vice – abadessa e
escrivã da comunidade.
Esta religiosa
portuguesa é a provável
autora de “Cartas de
Amor” publicadas pela
primeira vez em França,
em 1669 (Lettres
Portugaises), para onde
teriam sido levadas pelo
oficial francês Chamilly,
por quem ela se teria
apaixonado.
O poder comovente desta
obra que nos remete para
o desvario de um amor
total e envolvente a
balançar entre o despero
e a ilusão pueril é,
talvez, uma das mais
decisivas contribuições
portuguesas para a
sensibilidade europeia.
CONVENTO DA CONCEIÇÃO:
Construído no século XV,
encontra-se actualmente
muito mutilado, pois da
primitiva traça apenas
existem o claustro, a
igreja e a sala do
capítulo. Os grandes
cortes que sofreu
acarretaram substanciais
modificações e
adaptações. O claustro,
de grande simplicidade,
tem paredes revestidas
de azulejos verdes e
brancos, de reflexos
metálicos,
quinhentistas. A porta
principal da igreja, de
perfeito traçado gótico,
insere-se na fachada
lateral. O interior, de
uma só nave, é revestido
de talha barroca que
engloba o altar – mor e
os altares laterais, com
excepção de um,
revestido de pedra
embutida no estilo
florentino. A parte
inferior das paredes é
inteiramente ornada por
painéis de azulejos
setecentistas com passos
da vida de São João
Baptista. A escada que
dá acesso ao coro é
coberta por uma abóbada
ogival. A sala do
capítulo comunica com o
claustro por um portal
delicadamente esculpido.
De forma quadrangular e
com uma coluna ao
centro, é inteiramente
revestida de painéis de
azulejos hispano –
árabes.
Tendo nos últimos anos
sentido um progresso que
a despertou do letargo
em que se mantinha, Beja
possui hoje as infra –
estruturas necessárias
ao bem – estar da
população, tais como
novos bairros
habitacionais, recintos
desportivos com piscina,
restaurantes e
instalações hoteleiras,
praças e jardins
aprazíveis. A cidade
conserva, além disso, um
património monumental
rico, entre o qual se
destacam: o castelo e a
sua bela torre de
menagem, Mosteiro da
Conceição e Museu
Regional, Capela de São
Luís (gótica), no
Convento de São
Francisco, Igreja de
Santo Amaro
(visigótica), arco
romano das Portas de
Avis, ruínas romanas de
Pisões (a 10 Km) e
Ermida de Santo André,
em estilo gótico
alentejano,
contemporânea da
conquista de Beja aos
Mouros.
Como homenagem dos
portugueses residentes
em São Paulo (Brasil)
e da cidade de Beja a um
dos seus filhos mais
ilustres, ergue-se numa
praça com o seu nome, ao
fim da avenida do
Brasil, a imponente
estátua do maior
bandeirante em terras
brasileiras : António
Raposo Tavares (****,
nascido nesta cidade em
1600 .
(****) António Raposo
Tavares, sertanista
português, fui para o
Brasil com o pai, Fernão
Vieira Tavares,
capitão-mor governador
da capitania de São
Vicente (1622).
Dedicou-se logo à
preação de indígenas
para o trabalho escravo.
Organizou os ataques que
destruíram as reduções
jesuítas espanholas do
Guairá, Tape e Itatim. É
tido como o responsável
pela fixação das actuais
fronteiras dos Estados
do Paraná, Santa
Catarina e Rio Grande do
Sul.
História da Cidade de
Beja
A cidade de Beja
implanta-se num morro
com 277m de altitude,
dominando a vasta
planície envolvente. O
campo surge, assim, como
uma fronteira natural
entre a vida urbana e a
vida rural. Esta
realidade marca a vida
deste povoado desde a
sua fundação, algures na
Idade do Ferro. Prova
cabal desse momento é o
troço de muralha
proto-histórica
descoberta no decurso
das escavações da Rua do
Sembrano. Achado da
maior importância,
dissiparia todas as
dúvidas sobre a
pré-existência de um
povoado anterior à
ocupação romana;
contudo, continuamos sem
saber que povo aqui
estaria nem tampouco
possuímos qualquer
informação sobre a forma
como se organizava o
espaço pré-urbano.
A cidade de Pax Julia
terá sido fundada ou por
Júlio César ou por
Augusto. Foi capital do
conventus Pacensis e
administrou
juridicamente uma das
regiões que constituíam
a província da Lusitânia
(as outras duas capitais
eram Santarém e Mérida).
Foi também uma Civitas,
ou seja, cidade
responsável pela
administração de uma
região (tratava-se de
áreas mais ou menos
equivalentes aos nossos
distritos) e Colonia.
Sem dúvida estamos na
presença de uma cidade
elementar no
funcionamento da grande
máquina administrativa
que foi a regionalização
romana.
Tratando-se de uma
cidade com o estatuto já
mencionado, estava
equipada com um conjunto
de edifícios muito
importantes. O espaço
por excelência onde se
tratava a administração
jurídica provincial era
o Fórum, do qual também
fazia parte o templo
dedicado ao culto
imperial. No caso de
Beja, o Fórum
localizava-se junto à
actual Praça da
República, como
testemunharam as
escavações realizadas
por Abel Viana quando se
construiu o actual
depósito de água (na
altura foi identificada
uma enorme estrutura que
se interpretou como
parte das fundações do
templo imperial). A
importância dos diversos
achados que se têm
verificado em vários
sítios da cidade
confirmam-nos a
existência de outros
edifícios, tais como o
teatro, anfiteatro, o
circo, as termas, etc.,
embora a localização
para estes espaços
continue na esfera das
hipóteses. Certamente
que a cidade romana
sofreu alterações ao
longo do tempo, os seus
principais espaços
adaptar-se-iam às novas
regras e modas que
sopravam de outros
pontos do império.
A mudança de poder não
lhe retirou importância.
Durante o período de
domínio visigodo
manter-se-ia como uma
das principais cidades
do Ocidente, ainda era
um centro administrativo
regional e cabeça de
bispado. Desta fase,
ficou-nos a pequena, mas
importante, Igreja de
Santo Amaro, onde está
instalado o Núcleo
Visigótico do Museu
Regional, cuja colecção
é constituída por peças
provenientes da cidade e
do campo. O povo
germânico terá
contribuído para a
conservação e manutenção
dos espaços públicos e
privados.
A cidade é referida
pelos autores árabes,
não só pela sua
importância mas também
pelos belos edifícios
que possuía, assim como
pelas vias grandes e bem
conservadas que a ela
levavam. No entanto é a
partir deste momento que
a configuração da cidade
sofrerá as mais
profundas alterações: a
sua forma ortogonal
vai-se alterando e
ganhando uma forma
radial. Infelizmente da
cidade muçulmana pouco
sabemos: os vestígios
são mínimos,
encontrando-se, desta
época, apenas uma ou
outra inscrição
funerária e alguns
artefactos. A cidade
entra em declínio
sensivelmente a partir
do século XI: não é mais
o centro administrativo
e religioso, perdendo
prestígio a favor de
cidades que ganhavam
cada vez maior
importância, como era o
caso de Évora.
O processo da
Reconquista fez-se
sentir de forma muito
violenta. As muralhas
foram completamente
destruídas, a cidade
quase deixara de
existir. O Foral de D.
Afonso III é muito
claro: havia que
repovoar a cidade e
reconstruir as suas
muralhas; a cidade
ficaria dotada com um
novo sistema defensivo,
constituído pelo castelo
com torre de menagem e
novo pano de muralhas.
Com a fundação do Ducado
de Beja projecta-se uma
nova fase. Os primeiros
Duques de Beja, Infantes
de Portugal, vêm residir
para a cidade
alentejana, onde fundam
o Convento de Nossa
Senhora da Conceição.
Junto a este edifício
surge o Palácio dos
Duques de Beja (Palácio
dos Infantes), que terá
sido um bom exemplo da
arquitectura mudéjar.
Como reflexo deste novo
impulso, à sua volta
iriam surgir novos
conventos e palácios que
marcariam a diferença
entre a Beja velha e
destruída e um novo
espaço que surgia. O
momento áureo deu-se,
sem dúvida, com a
ascensão de D. Manuel I
a rei. Tratando-se do
segundo Duque de Beja,
desenvolveu um forte
processo de nobilitação
desta cidade. Assiste-se
à reabertura de um novo
espaço, a Praça D.
Manuel I, para onde se
deslocam os Paços do
Concelho, que haviam
funcionado junto à
Igreja de Santa Maria e
promove-se também a
construção do primeiro
Convento-Hospital de
Nossa Senhora da Piedade
ou da Misericórdia no
lugar da antiga Gafaria.
Este trabalho de
recuperação teria
continuidade com o
Infante D. Luís III,
Duque de Beja, que foi o
patrono da construção da
Igreja da Misericórdia,
cuja loggia constitui um
dos expoentes máximos da
arquitectura do
Renascimento em
Portugal.
Podemos afirmar que a
cidade respirava um novo
ar com a promoção a que
assistia. A classe
dirigente local não
acompanhou, contudo,
este processo
progressista. Beja
voltaria a
desenvolver-se muito
lentamente, esquecida na
planície alentejana. As
obras que marcam a
cidade são pontuais,
vivendo-se momentos
pequenos de falsas
esperanças ao
desenvolvimento que
nunca chega.
O segundo processo
destrutivo a que
assistimos dá-se
precisamente nos finais
do século XIX
continuando pelo séc. XX.
Sob a batuta do Visconde
da Ribeira Brava,
imbuído de um espírito
vanguardista, decide-se
"modernizar" a cidade,
despojando-a dos
edifícios velhos numa
tentativa clara de criar
novas ruas abertas e
largas. O resultado foi
que a cidade perdeu
metade dos seus
emblemáticos edifícios,
como por exemplo, no
Largo dos Duques de
Beja, o Palácio dos
Infantes. Na sua
continuidade encontra-se
o Convento de Nossa
Senhora da Conceição,
que ficou reduzido a
menos de metade,
salvando-se a Igreja o
Claustro menor e a sala
do Capítulo. Com ligação
a este Convento
encontrava-se outro, o
Hospital Convento de
Santo Antonino e nas
suas proximidades a
Igreja de São João. Todo
este conjunto foi
simplesmente arrasado.
Mas a vontade de
progresso far-se-ia
sentir ainda noutros
espaços, já que outros
conventos tiveram o
mesmo fim, destruindo-se
a memória dos tempos
clericais.
A cidade foi assim
"varrida" de boa parte
dos seus equipamentos
existentes. Quem visita
e percorre as suas ruas
sente a ausência de
algo, sem compreender
muito bem o quê. Apenas
uma pequena parte dos
novos espaços abertos
foi reocupada. O espaço
urbano entra no séc. XX
completamente alterado,
atravessando um processo
de construção/desconstrução
o qual se mantém mais ou
menos calmo até ao
momento do Estado Novo.
Com a afirmação deste
regime, a cidade
sofreria novas
intervenções dentro do
Centro Histórico. A
primeira terá sido o
processo de reconstrução
do Castelo e das suas
muralhas. Sob a direcção
da DGEMN toda a zona
envolvente às muralhas
do Castelo seria
desafogada do casario
humilde que desde os
tempos de paz ali se
instalou. A muralha
ficaria totalmente à
vista, assim como o Arco
Romano das Portas de
Évora, imagem que
parcialmente se
concretizou.
A segunda grande
intervenção dá-se na
década de 40 na Praça da
República, dotando-a da
configuração actual. Com
a austeridade natural do
regime, esta alteração
imprimiria ao Largo um
sentido de nacionalismo
e concentração de poder,
recolocando o Pelourinho
na Praça. Uma das
intervenções mais
importantes terá sido,
também, a destruição da
Cadeia Filipina e a
rápida construção, no
seu lugar, do novo
edifício das Finanças.
Este espaço, apesar de
discreto, destoa num
conjunto que era até
aqui homogéneo,
verificando-se uma
interrupção
desnecessária na
continuidade da história
deste espaço. A
infelicidade de um
incêndio nos antigos
Paços do Concelho em
1947 levaria á
necessidade de
reconstrução de um novo
edifício no mesmo
espaço, projecto de um
dos mais importantes
arquitectos do Estado
Novo, Rodrigues de Lima.
Mais uma vez a Praça da
República sofre nova
intervenção. A
consolidação do poder
estava completada.
Entre as décadas de 30 e
40 vão surgindo novos
equipamentos que vão
colmatando os enormes
espaços vazios
libertados no início do
séc. XX. O velho Teatro
sofre obras de fundo,
sendo totalmente
alterado e adaptado a
Cinema, com
possibilidade de
representações teatrais.
Na zona onde existiu o
Convento de Nossa
Senhora da Esperança
constroem-se o Banco de
Portugal, de gosto
neo-joanino, o Tribunal,
o Governo Civil e por
fim a Nova Caixa Geral
de Depósitos, com um
volume mais sóbrio e
portanto mais moderno.
A arquitectura moderna
vem pois ocupar, algo
timidamente, alguns dos
espaços libertados
dentro do Centro
Histórico, patenteando
todavia, as dificuldades
e vícios de um Estado
autoritário e pouco
esclarecido que não
entendia as questões que
com a revolução de 1974
se tornaram inadiáveis
no Centro Histórico da
cidade de Beja.
Aljustrel -
(Concelho do Distrito de
Beja)

Povoação
antiquíssima, cujas
raízes se devem
procurar em época
anterior ao domínio
romano. Aljustrel
teve uma importância
enorme desde que a
sua riqueza mineira
foi conhecida e
aproveitada. As suas
pirites foram
exploradas entre o
século l a.C. e o
século lll d. C,
pelos romanos que
deram à povoação o
nome Vipasca. A
exploração romana
destas minas, quer
em profundidade,
quer à superfície,
está perfeitamente
documentada pelo
objectos e
utensílios
encontrados nos
poços e galerias e,
pela existência de
uma vasta e rica
necrópole que tem
fornecido preciosas
indicações e um rico
espólio. O museu da
mina de pirites
alentejanas, valioso
pelas peças da época
romana de Vipasca
que contém, merece
uma visita. As
tábuas, de bronze,
com a lei romana,
que hoje se acham
depositadas em
museus bem longe de
Aljustrel, são raro
e precioso documento
aqui encontrado. As
Tábuas de Aljustrel
estabelecem
meticulosamente os
direitos e deveres
de quantos exerciam
a sua actividade na
circunscrição
metalífera (Viço
Metalli Vipascensis).
Encontram-se
actualmente no Museu
de Arqueologia e
Etnografia, em
Lisboa. No concelho
de Aljustrel, muitos
outros vestígios da
ocupação romana, bem
com de épocas
anteriores, atestam
uma ocupação humana
permanente desde os
tempos mais remotos.
Aljustrel entra
definitivamente no
Reino de Portugal,
quando conquistada
aos mouros por D.
Sancho ll.
Opiniões sobre a
origem do nome:
«Arquivo
Histórico de
Portugal (1890):
“Tudo é obscuro e
sombrio; o seu
passado perde-se na
noite dos tempos,
tudo quanto pode
servir-se de
indicação nesse
sentido confirma a
versão duma remota
idade, mas não há
documento algum por
onde se possa
reconstruir esse
passado.
O nome é muito
notoriamente de
origem árabe,
conforme designa o
radical «Al-justrel»;
entretanto, o
restante termo não
tem significação
nenhuma – do que se
pode presumir que ou
esse termo era o
nome antigo a que os
árabes adicionaram o
referido radical,
era o nome antigo a
que os árabes
adicionaram o
referido radical, ou
o nome mourisco era
outro e a corrupção
o reduziu ao que
hoje possui”.
«Xavier Fernandes
em Topónimos e
Gentílicos - 1944»:
“Como vila e sede de
concelho, pertence
ao distrito de Beja.
O padre Luís
Cardoso, no seu
Dicionário e Notas
de Vilas e Aldeias,
diz que o nome
deriva do latim
Aljustreleum, o que
registamos com
muitas dúvidas. Por
mais de um motivo
nos parece que, se o
topónimo não é
árabe, pelo menos
sofreu influência
árabe”.
«José Pedro
Machado, em
Influência Arábica
no Vocabulário
Português – 1958»: “
Não sei explicar com
precisão, pelo menos
a influência
arábica. Não me
parece, porém, que
se trate de palavra
oriunda de outra
pertencente ao
idioma que falou
Mafona.
Compreende-se o
motivo desta
hipótese: a presença
do elemento “el”,
característico de
topónimos
meridionais de
formação híbrida,
sendo arábico o
artigo definido e o
vocábulo fundamental
pertence a dialectos
romances. O vocábulo
principal (isto é “justrel”)
oferece ainda a
particularidade de
apresentar quatro
consoantes, que são:
“j-s-tr”, não
contando,
evidentemente, com
dois “ll”, do artigo
definido arábico e
do tal sufixo
românico. Note-se,
no entanto, que o
“r” pode apresentar
a resultante
habitual da prolação
do grupo “st”, o que
pode reduzir o
número de consoantes
originais”.
Aljustrel
Sede de concelho, a
vila de Aljustrel
está situada 37.8 Km
a sudoeste de Beja e
a 5 Km da margem
esquerda da ribeira
do Roxo.
Embora não tendo
sido possível apurar
de quando data a sua
edificação, esta
vila é, no entanto,
das mais antigas do
País, sabendo-se
que, quando os
Romanos chegaram à
Península, já aqui
encontraram um
castelo de taipa.
Conquistada aos
Árabes por D. Sancho
II, foi doada à
Ordem de Santiago,
tendo recebido foral
de D. Manuel I em
1510.
Derivado, ao que
parece, o seu
topónimo do latim
Aljustreleum, esta
vila ganhou grande
importância a partir
da altura em que a
sua riqueza mineira
foi conhecida. A
exploração romana
das
minas de Aljustrel
está perfeitamente
documentada pelos
objectos e
utensílios ali
encontrados e pela
existência de uma
vasta necrópole.
Infelizmente, as
Tábuas de Bronze de
Aljustrel - a peça
mais preciosa e rara
de todo o espólio
romano aqui
recuperado -, que
estabelecem
meticulosamente os
direitos e deveres
de quantos exerciam
a sua actividade na
circunscrição
metalífera, não se
encontram no Museu
da Mina de Pirites
Alentejanas, mas no
Museu de Arqueologia
e Etnografia, em
Lisboa.
São pontos de
interesse em
Aljustrel a
Ermida de Nossa
Senhora do Castelo,
edificada na colina
onde se situava
anteriormente o
castelo, a igreja
matriz, um dos
maiores templos do
País, com os seus
frontais de belos
azulejos, e a Igreja
da Misericórdia, em
estilo renascença.
Almodôvar –
Concelho do Distrito de
Beja

O vasto concelho
de Almodôvar, a sul
do distrito de Beja
e estabelecendo a
continuidade do
Alentejo com o
Algarve através da
Serra do Caldeirão,
tem uma vida
económica
especialmente ligada
à actividade
agrícola. A sede do
concelho, a vila de
Almodôvar, cujas
origens e fundação
não são possíveis
determinar,
pertenceu ao
mestrado de Sant’Iago
e recebeu foral de
D. Dinis em 1285,
confirmado e
ampliado em 1512 por
D. Manuel l. No
edifício dos antigos
Paços do Concelho,
actualmente
reservado para a
biblioteca e museu
regional, pernoitou
a rei D. Sebastião
quando se dirigia a
Lagos (Algarve),
afim de embarcar
para Alcácer Quibir.
O concelho de
Almodôvar apresenta
documentos de
ocupação humana
desde épocas muito
remotas. Com efeito
foram encontradas
antas na Aldeia dos
Fernandes, junto à
estrada de Lisboa,
no monte das Antas
do Meio e no monte
das Antas dos
Mouriços, mas é das
Idades do Ferro l e
ll que os documentos
são mais abundantes.
Os testemunhos
encontram-se nos
seguintes lugares:
Monte do Guerreiro,
Monte dos Mestres,
Mesas do Castelinho,
Corte Freixo,
Tavilão, Monte
Beirão, Monte Novo
da Misericórdia,
Monte da Azinheira,
Corte Figueira,
Atafona, Corte
Zorrinho, Castelo
dos Mestres e
outros.
Também os
vstígios da época
romana de
Castelinho, Monte do
Castelejo, Senhora
da Graça dos
Padrões, Horta dos
Mouros, etc.,
atestam uma ocupação
humana constante,
através dos tempos e
em vastas áreas do
concelho, que
continua demonstrada
por vestígios árabes
e medievais em
Semblana, Almodôvar
Velha e outros
lugares.
Almodôvar
A origem de
Almodôvar diluí-se
na luminosidade dos
campos alentejanos.
Entre histórias e
lendas é difícil
atribuir à vila, com
precisão, uma
origem, uma cultura
e uma época. Na
realidade, foram
vários os povos que
passaram pela
Península Ibérica e
marcaram, com o peso
da sua cultura, as
terras alentejanas.
Almodôvar, no
entanto, aparece
pela primeira vez
assinalada nos mapas
do tempo dos Árabes
ou Muçulmanos, com o
nome de Al-Mudura.
Almodôvar é a
corrupção da palavra
árabe Al-Mudura que
significa "a coisa
em redondo, ou
cercada em redondo".
E, de facto,
Almodôvar foi
reedificada pelos
árabes no século VII,
altura em que a vila
foi cercada de
muralhas e edificado
um castelo, cujos
vestígios, no
entanto,
desapareceram.
Almodôvar pertenceu
ao mestrado de
Santiago a quem
concedeu Foral
EL-Rei D. Dinis em
17 de Abril de 1285,
o que demonstra ser
esta vila, já nessa
época um centro
importante.
Concedia-lhe D.
Dinis, nessa Carta
de Foral grandes
poderes entre os
quais "o de o povo
não pagar portagem
em parte nenhuma"
nem "os gados da
vila e seu termo
pagarem montas" como
consta do Livro de
Regimento de Verdes
e Montados.
Mais tarde, D.
Manuel I, em 1 de
Junho de 1512 deu
novo Foral à vila,
confirmando e
ampliando os
privilégios
concedidos por D.
Dinis. Este novo
Foral concedia muito
mais regalias,
insenções e de
prerrogativas mais
latas.
A igreja matriz é o
mais imponente
monumento da Vila de
Almodôvar, na
simplicidade das
suas colunas
toscanas, na riqueza
dos altares laterais
e na sumptuosidade
do altar-mor,
mandado construir
por D. João V.
Mas para Almodôvar,
há um acontecimento
de grande valia e
objecto de grande
estima e orgulho:
trata-se da
existência aqui da
primeira espécie de
uma Universidade de
Teologia do Sul de
Portugal, que
funcionou no
Convento de S.
Francisco. Parte da
Biblioteca desta
Universidade
encontra-se hoje na
Câmara Municipal.
O Convento referido
que ainda hoje
existe foi fundado
em 1680 por Frei
José Evangelista,
lente jubilado da
Universidade com os
bens que herdou dos
seus pais. Lançou a
primeira pedra a 2
de Setembro de 1680.
Apesar da riqueza
histórica do
Concelho de
Almodôvar, é pelo
afecto que se
aprofundam e
interiorizam todas
as presenças do
passado, longe dos
estereótipos do
mundo moderno.
Almodôvar continua
fiel às suas
origens, às suas
tradições, à sua
história.
O Concelho de
Almodôvar está
situado no Baixo
Alentejo, distrito
de Beja, entre a
Serra do Caldeirão e
a planície
alentejana. É
rodeado pelos
concelhos de Loulé e
Silves a Sul e
Sudoeste, Ourique a
Poente, Castro Verde
a Norte, Mértola a
Nascente, e ainda
Alcoutim, num curto
segmento da ribeira
do Vascão.
Dista da capital de
distrito 64
quilómetros, de faro
de 74 quilómetros e
214 quilómetros de
Lisboa.
Com 775,9 Km2 de
superfície, 1 terço
do seu território,
situado mais a Norte
e a que correspondem
as freguesias de
Aldeia dos
Fernandes, Rosário e
Graça de Padrões e
parte da freguesia
de Almodôvar, é
plano e pouco
arborizado.
As actividades com
maior expressão
económica são ali o
cultivo de cereais
de sequeiro, a
criação de gado
bovino, ovino e
suíno, a produção de
leite e queijo de
ovelha e a
apicultura.
Os restantes dois
terços situam-se
mais a Sul, são
constituídos por
Serra revestida de
uma vegetação
abundante, onde se
destaca a esteva, o
medronheiro, o
sobreiro e a
azinheira e
correspondem a 5 das
8 freguesias:
Almodôvar, Santa
Clara - a - Nova,
Gomes Aires, Santa
Cruz e S. Barnabé,
onde se situa o Pico
do Mú, um dos locais
mais altos de toda a
Serra do Caldeirão.
A sua principal
riqueza é a cortiça,
a aguardente de
medronho, o queijo
de cabra e o mel. A
população aqui é
dispersa e vive
destas actividades,
que desenvolve em
paralelo com a
pequena agricultura.
O feriado municipal
comemora-se no dia
24 de Junho ( S.
João ).
Alvito – Concelho
do Distrito de Beja

Este lugar foi
habitado em épocas
muito remotas, o que
se deduz de achados
arqueológicos, tais
como moedas romanas,
lápides e ruínas de
edifícios. Teve
foral concedido por
D. Dinis em 1327,
confirmado em 1516
por D. Manuel l.
Vila tipicamente
manuelina, berço de
infantes, pousada de
marqueses, Alvito
foi também claustros
de membros das
Ordens dos
Trinitários e dos
Franciscanos. Aliás,
a tradição religiosa
desta terra é
atestada pelo número
de igrejas e pela
riqueza de alfaias,
paramentos e
objectos de
culto.Com foral dado
por D. Dinis e
confirmado por D.
Manuel l em 1516,
foi a primeira
baronia de Portugal.
Deste facto deriva
talvez o nome da
segunda povoação do
concelho: Vila Nova
da Baronia.
O monumento mais
conhecido desta vila
é, sem dúvida, o
Castelo de Alvito.
Não sendo defensivo,
é mais propriamente
um solar acastelado,
pois foi resultante
de uma adaptação a
residência do
anterior castelo, em
grande parte
destruído. Edifício
dos finais do século
XV, foi residência
dos marqueses de
Alvito e lugar de
frequentes visitas
de reis. É
imponente, com vasto
pátio, torres de
ângulos arredondados
e maciça torre de
menagem primitiva.
Segundo, Rocha
Martins (Arquivo
Nacional – 1935):
“Este nome de Alvito
vem – segundo a
tradição – do facto
sucedido durante uma
festividade em que
havia corrida de
touros e um deles,
tresmalhando-se,
fugiu, povoação em
fora. Várias pessoas
mais animosas, ao
verem o cornúpeto em
veloz correria,
lançaram em sua
perseguição,
conseguindo
capturá-lo. Ao tempo
que o conduziam para
a praça, gritavam
Alvitre ! alvitre –
a que queria dizer
“alvíssaras”.
Corrompida esta
palavra, deu Alvito,
que ficou como nome
da terra dos
condes-barões que um
largo de Lisboa
deram o seu nome”.
Alvito
Alvito é uma vila
a cerca de trinta
quilómetros de
Beja. Pode
dizer-se que foi
bastante
importante, dado
que foi pousada
real durante muito
tempo.
Segundo se lê na
Monarquia
Lusitana, Alvito
nasceu no tempo
de D. Afonso III, a
partir da herdade de
S. Roque, que o Rei
doou ao seu
chanceler e colaço
D. Estêvão Anes, em
1225.
Contudo, o local foi
indubitavelmente
habitado em épocas
muito mais remotas,
a crer nos imensos
vestígios
arqueológicos da
região: moedas
romanas, lápidas
votivas, silos,
ruínas de edifícios,
etc.
Um dos edifícios
mais importantes da
povoação é o seu
castelo. Mandado
construir por D.
João II para pousada
real e acabado
apenas no reinado
de D. Manuel, tem
como principal
característica o
facto de ser
pronunciadamente
amouriscado.
Conta a lenda
que o nome da
povoação vem de um
facto sucedido
durante uma
festividade.
Havia nesse dia uma
corrida de touros e
quando os homens
tratavam de os
meter nos curros,
um deles escapou.
Desatou a correr
pela povoação
fora e atrás
dele algumas
pessoas. O
animal corria
furiosamente, quem
sabe se para
escapar à morte que
adivinhava
esperá-lo.
Como estava um dia
muito quente,
pouco a pouco os
perseguidores do
touro foram
desistindo, até que
só ficaram dois,
mais resistentes e
corajosos, que
acabaram por
capturar o bicho.
Levaram-no de volta
à povoação, depois
de terem descansado
os três sob um
chaparro. Quando
entraram na vila com
o touro preso por
uma corda,
levaram-no até ao
meio da praça,
gritando:
- Alvitre, alvitre!
- que quer dizer
alvíssaras.
Daqui, explica o
povo, nasceu o nome
de Alvito.
Barrancos –
Concelho de Beja

A vila de Barrancos,
sede de concelho do
mesmo nome e situada
em terreno
acidentado na margem
do rio Guadiana,
fica somente a uma
centena de metros da
fronteira espanhola.
O concelho de
Barrancos tem apenas
uma freguesia, Nossa
Senhora da
Conceição, e é o
menor do distrito de
Beja. Sobre a origem
de Barrancos pouco
mais se sabe além de
ter sido uma
freguesia de Noudar,
velha fortaleza hoje
em ruínas.
Situado num dos
pontos mais
orientais do
território
português, entre as
ribeiras de Murtiga
e de Ardila,
altaneiro na
elevação de onde
domina vastos
territórios, como
sentinela vigilante,
o Castelo de Noudar
é um notável
exemplar da
arquitectura militar
do século XlV. Em
documento da Torre
do Tombo, diz-se que
em 1532 «a vila de
Noudar é do mestrado
de Avis e é esta
vila cercada e com
castelo, tem um
aldeia que se chama
os Barrancos uma
légua da vila ao
sueste». Já nesta
data recuada se
refere uma população
maior em Barrancos
do que em Noudar. A
decadência
irreversível desta
era acompanhada pelo
crescimento e
valorização de
Barranco, e assim
continuou até Noudar
desaparecer
definitivamente em
1825, data da última
referência que lhe é
feita em documento
do Desembargo do
Paço. NO Castelo de
Noudar existia uma
lápide, com a data
de 1346, dizendo que
no primeiro dia de
Abril desse ano «Dom
Lourenço Afonso,
mestre de Avis,
fundou este Castelo
de Noudar a povoou a
vila para D. Dinis,
rei de Portugal
nesse tempo».
Barrancos
Barrancos é uma vila
portuguesa no
Distrito de Beja,
região Alentejo e
subregião do Baixo
Alentejo, com cerca
de 1 900 habitantes
(2001).
É sede de um
município com 168,43
km² de área e 1 924
habitantes (2001). O
município é limitado
a norte e a leste
pelos municípios
espanhóis de Oliva
de la Frontera e
Valencia del Mombuey
(província de
Badajoz) e de
Encinasola
(província de
Huelva), a sul e
oeste pelo município
de Moura e a
noroeste pelo
município de Mourão.
Barrancos é um dos
cinco municípios de
Portugal
constituídos por uma
única freguesia.
Dista 110 km da sede
de distrito (Beja),
e o mesmo da cidade
de Évora.
Castro Verde –
Concelho do Distrito de
Beja

Povoação muito
antiga, estende-se
numa campina
dominada por um alto
castro pré-histórico
em ruínas que lhe
deu o topónimo. D.
Manuel l
concedeu-lhe foral
em 1510.
Pouco se sabe sobre
a origem da Castro
Verde, mas o
topónimo parece
indicar que neste
lugar tenha havido
um castelo ou
qualquer reduto
amuralhado. Se
atendermos à
planície que rodeia
Castro Verde,
podemos considerar
como ponto de boa
observação e fácil
defesa a peque
elevação em que a
vila se situa. Sendo
o concelho bastante
rico em provas de
existência humana
nos tempos
pré-históricos e
romanos, não se
conhece documentos
abundantes, e
expressivos que
tenham sido
encontrados na vila.
Embora não se saiba
quando esta povoação
foi conquistada aos
mouros, é perto dela
que se comemora a
Batalha de Ourique –
no outeiro de São
Pedro das Cabeças, a
cerca de 4 Km - , em
local assinalado por
uma ermida. No local
de São Pedro das
Cabeças, foram
encontradas
numerosas caveiras
separadas dos
esqueletos a que
pertenciam. A
explicação aventada
para tão estranho
facto é a de que D.
Afonso Henriques
teria mandado
degolar os mouros,
que teriam oferecido
encarniçada
resistência. Para se
chegar a São Pedro
das Cabeças,
partindo de Castro
Verde, segue-se pela
estrada para São
Marcos da Ataboeira
e Mértola e, a 2 Km
de Castro Verde,
vira-se à direita,
passando a Giraldos.
O foral de Castro
Verde, dado por D.
Manuel l em 1510,
parece indicar que
no tempo de D.
Afonso lll ainda
esta terra não tinha
importância
necessária para lhe
ser concedido foral,
e nesse caso,
estaria de certo
modo na dependência
de Ourique.
Esta vila possui uma
Igreja Matriz com
rica talha dourada e
azulejos do século
XVlll em que o
motivo é a Batalha
de Ourique (parecem
reproduzir os
quadros da Igreja
dos Remédios) e
ainda a Igreja da
Misericórdia, a
Ermida da São
Miguel, a Ermida de
São Pedro das
Cabeças.
Segundo, o Dr.
Joaquim Albino da
Silveira, de
Informação
Particular de 1941:
“Já aparece
mencionada em 1301.
Penso que este nome
foi transplantado da
antiga e extinta
vila de Castro Verde
nas ambas da Serra
da Estrela, hoje
simples lugar de
Eiró (Santa Marinha
de Seia), porque a
palavra Castro ( ou
crasto) , tão vulgar
na toponímia do
Norte Beira não
figura no Sul do
Tejo senão neste
nome, e no de Castro
Marim … Mas,
transplantado ou
não, o seu sentido é
tão claro (« -
castelo verdejante,
povoação ou cercado
de vegetação») que
quase dispensa
explicação. Cp.
Estes outros
topónimos: Vila
Verde, Penha Verde,
Monte Verde, casal
verde, Cabo Verde,
etc.”
Cuba – Concelho
do Distrito de Beja

O nome de Cuba tem a
sua origem, segundo
a tradição, num
castelo situado no
monte do Outeiro,
onde os soldados de
D. Sancho l, aquando
da Reconquista,
teriam encontrado
muitos recipientes
para armazenar
líquidos,
denominados cubas.
Seria no monte do
Outeiro que
existiria a primeira
povoação com o seu
castelo, do tempo
dos romanos. De
acordo com outra
versão, o nome seria
resultante de
naquele local, ou
muito próximo, se
encontrar uma
“cuba”, pequeno
monumento religioso
muçulmano que tanto
abundava no Alentejo
e que, depois da
Reconquista, nos
aparece adaptado a
ermida cristã.
É provável que a
primitiva povoação
se localizasse no
monte do Outeiro,
mas as ruínas ali
existentes, de
características
romanas, ainda não
forneceram elementos
que o provem à
evidência. Segundo
documentos antigos,
só em 1643 se
construíram as
primeiras casas no
local que a vila
actualmente ocupa.
Em 1741, a população
era de 1.220
habitantes, e em
1783, Cuba é elevada
à categoria de vila,
por ser até então «…
um lugar do termo da
cidade de Beja, em
razão da distância
de três léguas que o
dito lugar dista da
referida cidade …»
Cuba é, portanto,
uma vila recente,
resultante de uma
povoação anterior,
situada nas
cercanias e
transladada depois
para o local que
hoje ocupa.
Ligado a Cuba
durante a vida e
depois dela, o
notável escritor
Fialho de Almeida
aqui viveu como
médico modesto e
daqui se projectou
como figura grada
nas letras
portuguesas.
Segundo, Xavier
Fernandes de
Topónimos e
Gentílicos (1944):
“Esta vila e
concelho alentejano
do distrito de Beja
tem uma designação
que não é vulgar na
toponímica
portuguesa. Cuba é
também nome comum,
espécie de balseiro,
dorna ou tonel, e,
como tal derivado do
latim “cupa”. É
possível que se
identifique
etimologicamente o
topónimo e nome
comum, hipótese que
pode ser prejudicada
pela circunstância
de haver a republica
de Cuba, onde a
designação,
evidentemente
espanhola, terá sido
talvez a mesma
origem. Mas outra
hipótese de mais
probabilidade se nos
depara: Cuba deve
ser nome arábico,
isto é, derivado do
árabe Coba, peque
torre, que, assim
será o significado
etimológico do nosso
topónimo, bem como
do seu homógrafo
hispano-americano”.
Cuba
Criado por alvará de
D. Maria de 18 de
Dezembro de 1782 o
concelho de Cuba
englobava então as
freguesias de
Pedrógão, Marmelar,
Selmes e parte de S.
Matias. Por esta
altura as freguesias
de Vila-Alva,
Vila-Ruiva, Faro do
Alentejo e
Albergaria dos Fusos
ainda constituíam
concelhos
independentes,
situação que se
manteve até 6 de
Novembro de 1839,
quando estes
concelhos foram
extintos.
As interpretações
quanto à origem do
topónimo Cuba
adiantam duas
hipóteses: uma
segundo a qual Cuba
seria a adulteração
da palavra árabe
COBA que quer dizer
TORRINHA (diminutivo
de Torre), e outra
que vai buscar a sua
explicação ao facto
dos soldados de D.
Sancho II terem
encontrado muitas
cubas de vinho
quando da conquista
da vila aos mouros.
Há registos
arqueológicos que
provam ter sido Cuba
habitada desde a
pré-história
(cultura megalítica,
4 000 a 2 000 a.C.)
Esta região foi
habitada desde
épocas muito
remotas. Aqui se
encontram alguns
exemplares da
cultura Megalítica -
três antas, duas
situadas nos
arredores de Vila
Alva e a outra
próximo de
Albergaria dos
Fusos.
Foram encontrados
achados soltos e
calhaus truncados,
núcleos e lascas em
Cuba, na pequena
elevação das Hortas
de Manteigas e junto
da Ermida de Nossa
Senhora da Conceição
da Rocha.
Existem “registos”
visíveis no Concelho
da presença romana:
a ponte sobre a
ribeira de Odivelas
e a represa (Vila
Ruiva), bem como
“restos” de duas
“villas” rústicas,
no Monte da
Panasqueira e no
Monte do Outeiro
(Cuba).
No período da
ocupação romana
algumas ruínas
atestam o seu
povoamento, sendo
notória a citação
que André de Resende
(1573) fez de Cuba,
referindo grande
quantidade de
medalhas e cipos
romanos que se
haviam encontrado no
aglomerado urbano e
sua periferia
(História da
Antiguidade da
cidade de Évora, ed.
1738 e Antiquitatum
Lusitanise et
municipio eborensi,
Liv. V, ed. 1593).
Do tempo de ocupação
árabe não se
encontram monumentos
ou ruínas, ficando
no entanto algumas
lendas e a
hipotética origem do
topónimo da sede do
concelho.
Até há trinta anos
era possível
observar um
cemitério Medieval
no adro da Igreja
Matriz de Vila
Ruiva. Esta igreja é
o único exemplar de
arte Gótica na
região.
As igrejas do
concelho apresentam
frescos de diversas
épocas.
Cinco igrejas do
concelho apresentam
magníficos painéis
de azulejos
policromos do séc.
XVII.
Da arte Manuelina
pouco resta, é de
referir o portal que
pertenceu à casa de
campo do Infante D.
Luís, filho de D.
Manuel I, e que se
encontra
actualmente na
Ermida de Nª Srª da
Conceição da Rocha.
Povoação
genuinamente rural,
foi o Monte do
Outeiro o seu
primeiro aglomerado
habitacional mas por
razões ainda não
totalmente
esclarecidas a
povoação passou
depois para uma zona
plana nas suas
proximidades. Desde
o século XIII que se
encontram registos
da existência de
Cuba, tendo
pertencido então ao
Concelho de Beja,
passando
posteriormente para
a posse dos Cónegos
Regrantes de Santo
Agostinho. Em 1305,
os direitos da
aldeia de Cuba
ficaram na posse do
rei D. Dinis. Na
posse real desde a
última data, foi
Cuba doada por D.
Fernando I (1372) ao
fidalgo castelhano
Diogo Afonso do
Carvalhal, tendo-lhe
pertencido até 1374,
data em que este
abandonou o Reino.
Aquele Monarca,
doou-a depois, de
“juro e herdade” a
Vasco Martins de
Melo, seu
guarda-mor.
Na primeira metade
do século XVI
pertenceu a povoação
ao Infante D. Luís,
quarto filho do 2.º
casamento de D.
Manuel I. Atribui-se
a este infante a
construção de um
palácio denominado
“Paço dos Infantes”,
casa de campo ou
pavilhão de caça, de
que hoje apenas
restam um portal de
estilo dito
“manuelino”,
colocado como porta
da Igreja de Nossa
Senhora da Conceição
da Rocha, e não há
muitas décadas
algumas vergas e
silhares usados em
diversas
construções. Neste
palácio jantou
el-rei D. Sebastião
em 1573, quando
jornadeou por Évora
e Beja.
A povoação teve
escrivão, alcaide,
duas companhias de
ordenanças e uma de
auxiliares, bem como
juiz eleito
anualmente, como o
atesta documento de
Filipe II de Espanha
(período de ocupação
castelhana) de 1626.
Em 1727, uma
provisão de D. João
V autorizou o
morador João Luiz a
criar o celeiro
comum, de que foi
1.º administrador
Francisco de Macedo
Foya, em 1732.
A vila foi criada em
1782 por alvará de
D. Maria.
Ferreira do Alentejo –
Concelho e
Distrito de Beja

O povoamento
primitivo de
Ferreira do Alentejo
é muito antigo,
supondo-se que os
romanos tenham tido
aqui uma importante
povoação (a cidade
de Singa, segundo a
tradição). Aliás,
têm sido vários os
vestígios
encontrados que
atestam essa
ocupação. Sabe-se
que Ferreira do
Alentejo pertenceu à
Ordem de Sant’Iago e
que o seu castelo,
hoje desaparecido,
era da jurisdição do
mestre daquela
Ordem.
D. Manuel l concedeu
foral à vila em
1516. O documento
teria desaparecido,
pelo que o rei D.
Sebastião mandou
passar novo foral,
cujo pergaminho se
encontra depositado
na Câmara Municipal.
A Igreja Matriz é
considerada como uma
das mais belas do
Alentejo. Existe
nela uma imagem
reproduzindo a
padroeira de
Ferreira do
Alentejo, que se
sabe de fonte segura
ter seguido com
Vasco da Gama
aquando da sua
descoberta do
Caminho Marítimo
para a Índia. Esta
imagem pertenceu a
Cristóvão
Estribeiro, que
acompanhou o grande
navegador.
Do Mensário das
Casas do Povo (1950:
“ Quais os motivos
que levaram esta
branca e
trabalhadora vila
alentejana a adoptar
o nome de Ferreira ?
Os documentos
consultados não
elucidam
convenientemente. Ao
que parece, por todo
o País, trabalham e
lutam pela vida,
mais de cem
povoações, ao abrigo
do mesmo étimo. A
palavra investigada
nas suas raízes
filológicas,
elucida-nos pouco.
Do latim «ferraria»
- mina de ferro –
chegou-se a
Ferreira. – Quer
isto dizer que
poderemos encontrar
uma mina semelhante,
para cada obscura
aldeia a que se deu
a designação de
Ferreira ? De modo
algum.
O processo histórico
da formação de novos
aglomerados
populacionais
ensina-nos que os
homens ao fixarem
residência longe da
sua terra natal,
gostam de dar um
nome semelhante à
localidade para onde
emigraram.
É certo que, em
escavações
realizadas em meados
do século XVlll,
foram encontrados na
localidade muitos
instrumentos
agrários, domésticos
e fabris, todos de
ferro, do tempo dos
romanos.
Terá esse indício
alguma importância?
É muito duvidoso,
pois uma tradição
velha da região,
diz-nos que no lugar
onde se erguem hoje
as paredes caiadas
de Ferreira do
Alentejo, havia uma
cidade, de nome Singa, testemunha do
feito heróico de uma
antecessora da
Padeira de
Aljubarrota, que
defendeu
heroicamente a porta
do castelo, contra
as hordas dos godos
e dos suevos.
Como teria
desaparecido Singa?
Destruída pelos
Godos? Arrasada
pelos Árabes?
A história não o
diz, e a lenda não o
esclarece”.
Ferreira do Alentejo
A excelente
qualidade do solo
que circunda o
actual concelho e
vila de Ferreira do
Alentejo bem como a
proximidade de
linhas de água
determinaram,
certamente, a
fixação humana nesta
zona há cerca de 43
séculos. Tal
ocupação é
confirmada pelo
espólio arqueológico
abundantemente
encontrado na
estação calcolítica
que se estende ao
longo das margens da
ribeira do Vale
D’Ouro.
A arqueologia
revelou-nos e
confirmou-nos ainda
a presença, neste
concelho, dos
Romanos, do
Visigodos e do Povo
Islâmico. Presenças
estas ainda
confirmadas pelos
próprios vestígios
arquitectónicos como
o sejam, no caso
deste último povo,
por exemplo, as
construções de corpo
cúbico com cobertura
cupular – “Kubba” –
que se podem
encontrar em Villas
Boas, S. Vicente ou
ainda em S.
Sebastião.
Quanto a fontes
escritas
propriamente ditas
estas são muito
escassas e até
omissas quanto á
data de fundação
deste povoado. Deste
modo apenas sabemos
através dos
documentos da
chancelaria régia de
D. Sancho II e de D.
Afonso III que o
território foi
conquistado aos
mouros em 1233 e foi
doado, no ano
seguinte, à Ordem de
Santiago.
Dependente,
espiritualmente, do
bispado de Évora, só
em época mais tardia
se constituiu o seu
alfoz pelo foral da
Leitura Nova,
concedido em Lisboa
a 05 de Março de
1516, concelho que
não incluía os
curados de Vilas
Boas, Peroguarda e
Alfundão,
dependentes das
matrizes de Beja.
Ferreira teve
castelo, situado ao
pequeno cômoro do
actual Cemitério
Público, filial dos
espatários de
Alcácer do Sal, de
que era alcaide em
1527, Francisco
Mendes do Rio, e em
1708 Baltazar
Pereira do Lago.
Esta fortaleza
desapareceu
totalmente e,
segundo informação
de um particular,
Francisco António
Mattos, por volta de
1800, apesar de já
estar arruinada,
ainda ostentava
algumas das famosas
nove torres, o fosso
e a barbacã. Por
volta de 1839
deliberou a Junta de
Paróquia de então,
construir nesse
terreno o Cemitério
Público cujas obras
para sempre
esconderam a antiga
fortaleza. Aliás a
recordar a memória
dessa exuberante
fortaleza apenas
restou o escudo da
Ordem dos Espatários
que ainda hoje
encima a entrada
principal do
Cemitério Público de
Ferreira do
Alentejo.
No ano de 1627 foi
criada a Comarca de
Ferreira do
Alentejo, em
consequência da
reforma da Ordem de
Santiago e da
aprovação régia
Filipina dos novos
Estatutos, comarca
que abrangia as
vilas de Torrão,
Aljustrel e
Alvalade, isto no
domínio espiritual,
porquanto no domínio
temporal a vila era
administrada por um
juíz de fora, três
vereadores,
procurador do
concelho, escrivão
da Câmara, juiz de
órfãos, com escrivão
e oficiais, alcaide
e capitão-mor,
assistido por duas
companhias, uma de
ordenanças e outra
de auxiliares.
Em 1762 Ferreira
pertencia á
Ouvidoria de Beja, e
no ano de 1811,
estava judicialmente
anexada á Vila de
Torrão. Nesta altura
pertencia á Comarca
e Provedoria de
Ourique , Diocese de
Beja e donatária da
coroa.
Em 1821 Ferreira era
concelho da divisão
eleitoral de Beja e
da comarca de
Ourique.
Em 1842, Ferreira
era um dos concelhos
do distrito
administrativo de
Beja e compreendia
cinco freguesias, a
saber: Ferreira e
Villas Boas,
Figueira dos
Cavaleiros, Alfundão,
Peroguarda e Santa
Margarida do Sadão.
Só por volta de 1874
é que a freguesia de
Odivelas, também ela
pertence do
concelho, ficou sob
a tutela de Ferreira
do Alentejo.
Com o advento da
República a 5 de
Outubro de 1910,
Ferreira do Alentejo
sofreu algumas
alterações
arquitectónicas que
acabariam por
empobrecer
patrimonialmente a
actual vila.
Apesar de ter sido
habitada por algumas
ilustres famílias
transtaganas, como
os Estaços, os
Galvões, os Lanças,
os Sousas, os
Mouratos, os Miras,
os Pereiras, os
Ravascos Silvas, os
Menas, os Vilhenas e
os Passanhas, não
conservou mansões
apalaçadas do
passado e somente a
estes últimos se
deveram a construção
dos principais
edifícios urbanos
que, a partir do
século XIX,
enobreceram a vila.
Entre esses
edifícios podemos
apontar, a título de
exemplo, o da Quinta
de São Vicente,
pertencente á
famílias Passanha ,
e a casa nobre que
se ergue na Rua
Conselheiro Júlio de
Vilhena nº 4/6,
que pertenceu á casa
agrícola Jorge
Ribeiro de Sousa,
herdeiro dos condes
de Avilez e Boa
Vista e da Morgada
da Apariça.
Ferreira foi
igualmente berço de
importantes
personagens que
assumiram especial e
relevante destaque
no campo das letras
e da religião, de
entre os quais
destacamos o
conselheiro Júlio
Marques de Vilhena,
importante figura
dos últimos tempos
da antiga Monarquia.
EXPLICAÇÃO DO
TOPÓNIMO DA VILA
A tradição popular
afirma que por volta
do século IV, na
zona onde hoje se
ergue o povoado de
Ferreira do
Alentejo, existia
uma exuberante e
próspera cidade
romana denominada
Singa. Essa cidade
seria, contudo,
atacada, por volta
de 405 da era
cristã, por povos
bárbaros, os suevos
e os godos, que
teriam sido detidos
pela valentia de uma
valorosa mulher.
Essa mulher, esposa
de um ferreiro, terá
defendido a porta do
castelo com dois
malhos.
Este facto, que até
hoje nos traz
algumas dúvidas e
que ainda não pôde
ser confirmado
cientificamente, deu
imagem ao Brasão da
vila no qual figura
uma mulher com um
malho em cada mão.
Mértola –
Concelho e Distrito
de Beja

Não há outra
igual. Mértola é
única, por tudo o
que nela há de
beleza e de
mistério. Um
castelo, um casaria
branco e um rio. À
medida que
percorremos as suas
teias,
descobrimos-lhe um
condimento especial
que só sabe sentir
quem a percorre. Lá
no alto, senhor da
terra e do rio, o
Castelo é o melhor
local para tomar
conhecimento da
grandiosidade da
natureza. E foram
muitos os que se
enamoraram desta
beleza. Os vestígios
estão nas escavações
feitas na cerca do
Castelo que puseram
a descoberto a
“Myrtilis” romana.
Depois, basta dar
alguns passos e os
vestígios mudam de
figura. Trata-se da
Igreja de Nossa
Senhora da Assunção,
que de mesquita
árabe passou a ser
Igreja Matriz. E daí
para baixo
desenrola-se um
promontório de casas
alvas ligadas por
ruas feitas de
calçada. O calor faz
com que os donos
desta terra estejam
recolhidos, só as
cegonhas insistem em
espreitar os
visitantes ou planar
o rio Guadiana. O
mesmo Guadiana que
na terrível noite de
7 de Dezembro de
1876, galgou os
limites e afogou
Mértola. A vila já
lhe perdoou, mas
para que o dilúvio
não seja esquecido,
lá está a placa no
largo dos Paços do
Concelho. Hoje nem
parece o mesmo
Guadiana. As águas
estão serenas e no
seu leito há uma
ilhota que é fã da
vila e que goza os
prazeres deste rio
alentejano.
ORIGEM DO NOME:
“A fundação de
Mértola teve por
motor a fuga de
alguns fenícios que
se homiziaram aqui
quando Alexandre
Magno invadiu a
cidade de Tiro.
Derma à povoação o
nome de Myrtilis que
significa Nova Tiro.
Com o andar dos
tempos a palavra
Mirtilis
corrompeu-se em
Mártola”. (Arquivo
Histórico de
Portugal – 1898).
É uma vila
antiquíssima, teve o
nome latino de
Myrtilis. Ptolomeu,
nos inícios do
século ll da nossa
era, considerou-a
terra importante do
Império Romano. Na
Idade Média foi
rodeada de poderosas
fortificações, das
quais subsistem
vestígios. Foi
integrada na Coroa
de Portugal em 1238,
pelo rei D. Sancho
ll, monarca que a
doou no ano seguinte
à Ordem de Sant’Iago,
da qual se tornou
cabeça do Reino. O
mestre D. Paio Peres
Correia concedeu-lhe
foral em 1254,
renovado em 1512 por
D. Manuel l.
A Mírtilis romana,
Mirtolah árabe e
Mértola portuguesa,
debruçada sobre o
rio Guadiana, foi
importante
entreposto comercial
fenício, cartaginês,
romano e árabe,
devido à facilidade
de navegação, rio
acima, a partir da
foz. Terra de muito
remota origem,
esteve sempre
intimamente ligada à
via fluvial que lhe
assegurava as
comunicações na
região em que se
localiza. Por
Mírtilis passava uma
importante via
romana que ligava
Pax Julia (Beja) a
Beasuris (Castro
Marim, e dali
derivava para Balsa
(Tavira) e Ossónoba
(Faro) ou para
Ilipula (Niebla –
Espanha), Itálica (Sanlúcar
la Mayor – Espanha)
e Hispalis (Sevilha
– Espanha). A
situação de Mértola,
num ponto-chave das
comunicações
terrestres ou
fluviais com o Sul
da Península e como
baluartes de defesa
dessas vias,
conferiu-lhe uma
enorme importância
ao longo de séculos.
Se os muitos
monumentos
pré-históricos da
região de Mértola
provam uma densa
ocupação humana
desta região, o cais
acostável romano, as
moedas romanas
cunhadas em Mírtilis
e muitos outros
vestígios da mesma
época,
esclarecem-nos sobre
seu prestígio e
influência durante o
princípio da nossa
era. A Igreja
Matriz, antiga
mesquita árabe
extraordinariamente
bem conservada, é
documento precioso
da presença
muçulmana do sul de
Portugal, quando a
terra era a Mirtolah
árabe.
O Castelo medieval,
só em parte
reconstruído, mas
com possibilidades
de o ser totalmente,
é valioso atestado
de uma outra época.
Sendo Mértola,
portanto, das poucas
terras portuguesas
em que a
estratificação das
culturas é
suficientemente
nítida para permitir
um estudo
aprofundado do
passado, merece ser
encarada com
especial interesse.
A sua implantação
numa encosta leva-a
a estender-se desde
as águas da margem
direita do Guadiana
até ao alto da
colina onde se ergue
o castelo.
Fica esta vila em
terrenos muito
dobrados de xisto e,
consequentemente, de
fraca aptidão
agrícola. Só alguns
vales, enriquecidos
pela erosão que
descarna as terras
mais inclinadas, se
podem considerar de
boa fertilidade. Por
isso,, a sua
economia faz-se à
base de uma
agricultura modesta
e de uma pecuária
abundante, além de
um comércio de
diversos produtos a
que o Guadiana
assegurou sempre uma
via fácil de
transporte, embora
actualmente seja
suplantado pelo
transporte terrestre
em boas vias de
comunicação que
cruzam todo o
concelho. Modestas
nas suas dimensões e
importância, as
várias povoações
deste concelho são
Alcaria Ruiva (nesta
freguesia, perto da
estrada que liga
Mértola a Castro
Verde, encontra-se a
Ermida de Nossa
Senhora de Aracelis,
numa elevação
isolada a meio da
vasta planície. Foi
local de muita
devoção e de
periódicas
romarias), Corte do
Pinto, Santana de
Cambas e outras, mas
foi a Mina de São
Domingos aquela que
teve, até há bem
poucos anos, o maior
peso económico nesta
região. Ao
esgotarem-se os
filões da mina, a
empresa encerrou a
sua actividade
verificou-se o
desemprego e o êxodo
da população.
Mértola, que recebia
a benéfica
influência da
actividade da mina,
sentiu diminuir as
receitas do comércio
e da indústria.
Simultaneamente, ou
com pequeno
intervalo, também
deixaram de ser
exploradas outras
concessões mineiras
(de manganês) na
freguesia de Alcaria
Ruiva, pelo que já
não há qualquer mina
em actividade neste
concelho. A povoação
de Mina de São
Domingos,
parcialmente
despovoada, tem
junto dela uma
barragem que é local
de pesca e de
recreio na região
semiárida desta
parte do Alentejo.
Em Mértola, ponto de
passagem obrigatória
de quem vai de Beja
para a zona oriental
do Algarve e,
eventualmente,
posterior passagem
para Espanha pela
fronteira de Vila
real de Santo
António, há pontos
de interesse que
merecem ser
observados. A vista
geral da vila,
observada da margem
esquerda do Guadiana
ou da ponte que lhe
dá acesso,
mostram-nos o
casario branco
subindo pela
encosta, rematando
ao cimo pelo castelo
com a sua altaneira
torre de menagem. O
Castelo, em grande
parte a necessitar
de urgentes obras de
reparação,
apresenta-nos a
praça de armas, com
restos de
construções, e a
torre de menagem,
imponente na sua
extrema
simplicidade.
Trepamos a colina
“branca” para
entrarmos na
história do Castelo
que mira o Guadiana.
Percorrer o adarve
que o contorna é ter
oportunidade de ver
Mértola no seu todo
... desde a sucessão
de telhados que
culminam quase no
rio, à torre do
relógio que é poiso
favorito das
cegonhas, ao
desaguar da ribeira
de Oeiras no
Guadiana, aos
vestígios de um cais
fortificado da época
romana restaurado
pelos mouros, às
escavações
arqueológicas que
têm lugar mesmo ao
lado do castelo e à
cisterna, ainda bem
conservada e com
abóbada de berço,
que surge no centro
da praça de armas do
Castelo. Por
Mértola, antiga
metrópole da
Lusitânia, já
passaram romanos,
suevos, visigodos e
muçulmanos, que
deixaram importantes
vestígios, alguns
deles possíveis de
serem vistos nos
museus da vila.
Durante o domínio
romano, a povoação
já se encontrava
cercada de
fortificações mas as
invasões de suevos e
visigodos destruíram
parte das
características
romanas do burgo e
no século Vlll, os
mouros
islamizaram-no. Foi
só em 1238 que
Mértola entrou para
o rol de conquistas
da 1ª Dinastia,
sendo doada à Ordem
de Santiago de
Espada no ano
seguinte. No reinado
de D. Dinis, em
1292, foi restaurada
e ampliada a
fortificação já
existente,
construindo-se uma
torre de menagem com
cunhais de cantaria
e uma porta em ogiva
que permite a
entrada na nobre
sala abobada, sala
esta que hoje é
Museu de Arte
Romana, Visigótica,
Muçulmana e Cristã.
A Mirtolah árabe foi
conquistada em 1239.
O primeiro foral
concedido a Mértola
data de 1250
assinado por D.
Afonso lll e
confirmado por D.
Dinis em 1287, para
em 1512, o rei D.
Manuel l lhe
conceder novo foral.
A primeira figura
notável que se sabe
ter nascido em
Mértola, foi São
Brissos, martirizado
e morto pelos
romanos, em 312.
No rio Guadiana
podem observar-se
agradáveis panoramas
e merecem uma visita
os canais e o Pulo
do Lobo. Os canais
são excelente zona
de pesca a que
conduz um caminho
vicinal que parte de
Corte de Gafo de
Baixo. O Pulo do
Lobo é um
estrangulamento do
rio que passa, com
enorme fragor e
nuvens de espuma,
por entre dois
penhasco rochosos
que distam entre si
cerca de 3 metros,
formando uma
deslumbrante queda
de água com 13,5
metros. Seguindo por
Corte de Garfo de
Baixo e Amendoeira
da Serra, atinge-se
com facilidade o
Pulo do Lobo. Sendo
o Guadiana fronteira
natural entre os
concelhos de Mértola
e Serpa, esta bela
obra da Natureza
pertencerá a ambos,
mas o acesso a
partir de Serpa é
bem mais difícil.
Integrada numa vasta
zona continental
situada a norte e
estendida para
nascente e poente,
cabia a Mértola
drenar para sul as
mercadorias
acarretadas através
das várias vias
terrestres. Metais,
certamente na época
mais antiga. Depois
também cereais,
nomeadamente ainda
na época cristã e
até muito
recentemente.
Transporte de
pessoas, a par das
cargas. Até que tudo
finda – o
desenvolvimento
viário vem destronar
definitivamente as
carreiras regulares
de barcos de
passageiros que se
efectuavam entre a
vila e Vila real de
Santo António.
Mértola é pois uma
povoação que,
atravessando o
tempo, guarda dentro
de si altas memórias
do passado. Hoje,
graças a um esforço
quase inédito no
país, a povoação vai
revelando estrato a
estrato a sua
memória
multissecular. De
maneira visível, a
mais antiga das
presenças que surge
na vila à luz do dia
é a civilização
romana, já que dos
tempos anteriores
não ficaram traços
monumentais. Roma
começa por estar
presente na parte
mais nobre do
agregado urbano, no
local que avizinha o
núcleo duro das
fortificações, o
Castelo. Sebastião
Estácio da Veiga,
arqueólogo
incansável do século
passado, teve
ocasião de explorar
quer esta zona quer
outras da vila,
compondo com o seu
saber assim auferido
as suas “Memórias
das Antiguidades de
Mértola”, editadas
em 1880.
Mértola é decerto um
dos mais antigos
sítios de Portugal
onde, com idênticas
funções, uma
povoação se manteve
importante através
dos séculos. Já na
época pré-romana a
desconhecida Mértola
de então terá
servido de elo de
ligação portuária
entre o interior do
território e o mar,
particularmente com
o Mediterrâneo. Eram
os tempos em que uma
brilhante
civilização, de que
o expoente máximo
foi a cidade de
Tartessos, se
desenvolvia no
sudoeste da
Península Ibérica.
Veio depois Roma,
veio a época
muçulmana, e Mértola
continuou a ser uma
importante cidade.
Será a conquista
cristã do sul do
território
português, em meados
do século Xlll, que
abrirá caminho ao
seu apagamento.
Lembra um grande
barco ao remirar-se
nas águas do
Guadiana. Na parte
mais elevada, a
norte,
estabeleceu-se a
acrópole, a
alcáçova, o Castelo,
num ponto cimeiro
que não chega a
atingir os 90 metros
de altitude. Cá em
baixo, porém, as
águas do rio descem
ou alteiam-se
acompanhando o ritmo
das marés, que este
é, para além de um
dos grandes cursos
de água da Península
Ibérica, um longo
canal que liga a
vila ao mar do
Algarve, com uns 70
quilómetros de
extensão. A toda a
volta de Mértola
estende-se o
amuralhado, a cerca,
a acompanhar de
ambos os lados da
sua ponta sul os
dois vales ravinosos
da ribeira de Oeiras
e do antigo Odiana.
Da chamada Torre da
Carocha (certamente
a torre “coraicha”,
a da coiraça),
sai-se para o rio,
para a zona do
antigo porto,
situado ao que se
presume já na
ribeira de Oeiras,
no seu troço
terminal, quando o
modesto curso de
água prepara para se
lançar no Guadiana.
Este esporão em que
assenta Mértola cedo
atraiu populações
que aqui, lá no cimo
do cerro, se
estabelecem bem
antes que tivessem
desembarcado na
Península os
exércitos romanos. O
motivo dessa
implantação humana
pode dizer-se que
“está à vista”. Uma
alta cunha que
oferece magníficas
condições de defesa.
A existência de uma
área envolvente
banhada por dois
rios desiguais.
Mas, sobretudo, este
local ocupa uma
posição privilegiada
em relação ao rio
Guadiana que permite
à urbe ali
implantada a
utilização e o
controlo desta
magnífica via de
comunicação entre o
interior alentejano
e o mar algarvio,
anteporta do mar
Mediterrâneo, das
suas costas
imediatas sul e
norte (esta a da
civilização
tartéssia). Mas
sobretudo das mais
longínquas e míticas
praias do
Mediterrâneo
oriental, de onde
partem marinheiros e
comerciantes que
procuram adquirir
nestas terras
interiores o mais
precioso dos metais
– o ouro. Esta
parece ser a função
de Murtili, de
Mytilis, de Mântua,
e, ainda que rápida
perda de
importância, da
Mértola conquistada
em meados do século
Xlll pelos exércitos
cristãos. Numa época
em que os
transportes fluvial
e marítimo eram
dominantes, Mértola
localiza-se à beira
de um rio navegável
que tinha
comunicação directa
com o mar e a
garantia de um
caudal constante que
lhe era fornecido
através do próprio
fluir das marés.
Situada a norte do
Castelo (castellum),
é nesta zona que se
registam os restos
de estruturas que
compunham o fórum, a
praça, o local
público por
excelência da
cidade. Aqui se
prestava o culto aos
deuses, o culto
imperial. Aqui se
situava a basílica,
edifício ligado à
vida profana, que
veio a converter-se
em templo com o
cristianismo. Aqui,
neste escasso
espaço, se situavam
também as termas.
Aqui se exercia, em
vendas fixas, sob
arcadas ou em plena
praça, o variado
comércio, tal como
uma praça medieval,
espaço também
definido pelos belos
edifícios públicos
(a Igreja, a Câmara,
o Tribunal e a
Cadeia). Mas a
Myrtillis, a Mértola
romana hoje aberta
ao visitante, não se
esgota aqui. O
núcleo romano
musealizado
encontra-se
intramuros, mas no
subsolo de um
edifício público, a
sede do Município.
Ainda que numa
povoação tão
sedimentada não seja
difícil adivinhar
que qualquer
escavação resulte na
descoberta de
estruturas de
interesse
arqueológico, foi um
acaso de obras de
reconstrução que
levou à descoberta
de uma casa romana
no subsolo deste
edifício, espaço
este entretanto
tornado circulável e
aberto ao público.
Recordemos que esta
casa dava para a
mais importante rua
de Mértola. Esta
será a via
fundamental na
organização de todo
o seu espaço urbano.
De facto, trata-se
do eixo que
estabelecia a
ligação entre a
acrópole acastelada
e a zona de
utilização do rio, a
zona portuária.
Desta pode ainda
ver-se de pé,
destacando-se da
cerca, uma estrutura
arcada que parece
ter correspondido
não a uma ponte,
como também foi
interpretado, mas a
um cais torreado que
se integraria no
conjunto de obras
defensivas da cidade
amuralhada. Era por
esta zona de
confluência com a
ribeira de Oeiras
que se situaria o
porto. Era aqui
também que uma via
romana secundária –
a que punha em
ligação a cidade com
as Minas de São
Domingos e a serra
algarvia – se
interrompia,
recorrendo-se então
a barcas para cruzar
o rio Guadiana. A
via principal, essa
ligava Mértola a
Beja, a Pax Julia,
então capital de um
“convento”,
circunscrição
administrativa da
época romana. Vindo
do norte, era pela
zona do fórum que o
viajante fazia sua
entrada em Mértola.
Depois, atravessando
toda a cidade,
chegava ao porto e,
por via fluvial,
partia para o sul.
Ainda certamente da
época romana
conhece-se o traçado
de uma extensa
muralha – com cerca
de dois quilómetros
– que protegia a
cidade à distância,
cercando-a de uma
ponta a outra do
Guadiana e cruzando
a ribeira de Oeiras.
No exterior do casco
urbano antigo,
situado quase no
limite do circuito
interno deste grande
amuralhado,
encontra-se o templo
que revela a
implantação do
cristianismo na
cidade. A basílica
paleocristã foi um
dos templos aqui
construídos no
século V. Já
escavada no século
passado por Estácio
da Veiga, a equipa
dirigida por Cláudio
Torres prosseguiu
também aqui a
pesquisa
arqueológica.
Actualmente, a parte
recuperada do templo
integra um museu de
sítio. Postas a
descoberto as
estruturas
subsistentes,
ergueu-se à sua
volta um edifício
onde se expõe o
espólio aqui
recolhido, com
especial destaque
para um conjunto de
lápides funerárias
epigrafadas. Se o
período “visigótico”
se encontra também
documentado, com
exposição de peças
na torre de menagem
do Castelo, um
destaque especial
merece a época
islâmica. Durante o
domínio muçulmano,
Mértola continuará a
exercer a sua função
de drenagem de
minério e de
produtos agrícolas
para o Guadiana e
para o golfo que
banha os dois
Algarves, o africano
e o ibérico. Mas
será já depois da
desintegração do
califado que a
cidade vai dar que
falar. A personagem
dominante será o
filósofo e místico
Ibne (ou Bem) Qasî,
que, em 1144,
consegue apoderar-se
de Mértola, então em
mãos dos almorávidas.
Ibne Qasî torna-se
chefe de um pequeno
estado. Expulso por
um seu antigo
aliado, Ibne Wazzir,
procurará socorro em
África, junto dos
almóades. Mais tarde
Ibne Qasî vai ficar
senhor de Silves.
Aqui, recusa
submeter-se ao poder
almóada, aliando-se
a D. Afonso
Henriques. Uma
conspiração porá
termo à sua vida
nessa mesma Silves,
em 1151. A Mértola
muçulmana está
representada pelo
edifício da antiga
mesquita, que seria
reconvertido ao
culto cristão ainda
na Idade Média. No
entanto, ainda que
já transformada em
Igreja, Duarte d’
Armas, no seu álbum
das fortelezas,
dá-nos dela uma
representação ainda
com a configuração
de tempo islâmico,
com os seus telhados
múltiplos,
correspondentes à
cobertura das cinco
naves – estrutura
que o edifício
conserva – e com a
almenara, agora
acrescida de um
campanário. Para
além disso, Mértola,
possui outro
importante
testemunho deste
período, agora
resultado das
pesquisas
arqueológicas
efectuadas no seu
caso urbano. O
núcleo islâmico do
Museu de Mértola
reúne um espólio
extremamente rico,
com destaque
particular para a
cerâmica desta
época. Aliás, o
“ex-libris” da vila
passou mesmo a ser a
reprodução de uma
cena de casa com
falcão que decora
uma tigela datada do
século Xl encontrada
nos entulhos do
antigo criptopórtico
romano, adaptado a
cisterna na época
muçulmana e
entulhado na época
cristã. Integrada no
Portugal cristão,
Mértola, perdendo as
funções de ligação
com o Magrebe e com
um mar Mediterrâneo,
só voltará a Ter um
surto de
desenvolvimento nos
séculos XV e
seguinte. Será
justamente com a
ocupação de
praças-fortes
litorais marroquinas
pelos portugueses
que a vila
reencontrará
temporariamente
funções de porto
fluvial. É essa
imagem que Duarte
d´Armas vai fixar no
seu livro, com duas
caravelas fundeadas
no rio, então ainda
designado, “à
portuguesa”, Odiana.
Mértola parece ainda
adormecida quando
chego e a observo de
longe, na margem
oposta do Guadiana.
Apenas um pescador
rasga as águas
tranquilas do rio,
vigiado de perto por
duas cegonhas que
sobrevoam o casario
apertado entre as
muralhas. Nada, por
enquanto, a
distingue de outras
povoações
alentejanas,
igualmente alvas e
pacatas. “Vila
Museu”, indica a
placa de boas-vindas
junto à estrada. Com
alívio, sei à
partida que não vou
encontrar um
daqueles lugares,
tão comuns em alguns
países do Norte
europeu, que servem
de cenário a
recriações
históricas, onde os
sorrisos, tal como
as lojas, têm
horários de
abertura. Desfaço as
dúvidas num pequeno
café situado junto
ao mercado, um
animado local de
encontro segundo me
parece. As respostas
chegam prontas,
ainda mal acabada a
pergunta,
interrompidas por
alguém que entra e
dá a sua achega.
Cá fora, sob uma luz
intensa reflectida
nas paredes claras,
Mértola mostra-se
semelhante a muitos
locais do Alentejo,
com as ruas
engalanadas de
laranjeiras,
pequenos comércios
com os produtos
locais e trânsito
lento. Mas, aos
poucos, conforme se
entra na zona
muralhada e se pisam
as gastas lajes, uma
história grandiosa
revela-se sob os
nossos pés e olhos,
desmentindo a
aparente pequenez do
burgo.
Da Myrtilis romana à
reconquista
Localizado na
confluência do
Guadiana com um
pequeno afluente – a
ribeira de Oeiras –,
sobre um promontório
rochoso, o povoado
já era mencionado
por geógrafos da
Antiguidade que se
referiam à
imponência das suas
fortificações. Na
encruzilhada de vias
terrestres e
fluviais – 70
quilómetros separam
o Atlântico daquele
que foi o porto mais
setentrional do
grande rio do Sul –,
este era, desde o
período pré-romano,
um importante
entreposto
comercial. Fenícios
e cartagineses
andaram por aqui
fazendo trocas de
produtos e trazendo
notícias e
influências de
outros mundos. Com a
chegada dos romanos,
a povoação foi
baptizada de
Myrtilis,
tornando-se uma das
quatro municipia da
Lusitânia. Por aqui
passava a importante
estrada que ligava
Baesuris (Castro
Marim) a Pax Julia
(Beja). Seguem-se os
suevos, por volta do
ano 400 d.C., e os
visigodos, durante
os séculos VI e VII,
altura em que a
região integra o
reino de Toledo.
O ano de 712
assinala o
aparecimento dos
árabes. É o começo
de um longo período
de prosperidade para
a Mirtolah
muçulmana, que chega
a ser capital de um
reino Taifa, tal
como Silves e Faro.
Resultado do
desmembramento do
califado de Córdova,
as diversas taifas
da península
contribuíam para o
desenvolvimento
cultural e artístico
dos respectivos
territórios.
A reconquista cristã
chegou em 1238 com o
exército de D.
Sancho II que, nesse
mesmo ano, doou o
burgo à Ordem
Militar de Santiago
e Espada, para que
fosse repovoado. A
primeira carta de
foro foi outorgada
por D. Afonso III em
1250 e a segunda por
D. Manuel II em
1512. Durante o
século XV e o início
do XVI este seria
ainda um ponto de
abastecimento
cerealífero das
tropas do Norte de
África. Com a
concorrência dos
portos marítimos a
vila entrou numa
suave letargia, de
que tem vindo a sair
com o dinamismo de
gente de fora que
escolheu o concelho
para viver.
Foi para tentar
desvendar os
segredos dos 550
anos do Gharb
Al-andalus (o
Ocidente do Andalus)
que Cláudio Torres
se instalou em
Mértola em 1976,
dando início à
primeira escavação
contínua da
arqueologia
portuguesa. Desde
então, muitos
artefactos têm visto
a luz do dia,
ajudando finalmente
a perceber os
contornos da
história da ocupação
árabe da península.
A maior parte dos
trabalhos
desenrola-se no
bairro islâmico,
mesmo ao lado do
castelo construído
no século XIII sobre
a antiga alcáçova.
De uma dezena de
habitações com algum
piso intacto, ao
lado das quais se
encontrava a oficina
de um ourives de
prata, saem “cacos”
com que os técnicos
do Campo
Arqueológico
reconstituem
objectos magníficos,
em puzzles
intrincados que
requerem muita
paciência. Os
historiadores,
esses, vão
lentamente juntando
as peças do fabuloso
mosaico de uma
cultura que deixou
muitas marcas na
nossa história.
Este é o sítio ideal
para começar um
passeio não só
através das ruas da
vila, mas também do
seu passado –
longínquo ou mais
recente –, visitando
os seus inúmeros
núcleos museológicos
e monumentos. Do
topo da fortaleza
avista-se uma
paisagem já mais
algarvia do que
alentejana. As
planícies dão lugar
a um relevo
acidentado, onde se
destacam as serras
de Alcaria, S. Barão
e S. Brissos – o
primeiro mertolense
notável de que há
registo, martirizado
e morto pelos
romanos em 312. O
olhar desce até ao
rio, acompanhando os
telhados das casas
com os seus pátios
interiores recheados
de limoeiros e
canteiros de flores.
Uma cegonha ronda a
Torre de Menagem,
que alberga um
conjunto de
fragmentos
arquitectónicos da
época pré-islâmica,
recolhido na região.
Desce-se depois até
à Igreja Matriz,
erguida no lugar de
uma mesquita do
século XII. Dessa
época, o belo
interior de abóbadas
nervuradas conserva
ainda quatro arcos
em ferradura e o
mihrab (nicho que
indica a direcção de
Meca). De uma das
vezes que lá passei
a Bíblia do altar
tinha por companhia
o Corão. Cá fora
soavam tambores e
ouvia-se o som de
cantigas árabes. Em
frente ao templo,
uma tenda com o chão
forrado de tapetes
deixava entrar quem
quisesse ouvir
histórias das Mil e
Uma Noites, enquanto
os cuspidores de
fogo se preparavam
para o espectáculo
nocturno.
Parecia que tinha
acabado de viajar no
tempo, embora esta
fosse apenas mais
uma edição do
Festival Islâmico
que, a cada dois
anos, dá à vila a
oportunidade de
reviver uma época
áurea. Algumas ruas
transformam-se num
autêntico souk, com
bancas onde artigos
vindos do Norte de
África convivem com
os produtos locais.
Os restaurantes
aderem à iniciativa
servindo pratos como
cuscuz e tajines e
em vários lugares
pode provar-se a
doçaria marroquina,
acompanhada por chá
de menta, juntamente
com os méis e
queijos da região.
Rota museológica
Enquanto se aguarda
pela próxima festa,
em Maio de 2005,
seguimos para o
Núcleo do Ferreiro,
antiga forja
recuperada de forma
a mostrar os
artefactos da
actividade.
Continuamos junto à
muralha, passando
pela sede do Parque
Natural do Vale do
Guadiana, onde nos
poderão ser
indicados alguns dos
pontos mais
interessantes da
área protegida como
o Pulo do Lobo ou as
Minas de S.
Domingos. Perto
dali, o Núcleo de
Arte Islâmica expõe
o resultado de mais
de duas décadas de
trabalho
arqueológico. São
peças de osso e
metal, objectos de
adorno e utensílios
domésticos, vasos e
jóias que formam a
melhor colecção do
género de todo o
País. O contíguo
Núcleo de Arte
Sacra, instalado na
antiga Igreja da
Misericórdia, contém
imagens e alfaias
litúrgicas
recolhidas em
igrejas do concelho.
Se, como já se
referiu, grande
parte dos achados
tem sido o resultado
de longas
investigações,
outros acontecem por
obra do acaso. É o
caso do incêndio
ocorrido no edifício
da câmara municipal,
que deixou à mostra
vestígios de uma
casa romana, datada
de 2000 a.C. O
projecto de
recuperação do
edifício acabou por
integrar mais este
espaço museológico,
albergando outros
objectos da mesma
época.
Estamos praticamente
no fim de um
percurso que, por
coincidência ou não,
segue sempre junto
ao pano de muralhas.
Mas não se deve ir
daqui sem nos
deixarmos perder
pelas vielas do
interior. Aí haverá
sempre tempo para
dois dedos de
conversa num bar,
para relaxar, e até
em algumas oficinas
(como a de joalharia
e a de cerâmica) que
produzem objectos
inspirados nas
técnicas e nas
formas das coisas de
outrora.
Terminado o passeio
intramuros, é altura
de regressar ao
relativo bulício de
uma vila em lento
crescimento. Também
aí a terra guardou
segredos. É o caso
da basílica
paleo-cristã,
escondida sob a
fachada de um
edifício anónimo,
onde foram
encontradas várias
dezenas de lápides,
incluindo uma com
inscrições em grego
provando o carácter
cosmopolita dos
habitantes de então.
Quem por aqui andar
durante a semana
poderá ainda visitar
a necrópole romana
(século II a.C.) e a
ermida de S.
Sebastião, de
fundação medieval,
que se encontram
dentro do perímetro
da escola EB 2,3 de
Mértola.
Para finalizar em
beleza, nada melhor
do que visitar o
Convento de S.
Francisco, situado
na margem direita da
Ribeira de Oeiras,
junto à estrada que
segue para Sul.
Entre 1612 e 1834 o
templo pertenceu à
Ordem de S.
Francisco, tendo
vindo a degradar-se
até ao estado
ruinoso em que se
encontrava quando
foi adquirido, em
1977, por um casal
de artistas
holandeses. Apesar
de ser propriedade
particular, pode
percorrer os seus
jardins e descansar
no espaço da antiga
capela, decorado com
obras de Geraldine
Zwanikken. É um
local de muita paz,
ideal para uma
despedida a Mértola.
Moura –
Concelhos
e Distrito de Beja

Segunda uma antiga
lenda local, o
topónimo deve-se à
Formosíssima
Salúquia, filha do
governador mouro
desta praça, que se
lançou de uma das
torres do castelo ao
ter conhecimento da
morte do noivo, numa
emboscada de
cristãos, que, após
terem desbaratado os
seus inimigos,
penetraram no
castelo disfarçados
com os fatos dos
vencidos. A vila
passou a chamar-se
Moura em 1232, após
ter sido ocupada por
D. Sancho ll, mas só
foi definitivamente
integrada na Coroa
Portuguesa no
reinado de D. Dinis,
que lhe concedeu o
primeiro foral em
1295 e reedificou o
castelo no ano
seguinte.
A
Lenda da Moura –
(Domingo Ilustrado –
1898)
“Como a lenda da
tomada desta terra
pelos cristãos seja
a mesma que deu
origem ao seu brasão
de armas, vamos
referi-la.
Corria o ano de
1166. D. Afonso
Henriques, aclamado
rei de Portugal nos
plainos de Ourique,
tinha expulsado os
infiéis da
Estremadura, e
combatia sem
descanso para os
expelir do Alentejo,
cujo terreno lhe
disputavam palmo a
palmo, em luta
porfiosa e
desesperada.
Era então alcaide do
Castelo da antiga
Arucitana um mouro
nobre e opulento,
senhor de muitas
terras do Alentejo.
Abu Assan, que assim
se chamava, tinha
uma filha por nome
Saluquia a quem
amava ternamente. Em
prova do seu afecto
dera-lhe em dote
aquele castelo, por
ele reedificado e
guarnecido com tudo
quanto era mister
para conforto e
defesa.
A
jovem moura, tão
ricamente dotada,
não tardou a
contratar o seu
casamento com um
agareno, não menos
rico e poderoso, e
também alcaide do
forte Castelo de
Arouxe.
Chegada a ocasião
dos desposórios,
pôs-se a cminho
Braffma, era o nome
do noivo, seguido de
uma numerosa e
luzida cavalgada. Ao
entrarem, porém, num
vale estreito e
sombreado por
espesso arvoredo,
caíram sobre eles
alguns cavaleiros
cristãos, tão de
improviso, e com tal
fúria e denodo, que
em breve espaço de
tempo se viu o chão
juncado de
cadáveres, não
escapando com vida
um só sarraceno.
Foi esta acção uma
empresa de antemão
combinada e
disposta; e foram
autores dela dois
fidalgos da corte de
D. Afonso Henrriques,
chamados Álvaro
Rodrigues e Pedro
Rodrigues.
Apenas foi concluído
este primeiro acto
do drama,
apressaram-se os
dois fidalgos, e os
outros seus
companheiros de
armas, a despojar os
corpos dos mouros de
todos os fatos e
adornos, e,
trocando-se pelos
seus, num momento se
acharam
transformados em
perfeitos cavaleiros
mauritanos.
Assim disfarçados,
seguiram o caminho
do castelo da noiva,
entrando alegres com
vozes e gritos ao
modo dos sarracenos.
A desditosa Saluquia,
que esperava ansiosa
a vinda do consorte,
viu da janela do
alcáçar aproximar-se
a brilhante o jovial
comitiva.
Com o riso nos
lábios, e no coração
a falar esperança e
felicidade, correu a
ordenar à sua gente
que baixasse a ponte
levadiça, e abrisse
de par em par as
portas da fortaleza
para receber o seu
novo senhor. A sua
ilusão, porém,
passou rapidamente,
como o relâmpago. As
vozes de alegria e
paz, que os
cavaleiros entoavam
ao transpor os
fossos do castelo,
em breve se
converteram no
retinir das armas,
nos alaridos da
guerra, e enfim, nos
brados da vitória.
O
sagrado pavilhão das
quinas portuguesas
tremulava já
triunfante sobre as
ameias da cidadela.
A praça estava
rendida aos pés do
vencedor, mas não
assim a sua altiva
senhora. A
desgraçada da
Saluquia, preferindo
a morte à
escravidão,
arremessara-se do
alto da torre, que
defendia a entrada
da fortaleza.
Em
memória deste
sucesso tomou a
terra o nome de vila
de Moura, e por seu
brasão de armas um
escudo com um
castelo, e junto à
porta deste uma
mulher morta.
Esta é a lenda, mas
pretendem alguns
autores que a
povoação antes desta
conquista, já era
denominada Moura.
Outros dizem que
durante o domínio
dos árabes davam-lhe
este nome do
Ilmanijab”.
Moura
A origem de Moura
remonta aos tempos
pré-históricos. Da
Idade do Ferro (
séc. VII a III a.C.
) destaca-se o
povoado do Castro da
Azougada a 4 km da
cidade.
Durante a dominação
romana ( séc. III
a.C. - V d.C. ) a
povoação do concelho
sofre um forte
incremento,
traduzido no grande
número de
explorações
agrícolas (villæ). É
deste período a
velha ponte romana
sobre o Brenhas.
Moura conhece um
período de
prosperidade durante
a permanência árabe
( séc. VIII - XIII
), sendo ainda hoje
visível um conjunto
apreciável de
legados desta época.
A partir da
reconquista cristã (
ca. 1232 ) e
posterior integração
no reino de
Portugal, Moura
esteve sempre na
linha da frente das
sucessivas guerras e
quezílias com
Castela, sendo uma
das praças fortes da
zona raiana. Várias
vezes ocupada, a
vila foi sendo
sempre recuperada
pela coroa
Portuguesa. O
Castelo foi
reconstruído no
inicio do séc. XIV,
tendo uma nova cinta
de muralhas sido
edificada por volta
de 1660.
A questão das
fronteiras perdurou
praticamente até aos
dias de hoje.
Paradigmático deste
estado de coisas é a
situação original
dos terrenos da
Contenda. Esta
herdade, actualmente
pertença do
Município, integrou
até 1892 uma área de
administração comum,
tendo nesta data
sido feita a
delimitação de
fronteiras
A data do primeiro
foral de Moura não
reune a concordância
dos entendidos.
Certo parece ser a
data da confirmação
( 1251 ) no reinado
de D. Afonso II. O
título de "Notável
Vila de Moura" que
até hoje permanece
nas armas da cidade
foi-lhe concedido em
1554, embora já em
1525 D. João III lhe
conceda tal
distinção.
Moura foi elevada à
categoria de cidade
em 1 de Fevereiro de
1988.
Odemira
– Concelho
do Distrito de Beja

Centro
populacional
instalado em terra
pobre e pouco
povoada, Odemira
manteve e conserva
ainda a ligação ao
mar através do rio
Mira, a que lhe foi
pedir o nome. Aliada
à pobreza da região,
as dificuldades de
navegabilidade do
rio e sobretudo as
difíceis condições
da barra não
permitiram à vila um
grande
desenvolvimento, o
que é visível na
quase ausência de
edificações,
religiosas ou civis,
de cunho monumental.
Pelas mesma razões,
acrescidas dos
perigos do mar, o
porto marítimo de
Milfontes, de
criação tardia,
arrastou-se em
penosa existência ao
longo dos tempos.
Até que o grande
surto de turismo lhe
descobriu nova
vocação.
ORIGEM DO NOME:
“Seu nome provém do
árabe “Wad – Emir”,
que significa – água
ou rio de Emir.
Os portugueses
corromperam o Wad ou
Wed em Ode e Emir em
Mira. Com quanto a
palavra ficasse
alterada, e por fim
um pouco estranha,
não deixa de
reconhecer-se que
não é inacreditável
esta etimologia. Os
naturais da vila
sopõe-lhe outra, mas
essa nem discussão
merece. Dizem que no
tempo dos árabes
habitava o castelo
um alcaide mouro
chamado Ode. Com ele
vivia sua mulher,
naturalmente linda
como todas as mouras
das tradições
populares. Um dia,
D. Afonso Henriques
meteu-se a
conquistar terras a
mouros e lembrou
encravar na sua
recente coroa aquela
pequena jóia
alentejana, e
marchou sobre ela. A
alcaidessa estava a
uma das janelas do
seu castelo, quando
o exército do Rei
Conquistador surgiu
de improviso antes
seus formosos olhos.
Aflita, quanto
surpresa, a bela
muçulmana entrou a
chamar pelo marido,
gritando-lhe: “Ode,
Mira !”. Tem graça
como a filha de
Mafona conhecia o
verbo “mirar” de
origem castelhana
...”. ( do Arquivo
Histórico de
Portugal – 1898).
Odemira será uma
povoação muçulmana,
certamente já
acastelada, pois, em
1245, Paio Peres,
mestre da Ordem de
SanT’ago, faz a
doação do seu
castelo ao bispo do
Porto. Odemira será
tomada pelos
cristãos, tal como a
sua vizinha
Província do
Algarve, da qual de
algum modo
pertenceu, em meados
do século Xll. No
foral que lhe
concedeu D. Afonso
lll, em 1256,tal
como noutros forais,
privilegiaram-se com
o foro de cavaleiros
os membros adstritos
a um navio: o pretor
(alcaide), dois
espadaleiros (homens
do leme, que
manobravam a
espadela (navio
costeiro ou de
pesca) ou talvez
apenas remeiros
(remadores); arrais
(ou remeiros do lado
da proa (?); e um
petintal (calafate
especializado “ os
grandes
especialistas em
calafate foram os
judeus, com grande
fama profissional”).
Curiosamente, o
senhorio do castelo
e da vila de Odemira
foi concedido, em
1319, por D.Dinis,
ao genovês (natural
de Génova,
principado do
Península Itálica,
mais tarde unificada
e se tornou
conhecida por
Itália), almirante
do mar, com quem
fora estabelecido um
contrato para que
viesse pôr-se à
frente da marinha
portuguesa ( que
podemos considerar
os “primórdios das
descobertas
portuguesas”, pois,
os ensinamentos que
os árabes nos tinham
transmitido, já há
muito estavam
ultrapassados). No
levantamento do país
ordenado por D. João
lll, em 1527, para
que se averiguasse o
número de moradores
existentes em cada
uma das cidades,
vilas e lugares de
cada comarca, com
instruções bastante
precisas, refere-se,
a propósito de Vila
Nova de Mil Fontes
(*), que pelo rio
Mira “podem entrar
caravelas de
sessenta tonéis, com
água cheia” , isto
é, na praia – mar
(maré alta).
Acrescenta-se aí que
essas caravelas
sobem acima de
Odemira uma légua.
Esclarece-nos também
que o castelo da
vila de Odemira
ainda existia e que
ficava sobre o rio,
a noroeste. Uma
outra afirmação
referindo o tipo de
navegabilidade do
rio Odemira está
consignada na
“Descrição do Reino
de Portugal”, mais
propriamente da
Coroa portuguesa,
datada de 1621,
feita por Alexandre
Massay, um
engenheiro
napolitano (de
Nápoles, um dos
reinos da Península
Itálica, antes da
unificação para se
tornar num país:
Itália), ao serviço
de Filipe ll e
Filipe lll (durante
a denominação
espanhola – 1580 a
1640). Escreve ele,
um pouco à rude
maneira do tempo e
que por isso aqui se
enfeita, que o rio
de Odemira “se
navega com caravelas
quatro léguas e meia
e com barcos de
coberta até à vila
de Odemira, que são
cinco até sua barra”
. Já no fim do ano
seiscentos, uma
outra fonte
corrobora o facto de
o rio ser navegável
por barcos de 40 ou
50 moios, até ao
limite da maré. E
nessa altura alguém
avança que os
pilotos, só
permitiam a entrada
a caravelas se a
barra permitia.
Em toda a costa
alentejana não há
mais que dois rios,
dignos de serem por
tal nomeados,
capazes de penetrar
profundamente a
costa – se é que é
legítimos exprimir
assim o fenómeno
contrariando o curso
natural das suas
águas. A norte o rio
Sado, com os seus
portos – o de
Setúbal, e o antigo
porto de Alcácer do
Sal – e, a meio do
litoral, o rio Mira,
com Vila Nova de
Milfontes. Tudo o
resto, ou quase, é
um contínuo de costa
hostil à fundeação,
ressalvada, talvez a
angra de Arrifana,
talvez também
Odeceixe, o canal
entre a ilha do
Pessegueiro e a
costa e- esta sim –
a baía de Sines. O
rio Mira pode
dizer-se que corre
em sentido inverso
ao seu correr
natural. É que este
rio vale, enquanto
canal de navegação,
pela maré que lhe
penetra o leito até
à vila de Odemira.
De qualquer maneira,
forçando a imagem, a
embocadura do rio
Mira é um verdadeiro
oásis neste litoral
agreste. Que bem o
dizia o prior
responsável pelas
almas residentes em
Odemira, na
freguesia de São
Salvador, escrevendo
em 1758, “a costa do
mar desta vila de
Odemira é muito
áspera de rochedos,
que mal – em poucas
partes – admite,
ainda (que) no
Verão, algum pequeno
barco sua entrada”.
Pois bem, perigosa
ou não, que se
aventurava a navegar
para o norte, para
os abrigos do rio
Sado, do Tejo, do
Mondego, tinha aqui,
apesar de tudo, um
poiso, uma tábua de
salvação nesta foz
do rio Mira. E a
verdade é que na
Idade do ferro, na
época romana e pelos
tempos fora, esta
costa foi
constantemente
percorrida por
embarcações, de
início apenas por
gente do Mar
Mediterrâneo que,
nestes países
longínquos procurava
os lucros do
comércio. Buscavam
sobretudo metais,
com sabida
preferência pelo
estanho e pelos
metais preciosos,
como o ouro e a
prata. Traziam
produtos das suas
terras de origem
como aqueles que
fazem parte do
espólio encontrado à
beira do Mira, na
necrópole do Galeado,
datado da época do
ferro, atribuídos ao
século V, antes de
Cristo. A presença
romana está por sua
vez representada
pelos vestígios de
edifícios e pelos
numerosos fragmentos
cerâmicos
descobertos na
margem direita do
rio, pertencentes ao
século 1º depois de
Cristo, no local em
que fizeram assentar
a actual ponte. Para
além destes, um cepo
de âncora de chumbo
foi encontrado na
barra, enquanto
outro foi mesmo
descoberto no rio,
junto à vila de
Odemira, provando
assim a utilização
do antigo rio Mira
como via de
transporte fluvial.
Mais loquazes vão
ser os priores que
encabeçam as duas
freguesias em que se
reparte a vila, a de
Salvador e a de
Santa Maria. É a
resposta ao
inquérito ordenado
pelo Marquês de
Pombal, em relações
datadas de 1758. Diz
o segundo, o padre
Pereira (judeu
convertido), que o
rio Odemira tem, em
linha recta, um
comprimento de 15
léguas, entre a
serra de Almodôvar e
Vila Nova de
Milfontes. Só que,
com os meandros, com
os giros que faz,
acaba por percorrer
mais cinco léguas.
Que corre entre
serras, que de
ordinário sem rápido
movimento, e só o
fluxo e refluxo da
maré, maré esta que
alcança seis léguas
no interior. E é
aqui, parece, que o
padre Pereira
distingue neste
corredor de água a
ribeira de Odemira
(rio Odemira). É
ribeira desde a
serra aonde nasce
até à herdade da
Torrinha (local da
confluência do Corgo
da Mata – uma
pequena ribeira
confluente do rio
Odemira), limite
máximo da maré. A
partir daí, para
jusante, começa o
rio Odemira.
Advertindo, embora,
que de Inverno o rio
se torna mais
violento pelas
inundações de várias
ribeiras que em si
recolhe, declara o
prior que, quanto à
navegação, no correr
dessas seis léguas,
“nihil obstat” -
Não tem cachoeira ou
represa que lha
impeça. Acautela,
porém, quanto à
existência de
baixios que lhe
dificultam o navegar
em caso de maré
menos vigorosa.
Quanto ao porto da
vila de Odemira,
declara-o estar tal
qual como veio ao
mundo, sem
artifício, sem que a
mão do homem aí
tenha tido qualquer
intervenção, e de
grande capacidade:
“A ele chegam em
todo o tempo iates,
caravelas e barcos
ordinários e o têm
navegado embarcações
que alojam sté 200
moios de trigo” . Só
estas últimas
penetram o rio com
mais cautela, “com o
receio perigoso de
alguns baixios, que
em o mesmo rio há
perto desta vila”
(por esta razão o
pároco do Salvador
limita a navegação à
carga de 150 moios).
E, para complemento
viário, não se
esquece o padre de
recordar como em
Odemira passa uma
estrada real que
liga o Alentejo ao
“Reino do Algarve”,
e que para cruzar o
rio existe uma
barca, com passagem
franca a qualquer
hora do dia ou da
noite. Visto o rio
do lado da vila de
Odemira, não se
deixe de ter em
conta um factor
determinante para
que a sua navegação
possa fazer-se: a
acessibilidade da
barca, onde se situa
a Vila Nova de
Milfontes. Ainda
que, como se viu, o
sítio tenha sido
habitado,
nomeadamente na
época romana, a
verdade é que a
povoação de
Milfontes só será
criada tardiamente,
por carta régia de
D. João ll, em 1486.
Região pouco
povoada,
agricolamente pobre,
não atrairia a
instalação de
populações na barra
do rio Mira. É certo
que o
desenvolvimento da
navegação através do
rio permitia criar
na sua foz condições
económicas para que
aí se fizesse a
radicação de um
núcleo populacional.
No entanto a
insegurança do
minava e iria
dominar durante
séculos os centros
populacionais
estabelecidos no
litoral, dados os
riscos consabidos
que para eles advêm.
São numerosíssimos
os testemunhos que,
desde a Alta Idade
Média até ao início
do séculos XlX,
referem a pilhagens
e os raptos de
pessoas por navios
piratas, navios
corsários ou navios
de guerra que
frequentam a costa
portuguesa. Desde a
passagem dos
normandos, entre os
séculos lX e Xl, até
aos piratas turcos e
argelinos, passando
por franceses e
ingleses, quando não
mesmo piratas da
ocasião, piratas
desta mesma casa. A
carta de fundação de
Milfontes, de 1486,
vem logo acompanhada
de uma carta de
couto para
homiziados na
tentativa de fixar
no local uma
população mais ou
menos estável que
permitisse dar
continuidade ao
povoamento. No
entanto, de acordo
com António Martins
Quaresma, “o
privilégio do couto,
apesar de
inicialmente ter
atraído alguns
povoadores, não
teria alcançado os
efeitos pretendidos,
já pela precariedade
da permanência dos
homiziados, já pelo
reduzido número de
inscritos”. A
construção do Forte
de São Clemente, na
margem direita da
foz do rio, entre
1599 e 1602, vem a
rebate, sucede
justamente uma
dezena de anos após
um assalto do
corsário argelino
Murate Arrais, cerca
de 1590. Aliás, como
salienta o
engenheiro Massay,
próximo de
Milfontes, no sítio
do actual porto do
Canal, havia uma
fonte onde os
piratas costumavam
fazer aguada
(abastecimento de
água para sua
embarcações). Quanto
ao episódio
protagonizado pelo
capitão Murate,
conta Massay Ter ele
chegado com quatro
galés reais e ter
entrado a barra.
Desembarcando,
cercou a igreja,
onde se encontrava
reunida toda a
população da vila,
pois era dia santo.
Cativados os
habitantes, “deitou
o turco fogo à
igreja, às três
dezenas de casas que
existiam e aos
cultivos, os trigos,
destruindo também as
vinhas”. Como se não
bastasse a constante
insegurança, a
própria barra é
difícil e torna-se
infranqueável
durante boa parte do
ano. A costa do mar
é brava, escreve o
prior de Milfontes,
“e a barra do seu
rio, que dista desta
vila pouco mais de
um tiro de mosquete,
por conta da braveza
da costa, muitas
vezes não permite
navegação”. Apesar
das tentativas,
ainda na primeira
metade de século XX,
de fazer-se desta
foz um porto com
condições de
atracagem, Milfontes
ficou-se pelo
portinho de sempre e
deu-se de vez à sua
vocação turística.
De clima ameno,
sobretudo junto à
sua extensa orla
marítima, e com
terrenos de
configuração
variada, umas vezes
serranos, outras de
olanura, Odemira
apresenta belas e
contrastantes
paisagens em que
sempre abunda a
vegetação.
Além da tradicional
culinária
alentejana, usada em
todo o concelho,
abundam na costa os
pratos de peixe e
marisco, como sejam
o sargo e a lagosta
suada, autênticas
especialidades. As
praias, quase todas
ligadas por boas
estradas, sucedem-se
desde o limite do
concelho de Sines
até à foz do rio
Deixe, no Algarve,
destacando-se as de
Vila Nova de
Milfontes, que têm
excelentes condições
para a prática de
desportos náuticos e
se situam na
desembocadura do rio
Mira, tendo como
cenário a vila
embutida na margem
direita e embelezada
pelo seu airoso
castelo. Zambujeira,
Almograve e Odeceixe
são outras praias
convidativas pela
sua beleza natural,
alcantilados
rochedos e areia
fina. No interior,
na freguesia que lhe
dá o nome,
depara-se nos a
Barragem de Santa
Clara – a - Velha ,
com a sua majestosa
albufeira de margens
arborizadas,
magnífico local de
repouso. No centro
do concelho, bem
tratada, salpicada
de parques e jardins
e banhada pelas
águas ansas do rio
Mira, encontra-se a
vila de Odemira,
cujo nome tem
reminiscências
árabes. Aqui, tal
como em São
Teotónio, Almocreve,
Zambujeira e Vila
Nova de Milfontes,
existem instalações
que permitem ao
visitante demorar-se
na apreciação de
quanto este concelho
lhe oferece. Sendo
Odemira vila muito
antiga, não se
conhece a sua
origem. Os numerosos
vestígios de
culturas anteriores
à romanização e os
testemunhos de
culturas posteriores
atestam a sua
antiguidade. A sua
localização, a
dominar a via de
comunicações que é o
rio Mira, fez desta
vila um ponto
estratégico valioso,
e por isso a sua
posse foi desejada
pelos vários povos
que nesta região
viveram. Conquistada
aos mouros por D.
Afonso Henriques em
1166, obteve o seu
primeiro foral de D.
Afonso lll, em 1256.
Mais tarde, D.
Manuel l deu-lhe
novo foral em 1510.
Sede administrativa
de um vasto concelho
com inúmeras
potencialidades
económicas, variado
na geografia e nos
diferentes panoramas
que apresenta, com
múltiplas culturas
agrícolas e
intensamente
florestado, Odemira
é o centro de uma
região diferente
neste Alentejo do
Sul e detém a única
costa marítima de
que ele dispõe. Nos
areais das sua
praias e nas
escarpas rochosas da
sua costa de
admiráveis recortes
há uma variedade de
panorâmicas dignas
de apreciação. A
beleza rude do cabo
Sardão, a
tranquilidade da
praia do Almograve,
o anfiteatro que é a
praia da Zambujeira,
as praias, fluvial e
marítima, de Vila
Nova de Milfontes,
são aliciantes que
trazem ao concelho
de Odemira um sem –
número de
visitantes. Com o
seu miradouro, o
Parque das Águas, a
3 Km da vila, é mais
um local onde se
pode apreciar a
beleza deste
Alentejo diferente.
Vive este concelho,
principalmente, da
actividade agrícola
e pecuária (cereais,
legumes, gados,
madeiras, cortiças,
frutas e aguardente
de medronho), mas
também possui
indústrias de
concentrado de
tomate e cerâmicas,
assim como de pesca
O concelho de
Odemira, com os seus
1.727 Km2 de área, é
o maior de Portugal.
Constituem-no
freguesias como as
duas sedes (Salvador
e Santa Maria) e
Colos, Relíquias,
Sabóia, São Martinho
das Amoreiras, São
Teotónio, Vale de
Santiago e Vila Nova
de Milfontes.
VILA NOVA DE
MILFONTES: “Quando
el-rei, D. Manuel l
deu foral a esta
vila, chamava-se e,
“Mil Fontes”; D.
Manuel l lhe deu o
título de Vila Nova,
talvez pelo facto de
a repovoar – e desde
então se denomina
“Vila Nova de
Milfontes” – nome
que alguns
estudiosos julgam
muito apropriado,
nomeadamente João
Maria Baptista, na
sua “Corografia
Moderna” , pois
falando desta vila
diz o seguinte: “De
águas tão abundantes
que deve o seu nome
às muitas fontes que
brotam na vila e
seus arredores”.
Saibam, porém, os
leitores que nesta
vila não há uma
única fonte ! Toda a
sua água se reduz a
três poços !”.
Não é. Pois, da água
que brota na vila
que lhe provém o
nome de “Vila Nova
de Mil Fontes”, mas
dos muitos arroios
que nas suas
vizinhanças, ao
longo da costa, se
dirigem da terra
para o mar, sendo
magnífica e até
medicinal a água de
muitos deles; mas o
meu ilustrado amigo,
o comendador e Dr.
Abel da Silva
Ribeiro, que possui
aqui propriedades e
que tem feito largos
estudos e profundas
investigações com
relação a esta
paróquia, diz a
seguinte: “Suponho
que o nome de “Mil
Fontes” provém do de
“mellis fons”, com
que os romanos
designavam o terreno
que circundava
aquela povoação, por
ser abundantíssimo
de mel de superior
qualidade em razão
das plantas
aromáticas de que
era extraído. Ainda
hoje o mel daqueles
sítios é muito
estimado pelo seu
delicado sabor”. (
Dr. Pinho Leal –
1886).
“Vila Nova de Mil
Fontes” – nome de
uma vila no Baixo
Alentejo. Aqui mil é
designação de
pluralidade
indefinida; cfr. Os
Textos Arcaicos, 3ª
edição, p. 156. É
curioso que na
Descripção do aro de
Lamego, de Rui
Fernandes, do século
XVL, nos Inéditos de
Hist. Portug., este
autor referindo-se
às muitas fontes que
eram cinco mil: t.v.
p. 560 – Por Vila
Nova de Mil Fontes
há, de facto,
chamadas, algumas,
por exemplo: O
Canal, Bico da
Areia, Fonte de
Joaquim da Silva,
Fontes Férreas (a
água cai d’ alto),
Fonte do Bosque da
Vila Formosa
(herdade), etc., e
inúmeras outras sem
nome próprio. Tudo
isto na costa do mar
– O povo, em vez de
dizer Vila Nova de
Mil Fontes, forma
oficial, diz apenas
Mil Fontes, que de
certo foi a forma
primitiva. (Cfr. Mil
Floris, nome de um
casal em Soure; e
também Quinta de Mil
Fontes, em Lisboa e
em Camarate”. (Dr.
José Leite de
Vasconcelos – 1932).
Vila Nova de Mil
Fontes, é uma vila
piscatória debruçada
sobre o mar, onde se
encontra um forte
(hoje estalagem
nacional), cuja data
de construção
permanece obscura.
Segundo o Prof.
Damião Góis, terá
sido erguido em 1552
sobre uma
fortificação já em
ruínas. Ao longo dos
tempos, os grupos de
piratas, sobretudo
berberes, aumentaram
e tornaram-se tão
poderosos que
conquistaram cidades
e territórios
europeus. Bem
situado e
constituindo um
excelente acesso
para Odemira, o
porto de Milfontes
era um dos seus
alvos preferidos.
Nele desembarcaram
muitas vezes e
atacavam a povoação.
Aconteceu durante o
reinado de D. João
ll um violento
ataque de pirataria,
que fez com que o
rei se ocupasse da
construção ou
reconstrução do
forte de Milfontes.
Alguns homens foram
feitos prisioneiros
e levados para
Argel, sendo
libertados já no
reinado de D. João
lV. Foi, aliás, este
monarca quem
aperfeiçoou e
aumentou o carácter
defensivo do forte.
Quando a pirataria
se extinguiu, o
forte foi
abandonado.
Debruçado sobre a
foz do rio Mira, o
forte é hoje
propriedade privada.
Está coberto de
heras e rodeado de
flores, não
escondendo, porém, a
vocação militar que
ainda está latente
na ponte levadiça e
nas canhoeiras.
Não muito longe de
Odemira, fica
OURIQUE.
Os concelhos de
Odemira e Ourique
situam-se, tal como
os de Almodôvar e
Mértola, na zona de
transição Alentejo –
Algarve, e, por
isso, são notórias
na sua parte sul a
semelhança
geográfica com o
Algarve e a
afinidade de usos e
costumes das suas
populações com os
seus vizinhos. Estes
dois concelhos
conservam na parte
norte as
características do
Alentejo, mais plano
e mais árido,
enquanto a sul, em
perfeito contraste,
os terrenos se
apresentam ondulados
e com abundante
vegetação,
características que
se acentuam à medida
que nos aproximamos
da serra de
Monchique. Também
aqui se encontra uma
flora natural
caracteristicamente
serrana, exemplo da
qual é o
medronheiro, cujo
fruto é
artesanalmente
destilado para
obtenção da
apreciada aguardente
de medronho. Na sua
orla marítima, o
concelho de Odemira
desfruta de um clima
ameno, com reflexos
benéficos nos seus
prados, culturas e
arborização.
ORIGEM do NOME:
“Segundo se vê nos
Vestígios da Língua
Arábica, obra
interessante de Frei
João de Sousa, vem
do árabe Orique (ou
Orik). Pinho Leal,
que sabia tanto de
árabe como eu,
depois de citar a
Évora Gloriosa, que
dá como etimologia
de OURIQUE o ouro
proveniente das
minas auríferas que
abundavam (?) no
Campo d’ Ourique diz
que Ourique vem de
Orik , nome que os
árabes deram ao dito
campo depois da
batalha. Orik, é
palavra árabe e
significa
infortúnio,
adversidade,
desgraça, etc.
Desbancou o sábio
arabista Sousa e
conclue dizendo –
“Não se sabe o nome
de Ourique teve
antes da grande
batalha”. Herculano
também diz, ou
parece dizer, que os
árabes denominavam o
dito campo Orik. Na
minha opinião
“OURIQUE” é vocábulo
godo, não árabe, e
vem de Honoriquizi
ou Honoriquizi,
patronímico de
Honoricus, “ i “,
nome pessoal
germânico, na idade
média vulgar entre
nós, que deu OURIQUE
no Alentejo, em
Lisboa, Penela,
Formoselha ou
Montemor – o –
Velho.
Deu também Honorgio,
antigo nome pessoal,
Origo, aldeia, -
Ourigo, nome, dum
sítio da praia da
Foz, - Oriz, nome de
várias povoações, e
freguesias nossas. –
Adrigo, povoação e
freguesia do Alto
Douro, - e Adourigo,
povoação nossa
também”. (Dr. Pedro
Augusto Ferreira –
1907).
“É a forma moçárabe
do visigodo Auricus.
David Lopes
escreveu: “Ourique,
provavelmente, é o
nome germânico
Auricus arabizado, e
por isso
imobilizado, nessa
forma”. Noutros
topónimos
portugueses – Origo,
Oriz, Ourigo, ouril,
Ourilhe e Ourilho –
parece haver um
elemento inicial
proveniente duma
raíz comum, o que
permitirá aproximar
morfologicamente
todos estes nomes”.
(Dr. Xavier
Fernandes – 1944).
Ourique é povoação
muito antiga, mas
ignora-se por quem
foi fundada. Por
todo este concelho
são abundantes e
muito expressivos os
vestígios pré –
históricos, entre os
quais se contam,
para além de
dólmenes e
monumentos de falsa
cúpula, a Necrópole
da Atalaia
(monumento invulgar
e grandioso do final
da época do Bronze)
e o Castro da Cola.
Neste castro,
intimamente ligado
às lutas lusitano –
romanas, estão
sedimentadas as
várias culturas
sucessivas e provada
a sua ocupação até
ao tempo dos nossos
primeiros reis. A
construção do
Castelo de Orik
pelos invasores
árabes da Península
não anulou o Castro
da
Cola, pois este,
junto da ribeira do
Marchicão e próximo
do rio Mira, estava
em boa situação
estratégica. É tido
como certo que D.
Afonso Henriques
ouviu missa na Cola,
quando de uma
incursão por estas
terras. A Batalha de
Ourique (no reinado
de D. Afonso
Henriques), cujo
local exacto é
motivo de algumas
discordâncias,
deu-se nos campos de
Ourique, que se
situam, logicamente,
numa área que tem
Ourique por centro.
Que a batalha fosse
travada no castelo
árabe de Orik ou em
campo raso dos
arredores é pormenor
que não tira a esta
região, circunscrita
a Ourique, a glória
de nela se ter
infligido uma pesada
derrota às tropas
árabes. D. Sancho l
doou a vila em 1265
à Ordem do Santo
Sepulcro, e D. Dinis
deu-lhe foral em
1290. O brasão de
Ourique, com um
guerreiro a cavalo,
de armadura e
empunhando uma
espada, é alusão
clara à luta pela
reconquista cristã
do Sul de Portugal.
O concelho de
Ourique, tendo a
agro – pecuária como
actividade
dominante, já saiu
do isolamento a que
esteve votado
durante muitos anos
e avança no sentido
do progresso. Para
isso muito
contribuiu a nova
estrada de
penetração para o
centro do Algarve,
que, facilitando e
encurtando as
comunicações,
assegurou um intenso
tráfego de pessoas e
de mercadorias que
passa
obrigatoriamente por
Ourique. As
Barragens do Monte
da Rocha e de Santa
Clara (esta no
concelho de Odemira,
mas cujo refolgo
atinge o de Ourique)
deram a esta região
uma nova panorâmica,
com aprazíveis
recantos de contacto
directo com a
Natureza. A vila de
Ourique,
espraiando-se pelas
suas três colinas,
de Nossa Senhora do
Castelo, Nossa
Senhora do Castelo,
Nossa Senhora do
Carmo e São Luís,
com o ar fresco e
lavado do casario
branco encimado por
um cuidado
miradouro,
destaca-se da
paisagem
circundante,
limitada pelas
serras do Alferce e
de Monchique. O
edifício do século
XVll onde está
instalado os
Hospital da
Misericórdia, tem
portas e janelas de
cantaria lavrada e
inscrições da época,
merece observação
atenta. Os
ouriquenses não
perdem ocasião de
citar, entre seus
filhos ilustres,
Frei Amador Arrais,
que foi bispo de
Portalegre e autor
dos Diálogos ,
portanto figura
proeminente não só
da hierarquia da
Igreja, como da
literatura
portuguesa.
CASTELO DE ODEMIRA
Antecedentes
Embora as
informações a seu
respeito sejam
escassas,
acredita-se que a
primitiva ocupação
de seu sítio remonta
a um "oppidum"
romano,
posteriormente
ocupado por
Visigodos e por
Muçulmanos, que
terão erguido uma
fortificação.
O castelo medieval
À época da
Reconquista cristã
da península
Ibérica, a povoação
terá sido tomada aos
mouros em 1166,
pelas forças de D.
Afonso Henriques
(1112-1185).Sob o
reinado de D. Afonso
III (1248-1279), a
vila recebeu Carta
de Foral (1256),
procedendo-se a
reconstrução de sua
defesa (1265).
Quando do reinado de
D. Dinis os domínios
da povoação e seu
castelo foram doados
ao bispo do Porto
(1319). Data deste
período a construção
de uma nova cerca
para a vila. Ainda
em seu reinado, ou
no de seu filho e
sucessor, D. Afonso
IV (1325-1357), os
domínios da vila e
seu termo foram
doados ao almirante
genovês Manuel
Pessanha (Emmanuele
di Pezagna) e seus
descendentes. Este
navegador,
contratado por D.
Dinis como almirante
para organizar a
marinha portuguesa e
combater a
pirataria, foi o
autor da primeira
viagem documentada
às ilhas Canárias a
mando da Coroa
portuguesa (1341).
D. Manuel I deu
Foral Novo à
povoação em 1510.
A vila foi alçada à
condição de condado
sob o reinado de D.
Duarte (1433-1438),
sendo 1° conde de
Odemira, D. Sancho
de Noronha, casado
com D. Mécia de
Sousa. Este
privilégio
manteve-se na
família até ao
reinado de D. João
IV (1640-1656),
quando estes
domínios foram
doados a D.
Francisco de Faro e
Noronha.
Posteriormente, D.
Pedro II
(1667-1706), doou
estes domínios ao 1°
duque do Cadaval.
Os nossos dias
Restam poucos
vestígios do castelo
e da muralha da vila
medievais, além do
troço mais visível,
onde assenta a
Biblioteca
Municipal. Esses
remanescentes
encontram-se
actualmente Em Vias
de Classificação
pelo poder público
português.
Ourique –
Concelho do Distrito
de Beja

É povoação muito
antiga, mas
ignora-se por quem
foi fundada. Por
todo este concelho
são abundantes e
muito expressivos os
vestígios
pré-históricos,
entre os quais se
contam, pra além de
dólmenes e
monumentos de falsa
cúpula, a Necrópole
da Atalaia
(monumento invulgar
e grandioso do final
da época do Bronze)
e o Castro da Cola.
Neste castro,
intimamente ligado
às lutas
lusitano-romanas,
estão sedimentadas
as várias culturas
sucessivas e provada
a sua ocupação até
ao tempo dos nossos
primeiros reis. A
construção do
Castelo de Orik
pelos invasores
árabes da Península
não anulou o Castro
da Cola, pois este,
junto da ribeira do
Marchicão e próximo
do rio Mira, estava
em boa situação
estratégica. É tido
como certo que D.
Afonso Henriques
ouviu missa na Cola,
quando de uma
incursão por estas
terras.
A Batalha de
Ourique, cujo local
exacto é motivo de
algumas
discordâncias,
deu-se nos campos de
Ourique, que se
situam, logicamente,
numa área que tem
Ourique por centro.
Que a batalha fosse
travada no castelo
árabe de Orik ou em
campo raso dos
arredores é pormenor
que não tira a esta
região, circunscrita
a Ourique, a glória
de nela se ter
infligido uma pesada
derrota às tropas
muçulmanas.
S. Sancho ll doou a
vila em 1265 à Ordem
do Santo Sepulcro, e
D. Dinis deu-lhe
foral em 1290.
O brasão de Ourique,
com um guerreiro a
cavalo, de armadura
e empunhando uma
espada, é alusão
clara à luta pela
Reconquista cristã
do Sul do
território.
Opiniões sobre a
origem do nome:
«Pedro Augusto
Ferreira – Tentativa
Etimológica
Toponímica (1907):
“Segundo se vê nos
Vestígios da Língua
Arábica, obra
interessante de Fr.
João de Sousa, vem
do árabe Orique.
Pinho Leal, que
sabia tanto de árabe
como eu, depois de
citar a Évora
Gloriosa, que dá
como etimologia de
Ourique o ouro
proveniente das
minas que abundavam
(‘) no Campo
d’Ourique diz que
Ourique vem de Orik,
nome que os árabes
deram ao dito campo
depois da batalha, -
o que Orik é palavra
árabe e significa
infortúnio,
adversidade,
desgraça, etc.
Desbancou o sábio
arabista Sousa e
conclui dizendo -
«não se sabe o nome
que Ourique teve
antes da grande
batalha».
Herculano também
diz, ou parece
dizer, que os árabes
denominavam o dito
campo Orik.
Na minha opinião
Ourique é vocábulo
godo, não árabe, e
vem de Honoriqui ou
Honoriquizi,
patronímico de
Honoricus, i, nome
pessoal germânico,
na Idade Média
vulgar entre nós,
que deu Ourique no
Alentejo, em Lisboa,
Penela, Formoselha
ou Montemor-o-Novo.
Deu também Honorgio,
antigo nome pessoal,
Origo, aldeia –
Ourigo, nome dum
sítio da praia da
Foz, - Oriz, nome de
várias povoações,
freguesias nossas. –Adrigo,
povoação e freguesia
do Alto Douro, -
Adourigo, povoação
nossa também”.
«Xavier Fernandes em
Topónimos e
Gentílicos (1944):
“É forma moçárabe do
visigodo Auricus.
David Lopes
escreveu: «Ourique,
provavelmente, é o
nome germânico
Auricus arabizado, e
por isso
imobilizado, nessa
forma». Noutros
topónimos
portugueses – Origo,
Oriz, Ourigo, Ouril,
Ourilhe e Ourilbo –
parece haver um
elemento inicial
proveniente duma
raiz comum, o que
permitirá aproximar
morfologicamente
todos este nomes”.
Serpa –
Concelho do Distrito de
Beja

Povoação muito
antiga, foi
integrada na Coroa
Portuguesa, em 1295,
após ter pertencido
ao padroado do
infante de Serpa D.
Fernando, irmão de
D. Sancho ll.
Povoação cuja
fundação se perde na
noite dos tempos.
Serpa tem revelado
uma ocupação humana
que remonta à
Pré-Histórica. Já
está perfeitamente
documentada como
aglomerado humano e
importante
entroncamento de
vias durante a época
romana.
Só em 1295 passou a
fazer parte do Reino
de Portugal, mudando
Antão o nome árabe
de Sheberina para o
de Serpa.
Posteriormente, foi
pomo de discórdia
entre portugueses e
castelhanos, tendo a
última ocupação
espanhola ocorrido
em 1707, por
conquista do duque
de Ossuna, o qual,
quando foi obrigado
a retirar-se, fez
explodir o castelo,
a fim de mais
facilmente poder vir
a reocupá-lo, o que
não aconteceu. Ainda
hoje se podem
observar os estragos
que este duque
ocasionou na
muralha. Da
primitiva
fortificação só
restam, aliás, a
torre do relógio
(antiga torre de
menagem) e alguns
troços da muralha,
do tempo de D.
Dinis. Junto desta
encontra-se o
Palácio dos
Marqueses de ficalho
(família Melo), do
século XVll, mandado
construir pelo bispo
da Guarda, D. Martim
Afonso de Melo,
natural de Serpa. O
edifício, em
perfeito estado de
conservação e
mobilado ao estilo
da época, merece uma
visita. Serpa está
rodeada de pequenas
ermidas, algumas em
estilo gótico
alentejano muito
simples, e possui
também a Igreja
Matriz em estilo
gótico.
«Da Tradição – Notas
Históricas acerca de
Serpa, do Conde de
Ficalho (1900): “É
Sheberina ou
Cheberina
identifica-se
satisfatoriamente
com Serpa. A tomada
de Serpa, segundo os
documentos cristãos,
concorda plenamente
com a Chebrina,
segundo os árabes; e
os dois nomes não
são tão diversos
como à primeira
vista poderia
parecer (*) “ (*)A
palavra Serpa,
adoptada pelo árabes
dava naturalmente
Cherba: primeiro
porque o “s” inicial
é frequentes vezes
representada pelo “chin”,
como em “Chantarem”
Santarém, em
“Chant-iacub” de
Sant’Iago; segundo,
porque o “p” medial
falta no alfabeto
árabe e é
substituído pelo
“b”. De Cherba
teríamos Chebra por
uma simples
transposição de
consoantes, habitual
entre os mouros
pouco letrados …
Nos tempos antigos,
a palavra tomava
muitas vezes entre
cristãos a forma
Serpia, que
encontramos, por
exemplo na inscrição
do Marmeral do
princípio do século
XVL e em vários
documentos
anteriores; e esta
forma daria em árabe
– Chebria. Indicamos
apenas as
semelhanças,
deixando aos
arabistas o cuidado
de resolverem
cientificamente este
ponto”.
Serpa
Sem mergulhar
demasiado nas
origens da antiga
organização
administrativa do
concelho, refira-se
que a documentação
escrita só nos
finais do século
XIII consagra a área
do termo. Assim, em
1281, quando Serpa e
todas as terras da
Margem Esquerda do
Guadiana estavam
ainda sob domínio de
Castela, Afonso X
estabeleceu a
demarcação do
concelho, para
melhor se povoar, e
atribuiu-lhe o
primeiro foral, o de
Sevilha.
Ao fim de um século
de peripécias
militares e
diplomáticas, com a
Reconquista cristã
do Alentejo, Serpa
recebe de D. Dinis,
em 1295, nova carta
de foral.
Do ponto de vista
económico, as
disposições do
documento indicam
que a pastorícia e a
agricultura eram as
actividades
fundamentais. Quanto
ao comércio, era o
pão e o vinho, os
panos de lã e linho,
o pescado... e o
mouro vendido em
mercado.
O foral dionisino
revela ainda uma
sociedade em
reorganização, onde
é grande a tensão
social e política.
Vejam-se as penas
que oneravam as
violações, o roubo
de objectos e de
terras e até as
dificuldades na
travessia de barco
do Guadiana, de uma
para a outra margem.
Mas nem só a
travessia do
Guadiana era
vigiada. Os caminhos
também não eram
seguros e o foral
pretende garantir a
protecção da
actividade
mercantil, em
particular a
movimentação de
mercadores, judeus,
cristãos ou mouros.
Outra ideia que se
retira do foral de
D. Dinis é a da
estrutura social
vigente,
profundamente
desigual. Mesmo
aqueles que tinham
direitos políticos,
os vizinhos do
concelho, estavam
divididos pelos bens
em cavaleiros e
peões. Pouco a
pouco, mesmo entre
os vizinhos, começa
a definir-se o grupo
mais poderoso dos
homens bons e, mais
tarde, ainda nestes,
os homens honrados
de boa fazenda. Na
base social, sem
direitos políticos,
ficavam os
mesquinhos, os
mancebos, os
solarengos e
escravos. Os
diferentes níveis
sociais não eram,
evidentemente,
estanques e
regista-se mesmo uma
intensa mobilidade
social.
Do ponto de vista da
organização
administrativa e
judicial, o concelho
era dirigido por
dois juizes, eleitos
na assembleia dos
vizinhos, sendo
depois a eleição
ratificada pelo rei.
Mas uma disposição
do foral proíbe que
o gentile, ou seja,
o estrangeiro ou
pagão, possa exercer
o cargo.
Em 1513, Serpa
recebe foral de D.
Manuel que, antes de
ser rei, tinha sido
senhor de Serpa.
Este foral pouco
fala da organização
e da actividade
política e social do
concelho. Insiste
principalmente na
carga fiscal. De
qualquer modo, a
leitura do foral
manuelino sugere que
Serpa era, no início
do século XVI, um
povoado florescente
onde persistia a
pastorícia como
actividade de grande
relevância mas em
que o artesanato e a
actividade comercial
atingem um alto
desenvolvimento.
Vale a pena
determo-nos sobre a
actividade artesanal
dos habitantes do
concelho.
Fabricavam-se
pelicos, mantas,
material de
empreita, materiais
de ferro,
ferramentas. O
monarca isentava de
tributo as matérias
primas usadas na
actividade
artesanal. A lista
de produtos
transaccionados é
impressionante e se
já não há mouros da
Reconquista a vender
no mercado não
faltam os novos
escravos,
marroquinos e do
Sára e
principalmente da
África negra.
Serpa era, no século
de D. Manuel, um dos
mais importantes
portos secos do
reino. Escrevia um
autor espanhol da
época que de Castela
para Portugal
existiam então duas
estradas principais:
uma vinha de
Salamanca para
Cáceres e daí para
Évora e Lisboa; a
outra, partia de
Sevilha e por Serpa
e Beja seguia também
para Lisboa.
A propósito do foral
manuelino refira-se
que em meados do
século XVI o
Alentejo concentrava
o maior número de
centros urbanos do
país, com uma
intensa actividade
artesanal e
mercantil, e era, a
nível nacional, a
província que mais
contribuía, com 27%,
para as receitas do
Estado.
Nesse quadro, Serpa
apresentava-se, na
centúria de
Quinhentos, como uma
das mais importantes
vilas do Alentejo e
do próprio reino,
cujo desenvolvimento
assentava na
agricultura dos
cereais e do gado
mas também no
artesanato poderoso,
voltado para o
comércio, e numa
aliança muito
estreita com o rei.
No século seguinte,
Serpa quase duplica
a sua população, o
que está de acordo
com a evolução geral
do país. De facto,
nos séculos XVI e
XVII, as terras de
fronteira, o
interior, estão
muito longe da
desertificação pois
a fronteira não
trava ainda as
ligações entre
Portugal e Espanha.
Em 1674, o príncipe
regente, futuro rei
D. Pedro II, confere
à vila o título e os
privilégios de "Vila
Notável",
justificados pelo
número de moradores
– mais de mil e
quinhentos -, pela
nobreza das gentes,
saindo dela muitos
homens insignes,
tanto nas letras
como nas armas, e
pela posição militar
estratégica que
ocupava, junto à
linha de fronteira,
em ocasiões de
guerra.
Esta última
situação, aliás, fez
com que o concelho
fosse
particularmente
afectado pela
insegurança e as
destruições
provocadas
progressivamente
pelas guerras da
Restauração de
1640/48, a guerra da
Sucessão de Espanha,
entre 1703 e 1713, e
as invasões
napoleónicas, em
1801 e 1814.
Em meados do século
XVIII, o concelho
perde preponderância
militar e, ao
contrário do resto
do país, a sua
população não
aumenta, talvez
pelas inúmeras
situações de crise
registadas devido a
maus anos agrícolas.
No final da centúria
de Setecentos o
concelho está mais
próximo do século
XVII do que do
século XIX. O antigo
regime económico
mantém-se e com ele
as desigualdades
sociais. As terras
férteis do concelho
estão nas mãos dos
grandes
proprietários, que
controlam a vida
municipal, e
constitui-se uma
massa crescente de
camponeses sujeitos
a crises cíclicas de
trabalho e a uma
situação de
subsistência
miserável.
No dealbar do Século
das Luzes, o país,
em geral, e Serpa e
a sua região, em
particular, estão
muito longe da "Luz"
que tanto referem os
homens desse tempo.
Ironicamente, um
deles, o Abade
Correia da Serra,
nasceu em Serpa, em
1751.
Nos séculos
seguintes ter-se-á
verificado uma
concentração cada
vez maior das
propriedades nas
mãos dos grandes
senhores, que, salvo
raras excepções,
aplicam os seus
lucros fora da
região.
Durante a segunda
metade do século XIX,
a multiplicação dos
desbravamentos, não
só das terras boas
mas também das
terras improdutivas,
a que chamavam
galegas, e depois,
nos anos 30 e 40 do
século XX, a célebre
Campanha do Trigo,
que estendeu a sua
cultura mesmo às
vastas regiões de
xisto, tiveram
consequências
desastrosas.
Desequilibraram o
frágil sistema
produtivo baseado na
complementaridade da
pecuária com as
actividades
recolectoras e com o
cultivo intenso das
hortas e não
resolveram o
problema de uma
economia que servia
os interesses de
quem vivia fora do
Alentejo. Talvez
resida aqui a
verdadeira dimensão
do isolamento que
afecta a região.
Vidigueira
–
Concelho
e
Distrito
de Beja

Recebeu
o
seu
primeiro
foral
em 1
de
Junho
de
1512,
concedido
por
D.
Manuel
l.
Numa
pequena
monografia
local,
assinada
por
J.
J.
Lampreia
de
Gusmão
e
publicada
em
1924,
lê-se
que
a
actual
Vidigueira
era
a
Vitigeria
do
tempo
dos
romanos,
muito
anterior
à
fundação
da
monarquia
portuguesa.
Vilhena
Barbosa,
na
sua
obra
Cidades
e
Vilas,
escreveu
textualmente:
“O
seu
brasão
é um
castelo
enlaçado
com
uma
vide.
Alude
este
brasão,
ao
castelo
da
vila
e às
muitas
vinhas,
que
seu
território
outrora
continha.
Dizem
que
desta
circunstância
tirou
a
vila
o
seu
primeiro
nome
de
Videira,
que
depois
se
trocou
no
de
Vidigueira”.
Leite
de
Vasconcelos,
porém,
não
hesitou
em
manifestar-se
sobre
este
assunto
de
maneira
que
merece
a
pena
transcrever:
« De
certo
quem
imaginou
o
brasão,
relacionou
com
vide,
mas
falsamente,
como
falso
é
que
Vidigueira
venha
de
Videira.
Em
primeiro
lugar,
Vidigueira
repete-se
várias
vezes
no
onomástico
(distritos
de
Évora,
Aveiro
e
Porto).
Em
segundo
lugar,
correlacionam-se
com
tal
palavra
as
seguintes:
Vidigal
(muito
repetida
nas
Beira,
etc);
o
seu
plural
Vidigais
(distrito
de
Lisboa)
e o
seu
diminutivo
Vidigalinho
(distrito
de
Évora);
e
além
disso,
o
aumentativo
real
ou
aparente
Vidigão
(Alentejo
e
Estremadura).
Vidigueira
O
Concelho
de
Vidigueira
situa-se
no
extremo
norte
do
Baixo
Alentejo
e é
atravessado
por
um
dos
eixos
rodoviários
nacionais,
o
IP2.
O
Município
compreende
4
freguesias
(Pedrógão,
Selmes,
Vidigueira
e
Vila
de
Frades).
Em
termos
demográficos,
a
população,
em
1991
era
constituída
por
6305
residentes
numa
área
de
314.199Km2.
A
vila
de
Vidigueira
é a
sede
do
município
e
registava
nesse
mesmo
ano,
uma
população
de
2865
residentes.
A
variação
da
população
residente
entre
1960
e
1991
foi
de -
40%.
A
economia
municipal
assenta
na
agro-pecuária,
silvicultura
e
industria
alimentar,
destacando-se
ainda
o
papel
da
administração
local.
De
salientar,
que,
a
vinha
é
uma
cultura
importante
que
contribui
para
que
este
concelho
se
encontre
integrado
numa
Denominação
de
origem
de
produção
de
vinhos
de
qualidade.
No
concelho
de
Vidigueira
existem
espaços
e
paisagens
muito
diferenciados
que
o
convidamos
a
percorrer
e
descobrir.
Entre
Vila
de
Frades
e a
Vidigueira
estamos
perante
a
zona
dos
pomares,
hortas
e
das
vinhas
que
tanto
afamam
o
concelho;
na
direcção
de
Selmes
e
Pedrógão
sentimos
o
Alentejo
das
grandes
extensões,
aqui,
o
cereal
reina,
por
fim
o
vale
do
Guadiana,
simultaneamente
agreste
e
calmo,
povoado
de
pequenas
azenhas.
O
Mendro
apresenta-se-nos
como
uma
silhueta
no
horizonte.
Os
principais
pólos
de
atracção
turística
deste
concelho
resultam
da
existência
de
património
monumental,
actividades
de
caça
e
pesca,
piscinas
e
artesanato
regional.
No
artesanato
predomina
a
azulejaria,
as
peças
em
barro
e em
madeira,
destinadas
à
decoração.
A
doçaria
é
óptima
e
muito
procurada,
destacam-se
sobretudo
os
doces
conventuais,
barriga
de
freira,
bolo
de
torresmos,
bolo
de
requeijão,
bolo
de
bolota,
biscoitos
e os
famosos
bolos
folhados.
A
gastronomia
é
simples
e
muito
saborosa,
nesta
região
podemo-nos
deliciar
com
as
famosas
açordas,
as
migas,
a
sopa
de
cação,
o
ensopado
de
borrego,
os
enchidos,
e a
caldeirada
de
peixe
do
rio,
que
encontramos
principalmente,
em
Pedrógão
do
Alentejo.
Estes
pratos
podem
ser
bem
regados
com
os
famosos
vinhos
da
região.
A
existência
da
Vidigueira
como
povoação,
embora
provavelmente
de
reduzida
importância,
só
se
encontra
documentada
a
partir
de
meados
do
séc.XIII.
Adata
em
que
essa
povoação
terá
surgido
e a
forma
como
se
constituiu
não
são
possíveis
de
determinar
com
exactidão
pois
nenhum
documento
conhecido
no-lo
revela.
Porém,
já
em
relação
ao
espaço
actualmente
abrangido
pelo
concelho
de
Vidigueira
se
possuem
numerosos
dados,
sobretudo
de
natureza
arqueológica,
que
tornam
possivel
detectar
aí a
presença
humana
até
aos
tempos
pré-históricos
e
traçar
assim
um
panorama
da
evolução
histórica
desta
região.
Da
cultura
megalítica,
que
se
desenvolveu
especialmente
no
Alentejo
e no
sul
de
Espanha,
restam
ainda
vestígios
no
concelho
de
Vidigueira,
a
provar
que
esta
zona
foi
também
habitada
em
tempos
pré-históricos.
Na
herdade
da
Mangancha,
situada
entre
Vidigueira
e
Alcaria
da
Serra
foram
descobertas
duas
Antas,
conhecidas
pelos
nomes
de
Anta
da
Vinha
da
Mangancha
e
Anta
do
Alto
da
Mangancha,
ambas
bastante
deterioradas
e
conservando
já
só
alguns
dos
esteios.
Na
herdade
de
Corte
Serrão,
perto
de
Marmelar,
na
freguesia
de
Pedrógão
,
existem
outras
duas
que
distam
entre
si
cerca
de
200m.
A
ambas
faltam
alguns
esteios
e
nenhuma
apresenta
cobertura.
É
ainda
de
referir
o
Menir
de
Mac.
Abraão,
na
freguesia
de
Vila
de
Frades
cujo
estado
de
conservação
é
notável.
Todos
estes
vestígios
pré-históricos
e
outros
que
se
vão
descobrindo
denotam
a
importância
que
teve
esta
região,
sobretudo
no
período
neolítico,
e
fornecem
eloquente
testemunho
de
um
povoamento
que
se
estende
já
por
vários
milénios.
Desde
épocas
muito
recuadas,
o
clima
e as
riquezas
naturais
ofereceram
ao
homem
as
condições
necessárias
e
motivos
suficientes
de
atracção
para
que
ele
aqui
se
estabelecesse.
Igualmente
atraídos
por
estas
condições
também
os
Romanos
escolheram
esta
zona
para
aqui
fixarem
residência
durante
longo
tempo.
Do
que
se
refere
à
vida
rural
são
exemplos
típicos
e
extremamente
importantes
as
numerosas
villae,
grandes
explorações
agrícolas
disseminadas
por
todo
o
país,
e de
que
se
conhecem
bastantes
na
região
de
Beja.
No
concelho
de
Vidigueira,
merecem
especial
referência,
a
Villa
Romana
de
S.
Cucufate,
situada
na
freguesia
de
Vila
de
Frades
e a
Villa
Romana
do
Monte
da
Cegonha,
situada
na
freguesia
de
Selmes.
É no
reinado
de
D.Afonso
III,
que
se
encontram
as
primeiras
referências
à
vila
de
Vidigueira,
povoação
nessa
altura
provávelmente
de
pouca
importância,
pertencente
ao
termo
de
Beja.
O
primeiro
donatário
da
Vidigueira
foi
mestre
Tomé,
tesoureiro
da
Sé
de
Braga,
que
serviu
D.Afonso
III
com
grande
lealdade.
De
1304
a
1315,
segundo
testemunha
a
escritura
então
lavrada,
a
vila
de
Vidigueira
pertenceu
ao
rei
D.
Dinis
e em
1385,
D.
João
I
doou-a
ao
contestável
D.
Nuno
Álvares
Pereira.
Ao
que
parece
a
região
da
Vidigueira
nunca
teve
grande
importância
estratégica
ou
militar,
não
dispondo
por
isso
de
qualquer
fortaleza
notável.
Foi
sempre
uma
zona
essencialmente
agrícola,
tendo
como
cultura
predominante
a da
vinha
e
como
tal
adquiriu
notariedade.
Do
ano
de
1496
data
a
fundação
do
Convento
de
Nossa
Senhora
das
Relíquias,
pertencente
à
Ordem
do
Carmo
e
situado
na
Várzea
do
Zambujal,
onde,
segundo
a
tradição
a
Virgem
Maria
teria
aparecido
a
uma
pequena
pastora.
Este
convento
teve
grande
importância,
sendo
o
quarto
em
antiguidade,
da
província
Carmelita
de
Portugal.
Estando
a
vila
na
posse
da
Casa
de
Bragança,
D.Manuel
concedeu-lhe
foral
em 1
de
Junho
de
1512.
Sete
anos
após
a
concessão
do
foral,
por
carta
passada
em
Évora
a 29
de
Dezembro
de
1519,
D.Manuel
concede
a
D.Vasco
da
Gama,
almirante
da
Índia
o
título
de
conde
da
Vidigueira,
ficando
esta
vila
assim
ligada
ao
nome
de
tão
ilustre
argonauta.
A
Casa
da
Vidigueira,
fundada
por
Vasco
da
Gama,
continuou
nos
seus
descendentes
até
ao
nosso
século,
havendo
ainda
um
títular
mesmo
depois
da
proclamação
da
Republica.
A
ligação
da
vila
à
familia
dos
Gamas
levou
decerto
a
que
a
povoação
se
desenvolvesse
e a
que
o
seu
nome
ganhasse
prestígio
e
figurasse
na
enumeração
da
grande
nobreza
do
reino.
A
vida
religiosa
na
Vidigueira
parece
ter
sido
nestes
séculos
bastante
intensa,
o
que
levou
o
seu
segundo
conde
D.Francisco
da
Gama
a
fazer
aí a
apresentação
de
seu
filho
D.Manuel
da
Gama,
que
seguira
a
carreira
eclesiástica.
A
prosperidade
da
vila
e do
seu
concelho
era
devida
sem
duvida
à
actividade
agrícola.
O
predomínio
era
da
pequena
propriedade,
de
entre
outras
culturas
sobressaiam
as
da
vinha
e da
oliveira,
tal
como
as
hortas
e os
pomares.
Além
disso,
os
vinhos
da
Vidigueira
já
então
eram
famosos,
o
que
decerto
se
exprimiria
na
sua
procura
e
nas
condições
de
venda.
Ao
tempo
de
D.
João
II (
Séc.
XV )
era
frequente
a
aquisição
de
vinhos
alentejanos
por
comerciantes
bretões,
e no
séc.
XVI
não
eram
raras
as
partidas
de
galeões
carregados
de
vinho
desta
região
com
destino
ao
oriente.
No
séc.
XIX,
Vidigueira,
Vila
de
Frades,
Cuba
e
Alvito
fazem
parte
da
7ª
região
vinícola
do
país.
No
certame
de
Berlim
de
1888
" o
vinho
branco
da
Quinta
das
Relíquias
do
expositor
Visconde
da
Ribeira
Brava
da
Vidigueira,
obteve
um
prémio
de
honra
pelo
seu
vinho
", a
maior
distinção
da
época
atribuída
a um
vinho.
Hoje,
e
dando
continuidade
à
tradição
os
vinhos
desta
região
continuam
a
receber
prémios
e
menções
honrosas
nas
feiras
e
certames
onde
participam.
Possuidor
de
uma
notável
riqueza
histórica
com
mais
de
5000
anos,
o
concelho
de
Vidigueira,
encontra-se
actualmente
numa
fase
de
pleno
desenvolvimento,
mantendo
contudo
bem
vivas
todas
as
suas
tradições.
LOCAIS
DE
INTERESSE
HISTÓRICO
Torre
do
relógio
Construção
antiga
mas
de
data
ignorada.
De
planta
quadrangular,
construída
em
alvenaria
com
cunhais
aparelhados
em
granito.
O
relógio
é
composto
por
três
grandes
mostradores
circulares
de
mármore
branco
e de
numeração
romana.
Sobreposto
a
este
está
um
terraço,
onde
existe
um
lanternim-campanário
de
quatro
olhais.
A
guarita
ou
coruchéu,
alberga
um
sino
oferecido
por
Vasco
da
Gama
na
era
de
1520,
como
prova
a
inscrição.
Cascata
Armoriada
Edificada
em
1981.
Esta
é
revestida
de
pequenas
rochas
marinhas,
encimada
por
um
obelisco
de
mármore,
de
forma
octagonal,
seccionado
e
liso.
Tem
na
base
folhas,
florões
e
singelas
urnas
estilizadas
e
esculpido
o
brasão
da
Vidigueira.
Estátua
de
Vasco
da
Gama
Inaugurada
em
1970,
esta
estátua
de
bronze
assente
em
plinto
de
granito,
do
glorioso
descobridor
do
caminho
marítimo
para
a
Índia
encontra-se
no
centro
do
largo
com
o
mesmo
nome.
Praça
da
República
Esta
praça
tem
sobretudo
merecimento
arquitectónico
na
face
norte,
constituida
por
alguns
edifícios
ancestrais
que,
apesar
dos
volumes
diferenciados,
merece
ser
conservada
estruturalmente.
Castelo
-
Paço
dos
Condes
da
Vidigueira
-
Torre
de
Menagem
Conhecida
popularmente
como
castelo,
terá
a
sua
origem
no
séc.XV.
Desta
residência
fortificada
dos
Gamas,
resta
apenas
a
Torre
de
Menagem
que
serve
como
miradouro,
de
onde
se
avista
uma
magnífica
paisagem
urbana
da
Vidigueira
e de
Vila
de
Frades,
tal
como
dos
campos
que
a
envolvem.
Na
frente
da
torre
encontra-se
o
escudo
das
armas
dos
gamas
esculpido
em
mármore
branco.
Junto
à
Torre
de
Menagem
colocou-se
uma
janela
Manuelina,
encontrada
em
Vila
de
Frades.
Esta
é
formada
por
elegantes
arcos
de
querena,
de
chanfraduras
golpeadas
e
recobertas
por
placas
florícolas
de
relevo.
Paços
do
Concelho
O
edifício
foi
recuperado
no
séc.XVIII.
Este
mantém
na
fachada
o
aspecto
original,
rasgado
por
uma
galeria
de
oito
arcos
de
volta
inteira.
O
piso
superior
suporta
na
frente
,
sete
balcões
de
sacada,
fechados
por
grades
de
ferro
forjado.
A
beleza
deste
edifício
é
por
si
só
motivo
suficiente
para
uma
passagem
por
esta
praça.
Igreja
de
S.
Francisco
(
Séc.XVIII
)
Foi
construida
em
1732,
e é
hoje
a
igreja
paroquial.
Por
cima
do
portal
encontra-se
uma
lápide
de
mármore
branco,
com
uma
inscrição
dedicada
a S.
Francisco.
A
imagem
de
N.ª
Sr.ª
das
Relíquias,
de
roca,
com
vestes
primaveris
e
formosa
coroa
de
prata,
colocada
no
altar-mor
é
uma
das
peças
mais
valiosas
desta
igreja.
Aqui
encontram-se
também
uma
imagem
do
menino
Tobias
e a
réplica
da
de
S.
Rafael,
visto
a
original
ter
sido
levada
para
o
Museu
da
Marinha
em
Lisboa.
Igreja
da
Misericórdia
(
Séc.XVI
)
Foi
erigida
em
1592
e
reedificada
em
1688,
após
um
incêndio
ocorrido
no
ano
precedente.
A
capela-mor
desta
igreja
é
magnífica
e os
valores
artísticos
que
aí
se
encontram
são
dos
mais
notáveis
do
concelho.
O
seu
interior
é de
uma
só
nave
e
possui
três
altares
com
retábulos
de
talha
dourada.
Os
laterais
dão
hoje
pelas
designações
de
N.ª
Sr.ª
das
Brotas
e
N.ª
Sr.ª
do
Livramento,
de
estilo
barroco
nacional,
com
duas
colunas
salomónicas,
de
capitéis
coríntios,
revestidos
de
elementos
marianos,
aves,
parras
e
uvas.
O
altar
mantém
nos
alçados,
interrompidos,
dois
painéis
de
azulejos
historiados,
de
azul
e
branco,
representando
cenas
mitológicas
e
bíblicas,
além
de
um
painel
com
um
pavão.
Ermida
de
S.
Rafael
(Séc.XVIII)
Associada
à
veneração
de
S.
Rafael,
esta
ermida
foi
mandada
edificar
por
D.
Francisco
da
Gama,
4º
conde
da
Vidigueira,
para
aí
ser
colocada
a
imagem
deste
santo
que
acompanhou
Vasco
da
gama
à
Índia.
É
uma
construção
de
planta
quadrada
e
arquitectura
simples.
Foi
restaurada
duas
vezes
pela
Câmara
Municipal.
Presentemente
o
interior
desta
ermida
encontra-se
vazio
e a
imagem
de
S.
Rafael,
que
aí
permaneceu
cerca
de
dois
séculos,
está
patente
ao
público
no
Museu
da
Marinha.
Ermida
de
S.
Pedro
(Séc.XVII
)
Esta
ermida
é um
verdadeiro
miradouro,
que
oferece
aos
visitantes
uma
panorâmica
encantadora.
Situada
no
cimo
de
uma
coluna
sobranceira
à
vila,
é um
local
ideal
para
romarias
e
festejos
populares
de
diversa
ordem.
A
sua
origem
não
está
ligada
à
história,
nem
a
qualquer
lenda,
mas
sim
à
popularidade
que
S.
Pedro
tinha
entre
as
gentes
simples
deste
concelho.
Ermida
de
Santa
Clara
(
Séc.XVI
)
Do
conjunto
das
cinco
ermidas
existentes
em
redor
da
Vidigueira,
a
mais
antiga
é a
Ermida
de
Santa
Clara,
de
traça
manuelina.
Mandada
construir
em
1555
pelo
2º
conde,
D.
Francisco
da
Gama,
dizem
as
"vozes
lendárias
",
que
terá
sido
aí a
primeira
igreja
matriz
da
povoação,
um
facto
porém
não
comprovado.
Sempre
ligada
a
lendas
e
milagres,
esta
ermida
foi
um
lugar
de
romaria,
muito
venerada
pelas
gentes
da
Vidigueira.
Com
agradável
vista
sobre
a
Vidigueira,
o
caminho
que
conduz
até
lá,
entre
vinhas
e
oliveiras
antigas,
é a
possibilidade
de
desfrutar
a
envolvência
mediterrânica
destas
terras
do
Alentejo.
A
ermida
encontra-se
em
deficiente
estado
de
conservação,
aguardando
uma
intervênção
de
restauro.
Antigo
Convento
de
Nossa
Senhora
das
Relíquias
(
Quinta
do
Carmo
)
O
Convento
de
Nossa
Senhora
das
Relíquias
já
de
há
muito
que
não
existe,
pois
foi
extinto
quando
da
abolição
das
ordens
religiosas
em
1834.
Mas
o
edifício
onde
esteve
instalado
esse
convento
ainda
hoje
se
conserva,
embora
adaptado
a
casa
de
habitação,
e os
terrenos
que
lhe
estão
adstritos
constituem,
já
desde
o
século
passado,
a
Quinta
do
Carmo,
designação
derivada
do
nome
da
ordem
a
que
pertenciam
os
frades
que
aí
tiveram
residência.
Na
igreja
do
convento
estiveram
depositados
os
restos
mortais
de
Vasco
da
Gama
cerca
de
três
séculos
e
meio.
A
fundação
do
convento
nos
finais
do
século
XV
está
ligada
à
tradição
do
milagre
de
Nossa
Senhora
das
Relíquias
e da
sua
aparição
no
sitio
da
Várzea,
situado
a
pouco
mais
de
um
quilometro
da
Vidigueira.
Testemunha
de
um
passado
memorável
e
vitima
da
incontância
dos
tempos,
o
antigo
Convento
de
Nossa
Senhora
das
Relíquias
é o
monumento
mais
prenhe
de
história
do
concelho
de
Vidigueira.
Visto
de
longe,
o
vulto
da
igreja,
ou
do
que
foi
a
igreja
do
mosteiro,
ainda
se
eleva
acima
do
arvoredo
circundante,
que
hoje,
porém
cobre
a
maior
parte
da
fachada
do
antigo
templo.
(
Propriedade
Particular
)
Trabalho e pesquisa de
Carlos Leite Ribeiro –
Marinha Grande -
Portugal
|
|

Envie
esta Página aos Amigos:



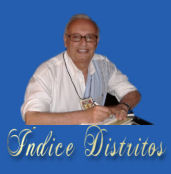


Por favor, assine o Livro de Visitas:

Todos os direitos reservados a
Carlos Leite Ribeiro
Página criado por Iara Melo
http://www.iaramelo.com
|